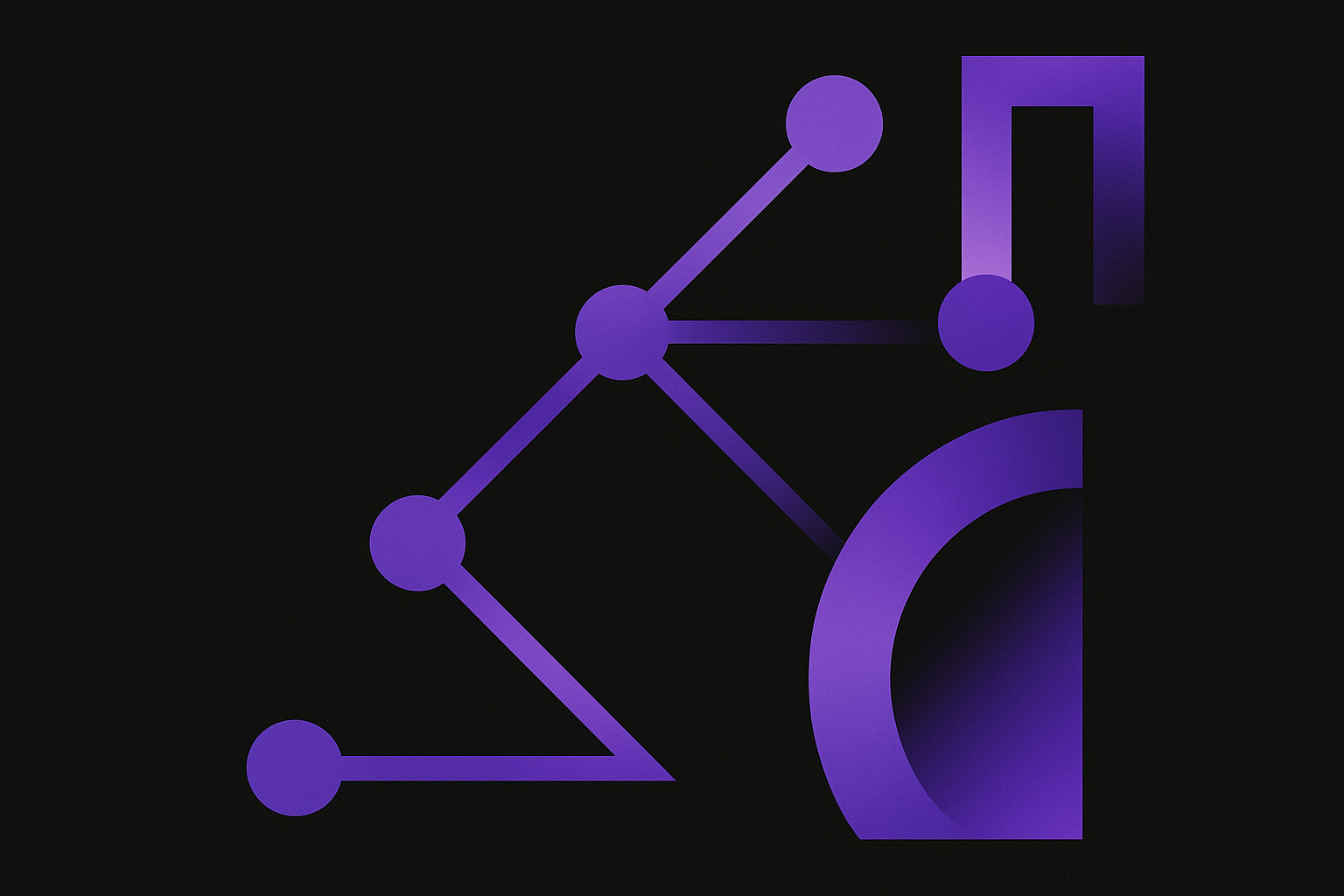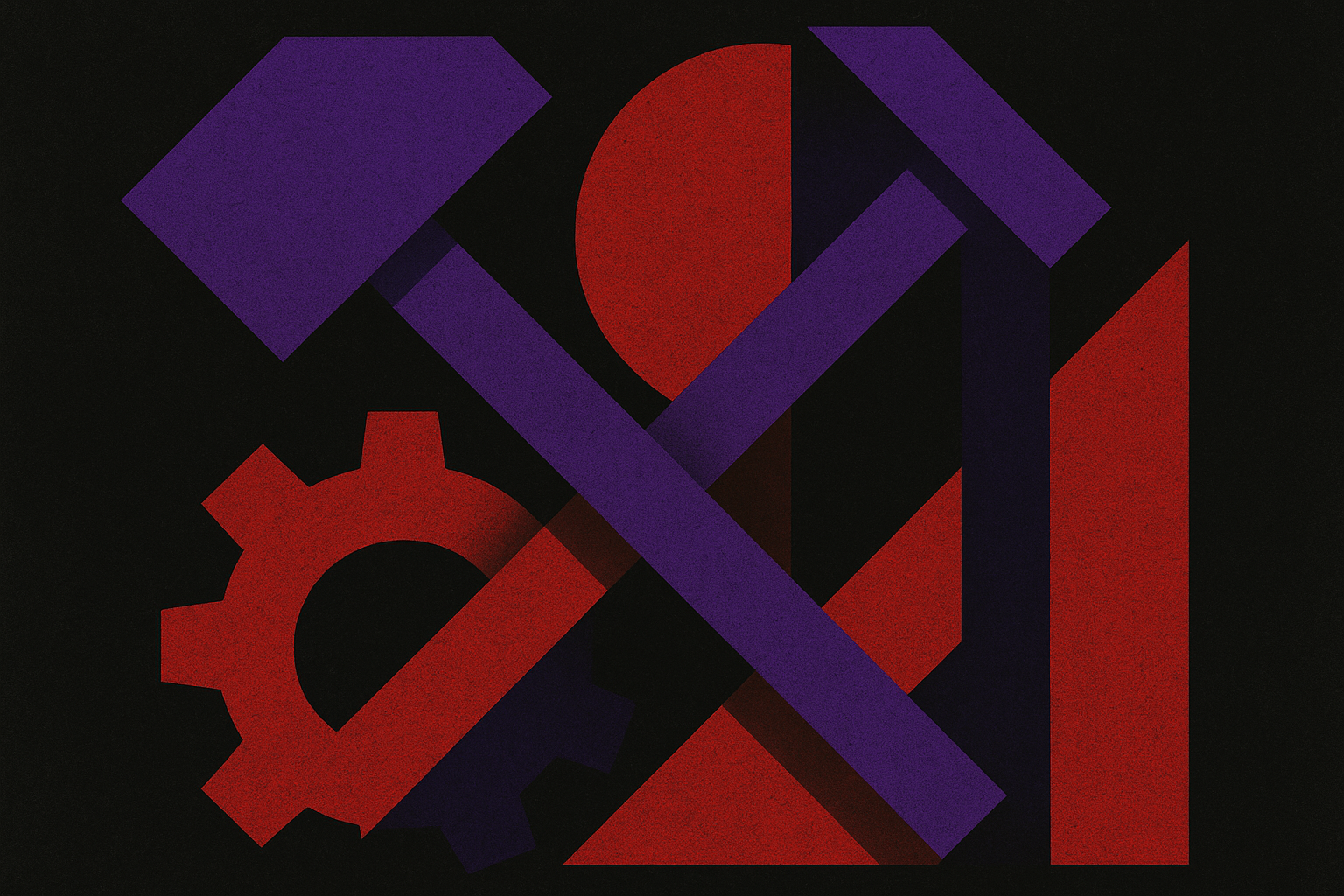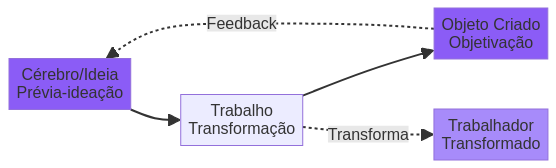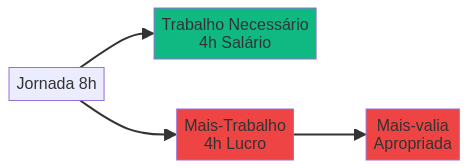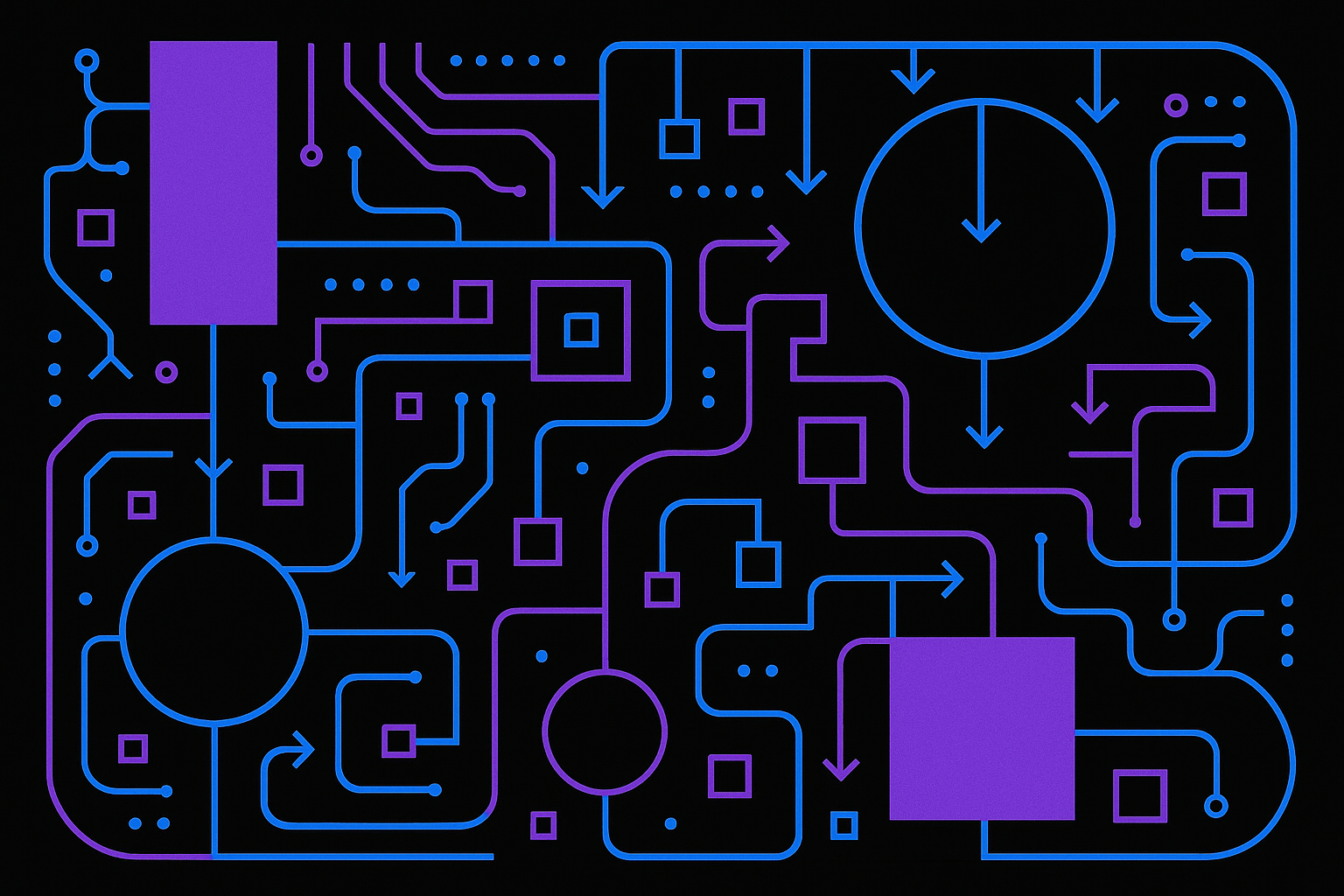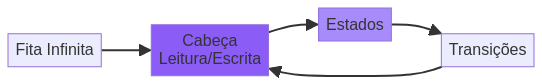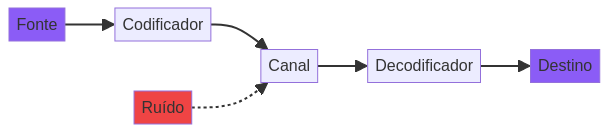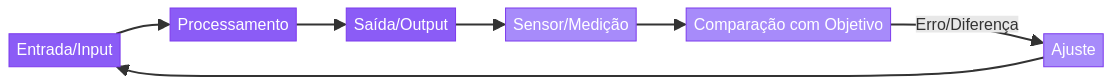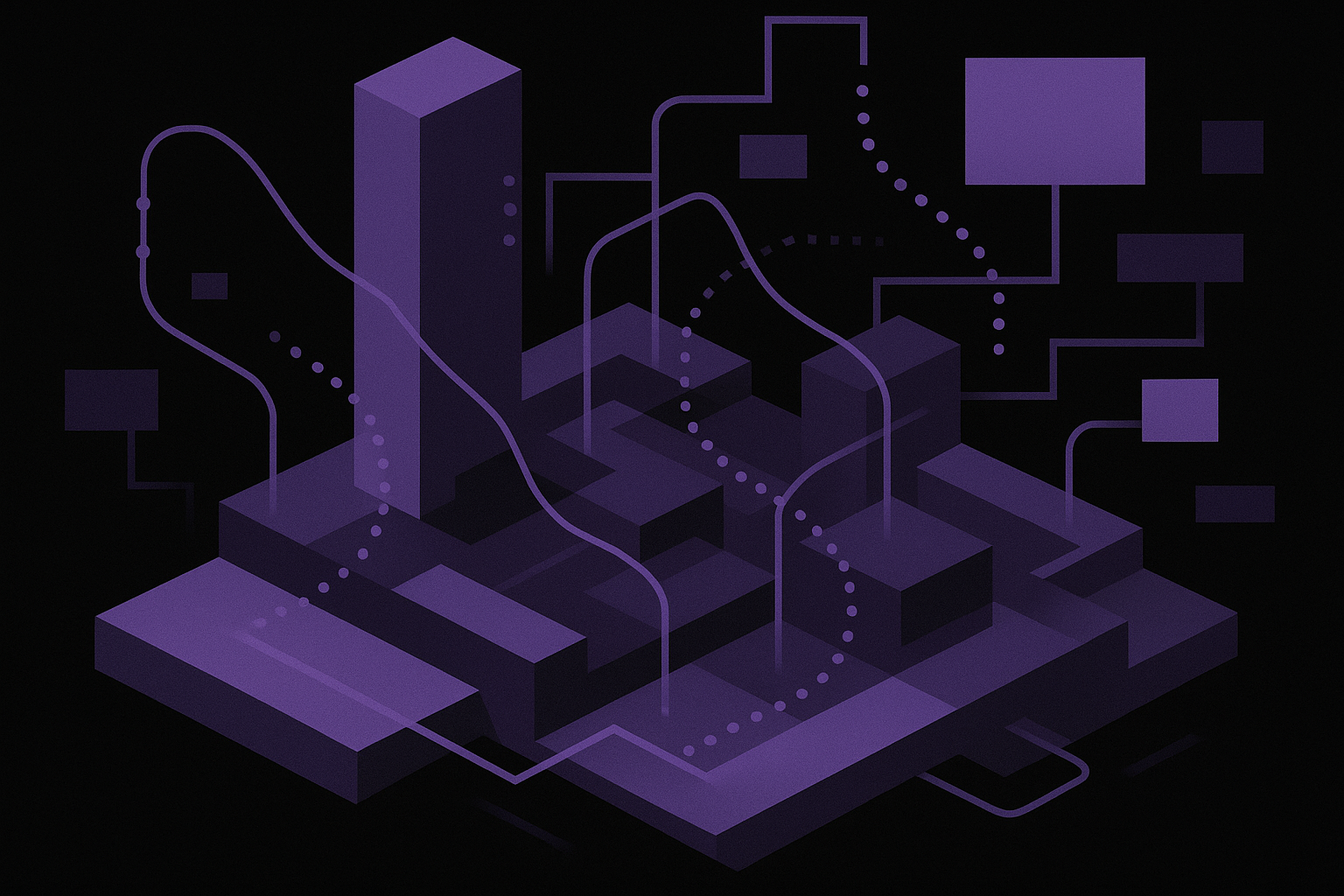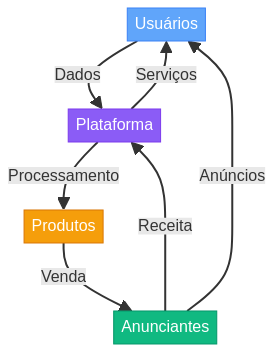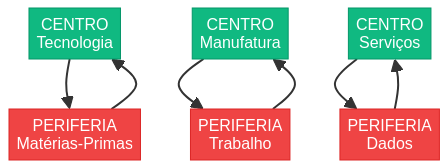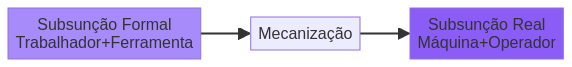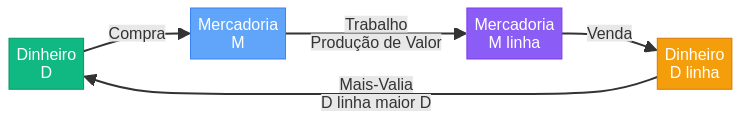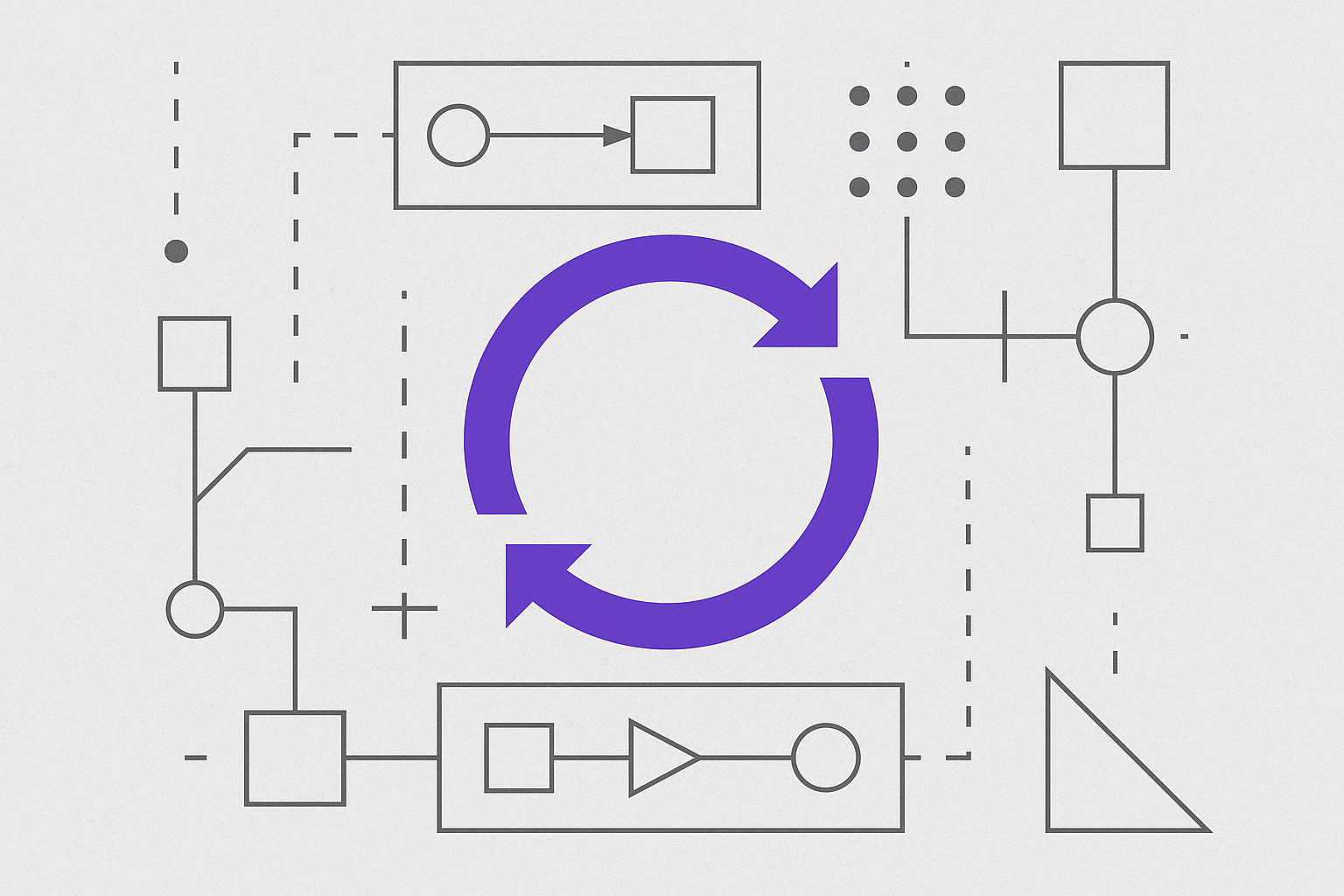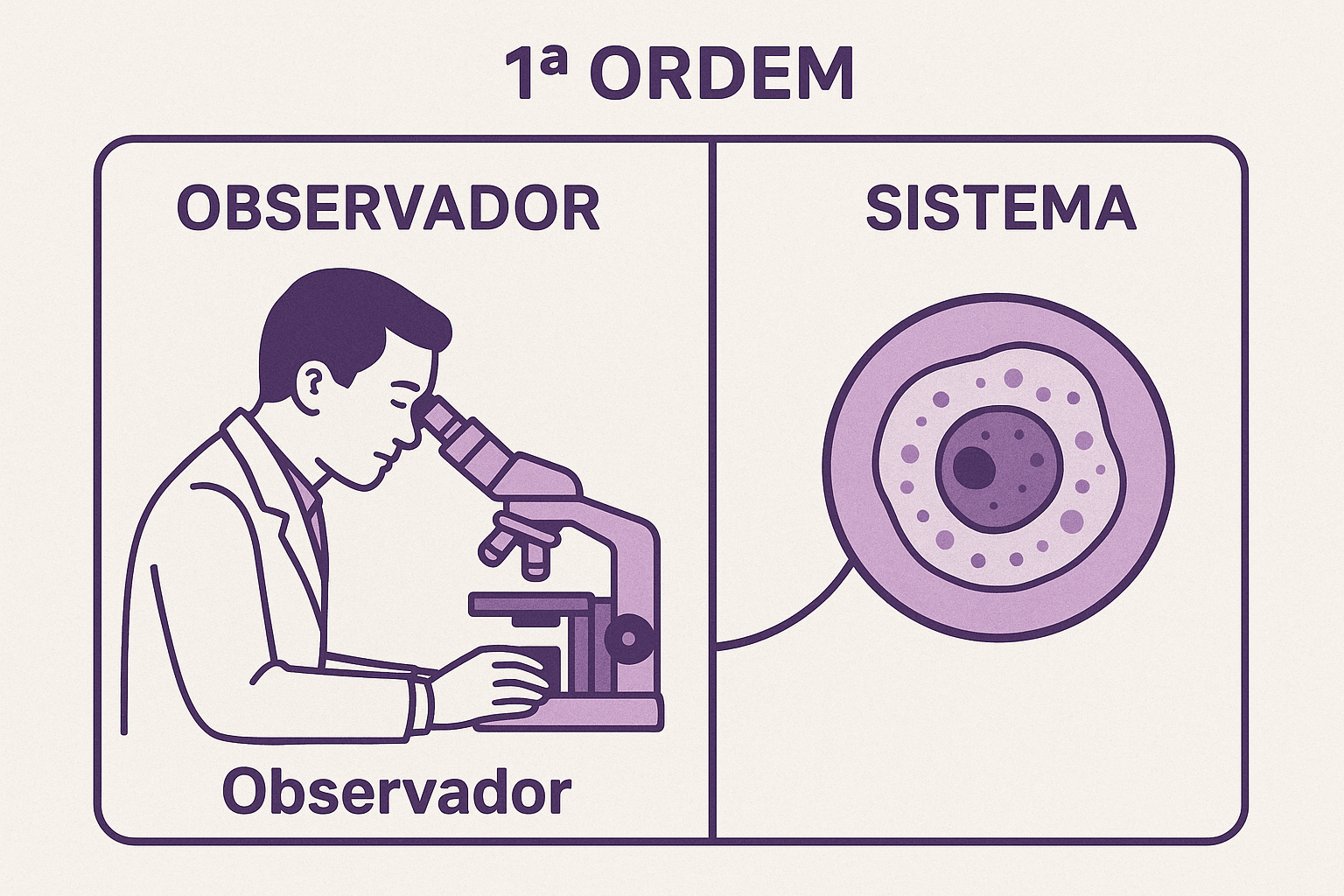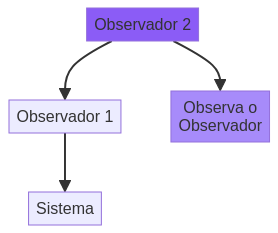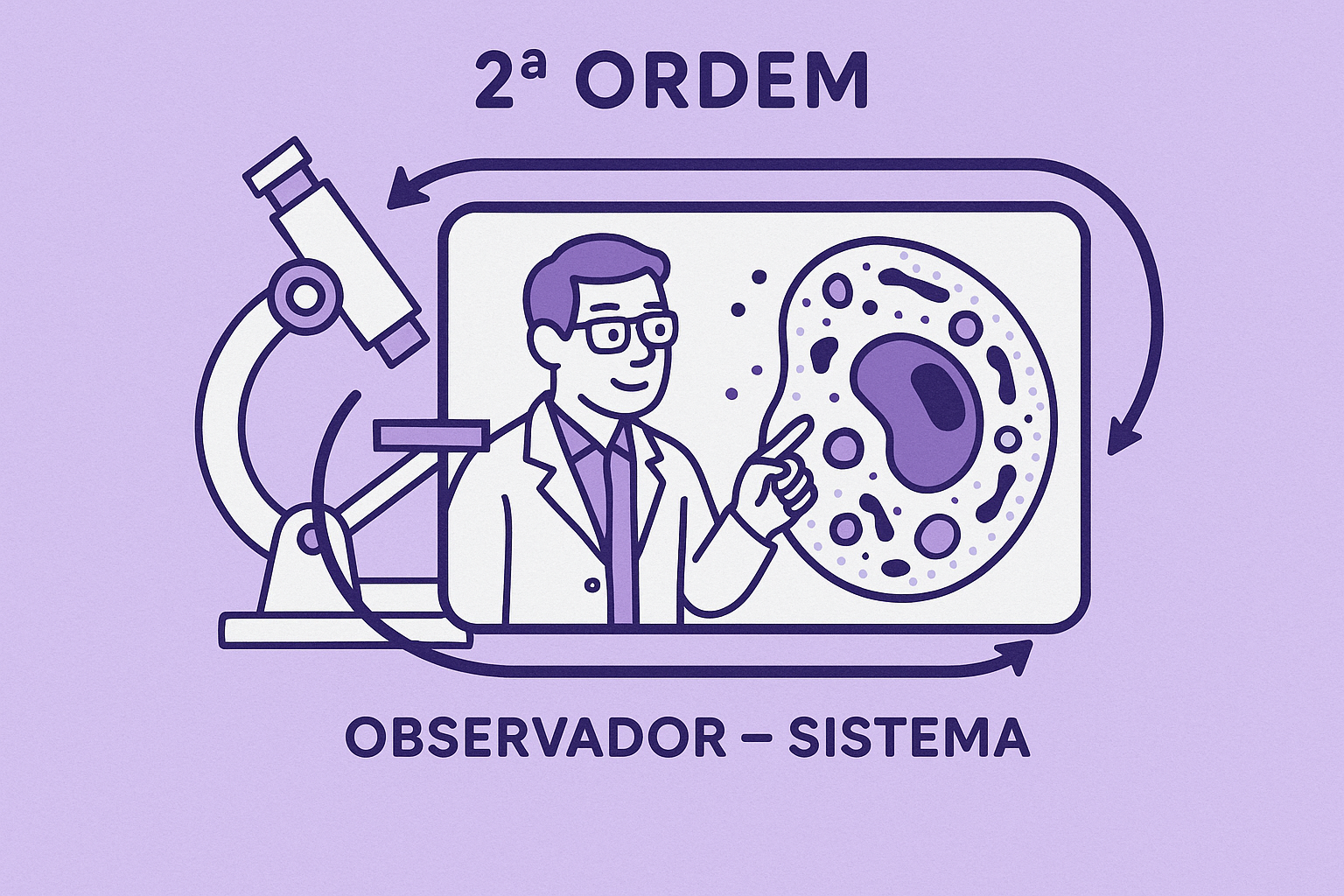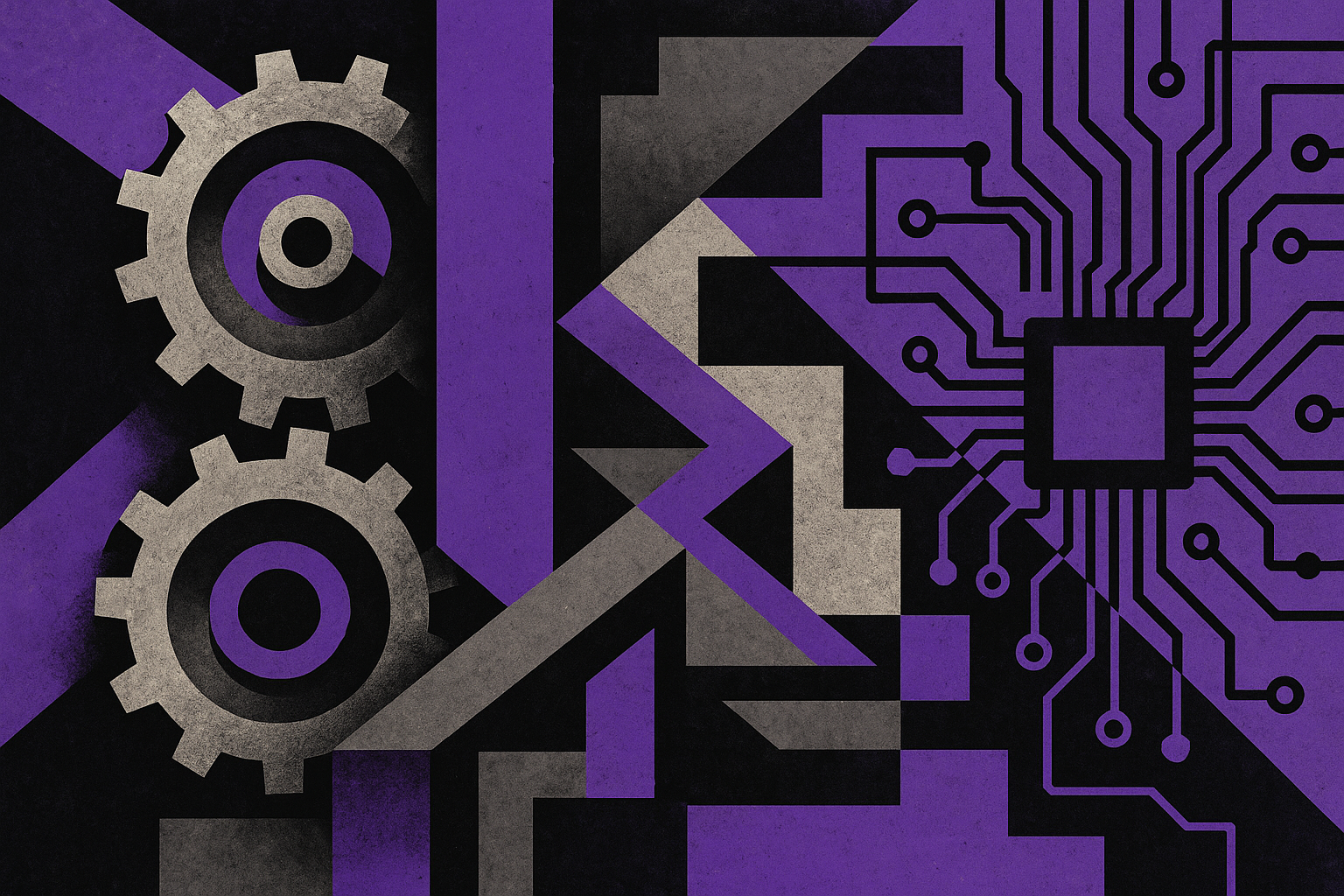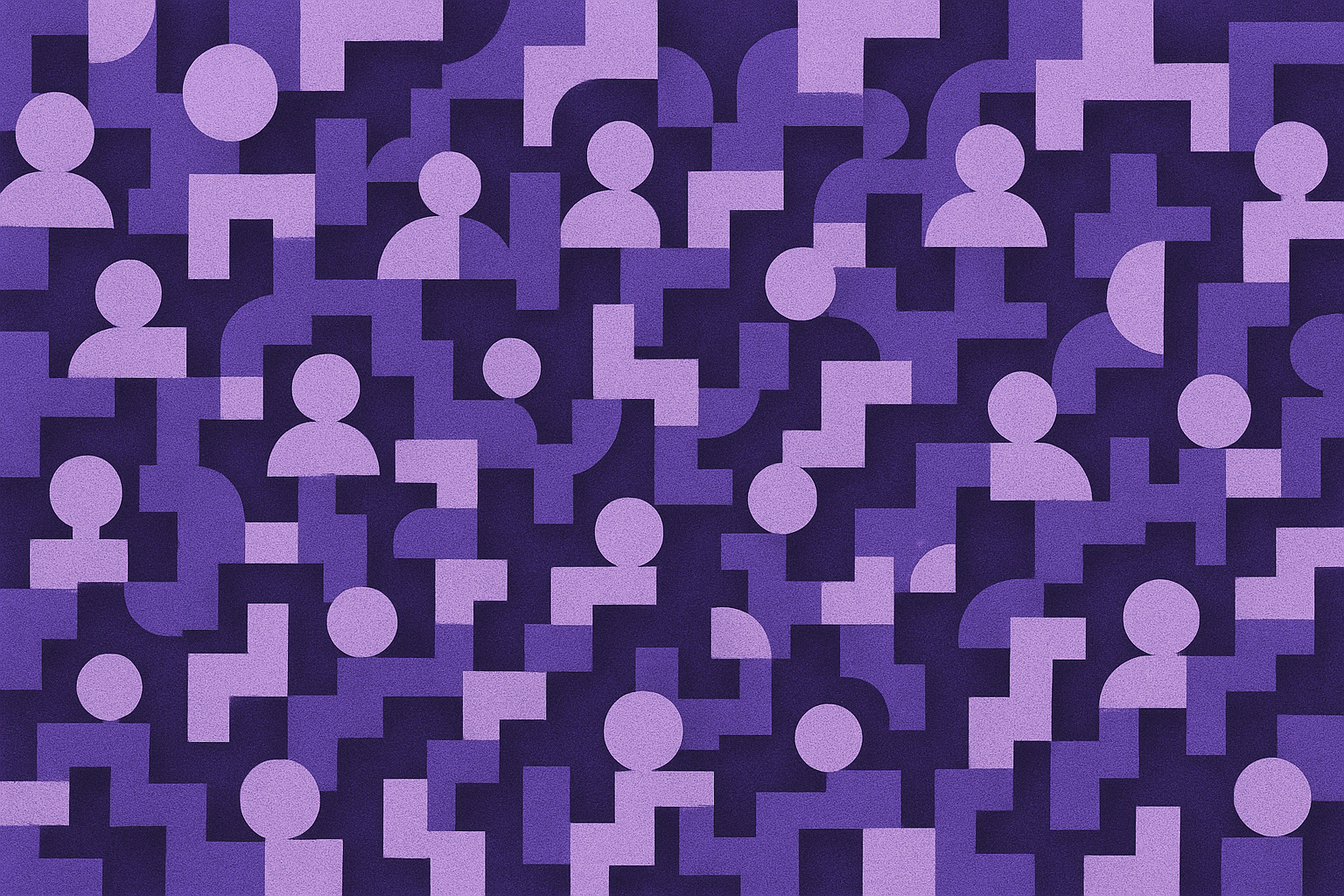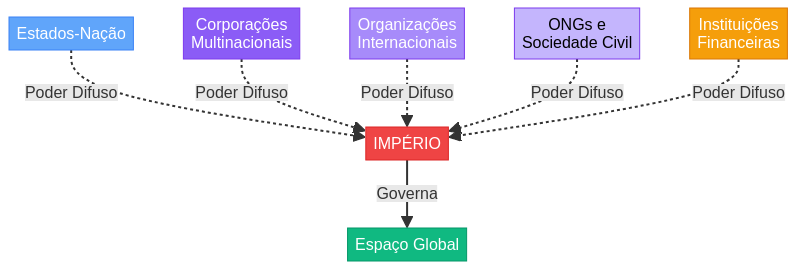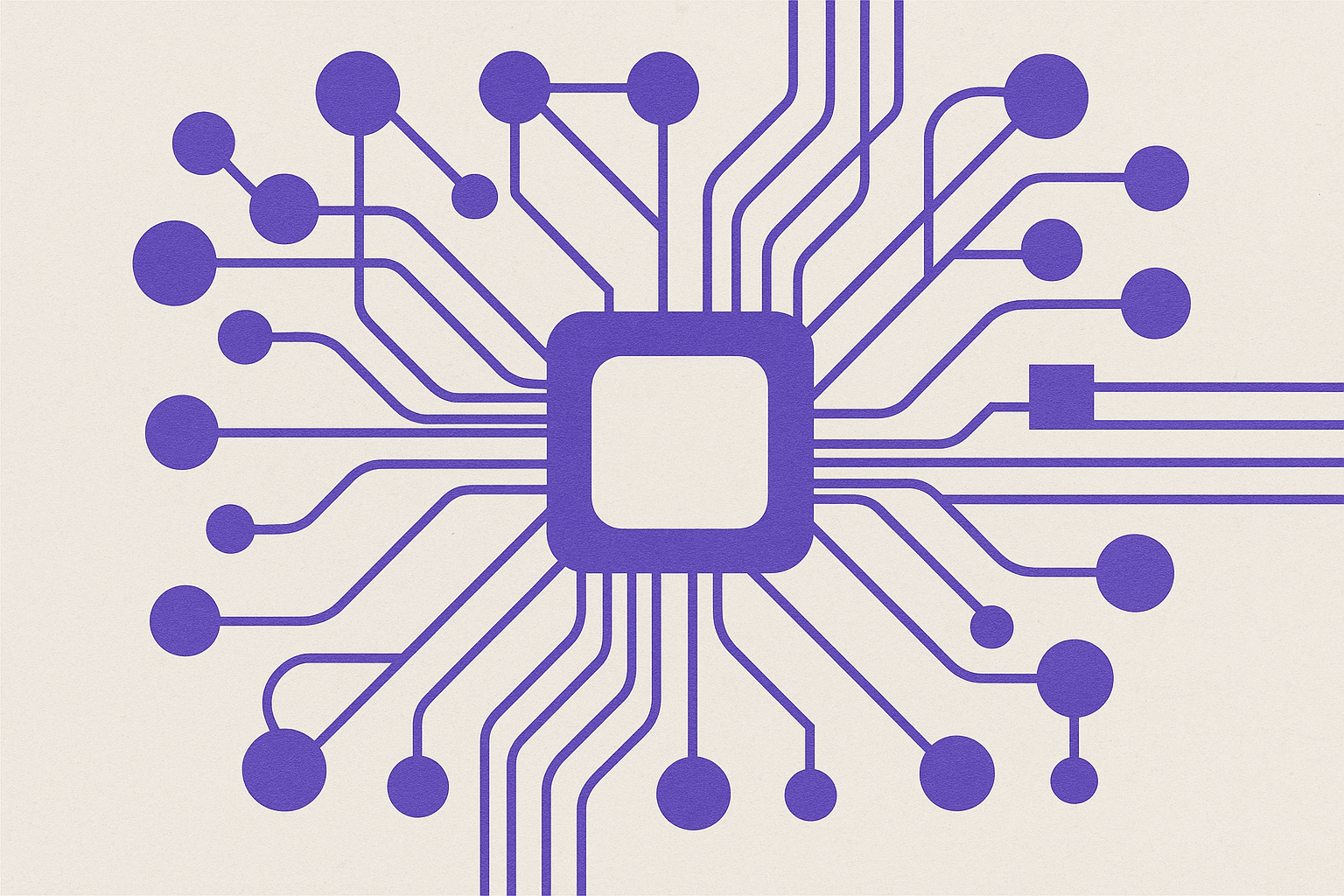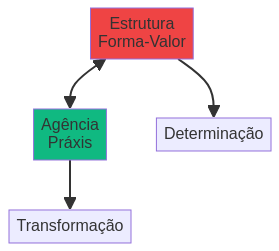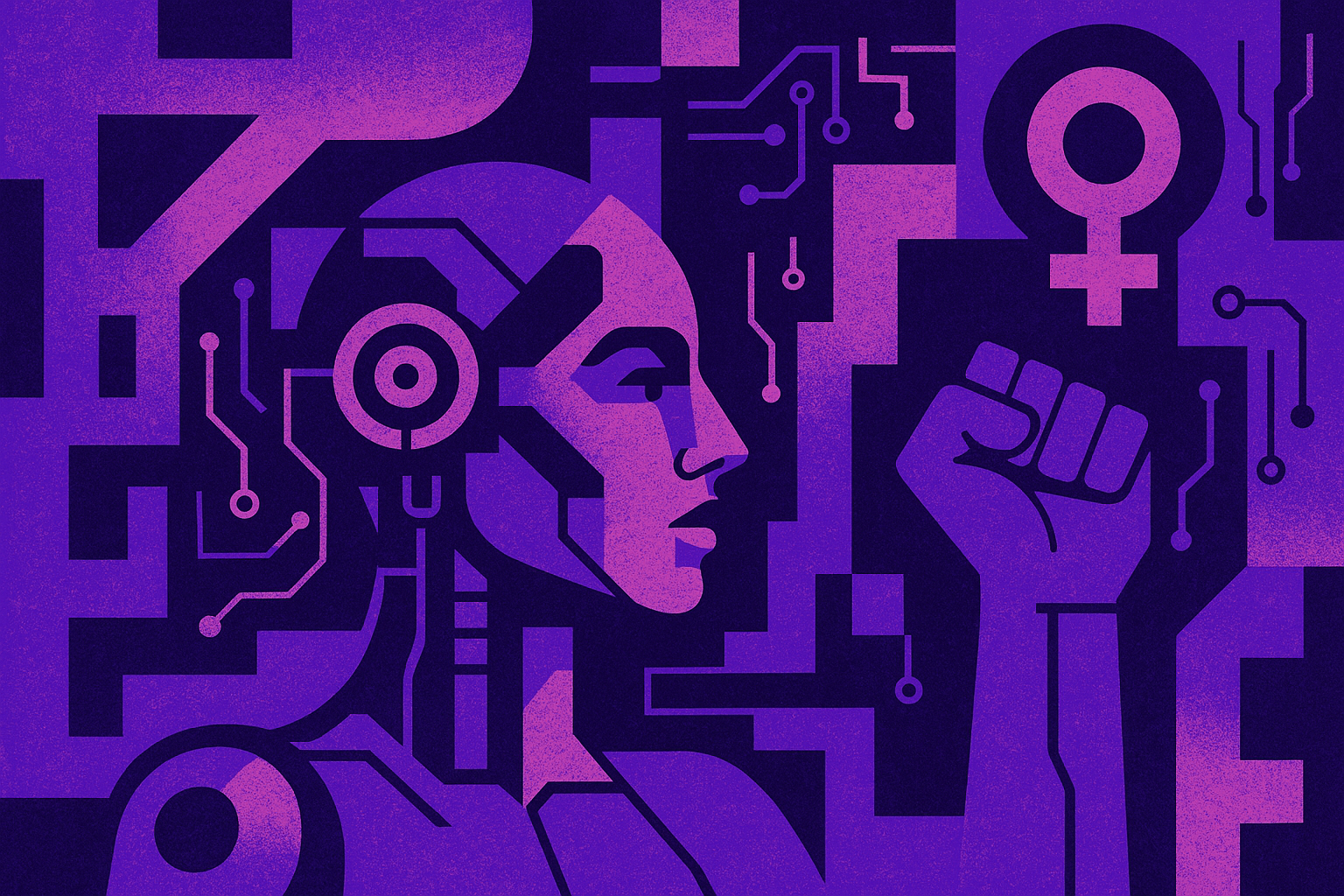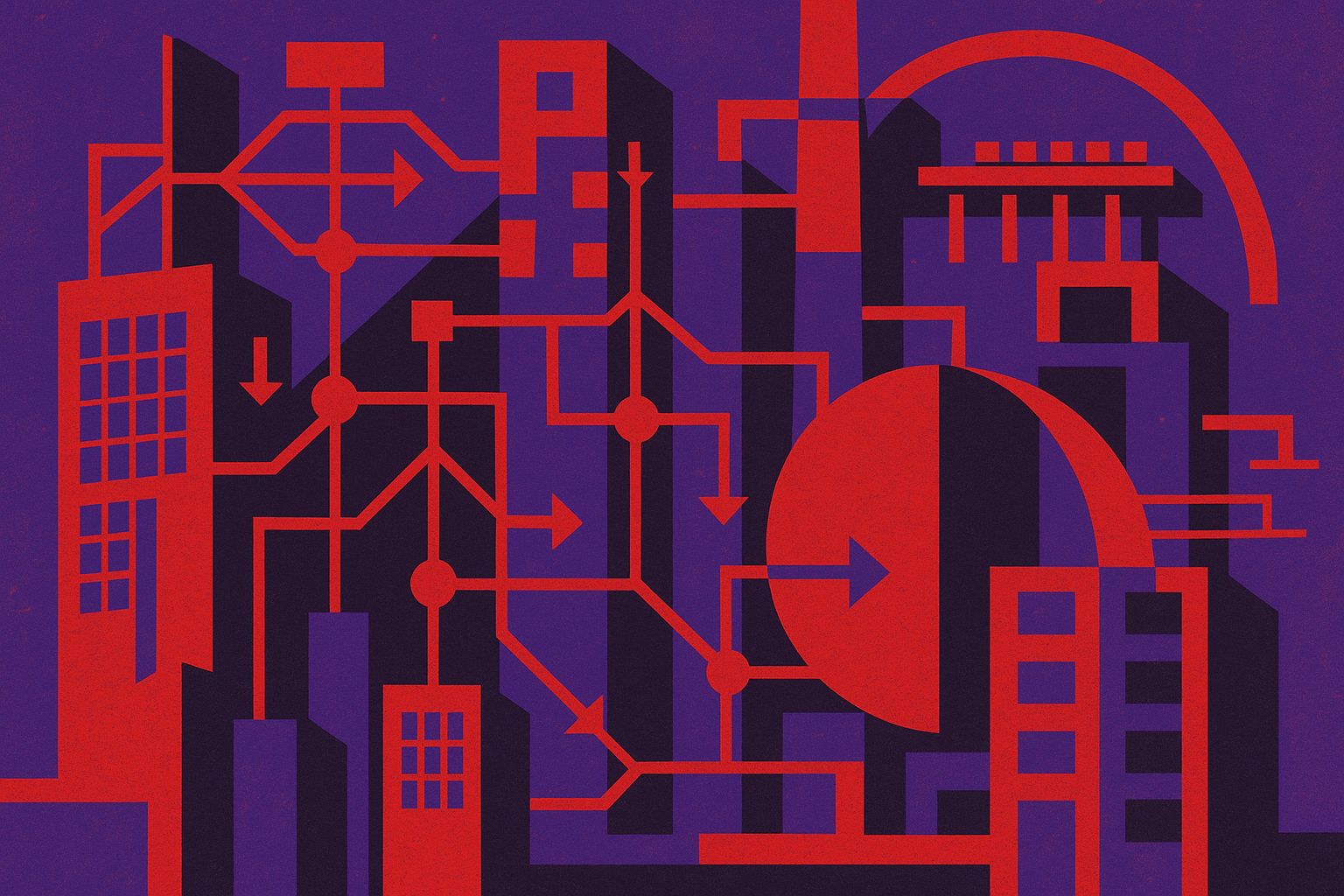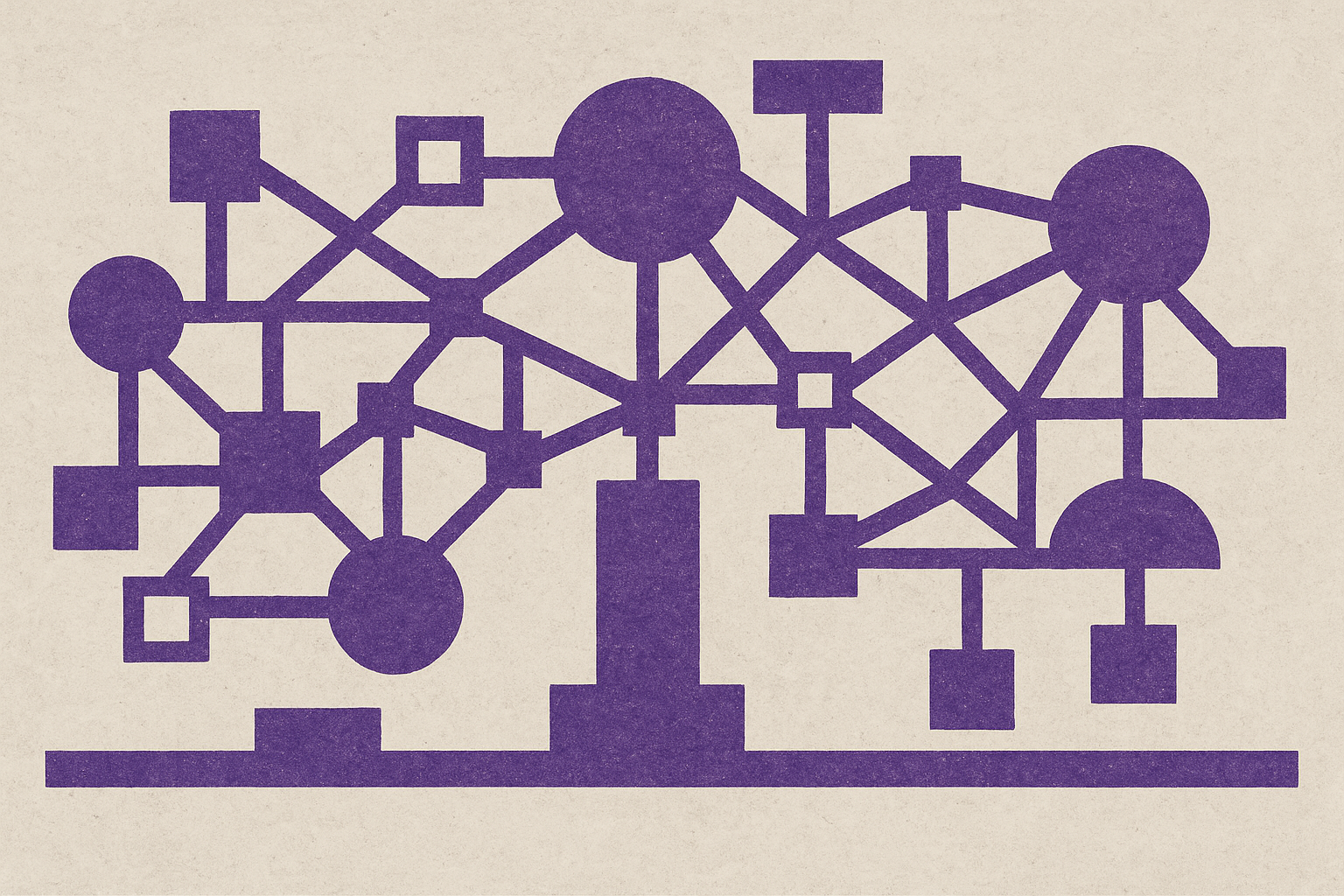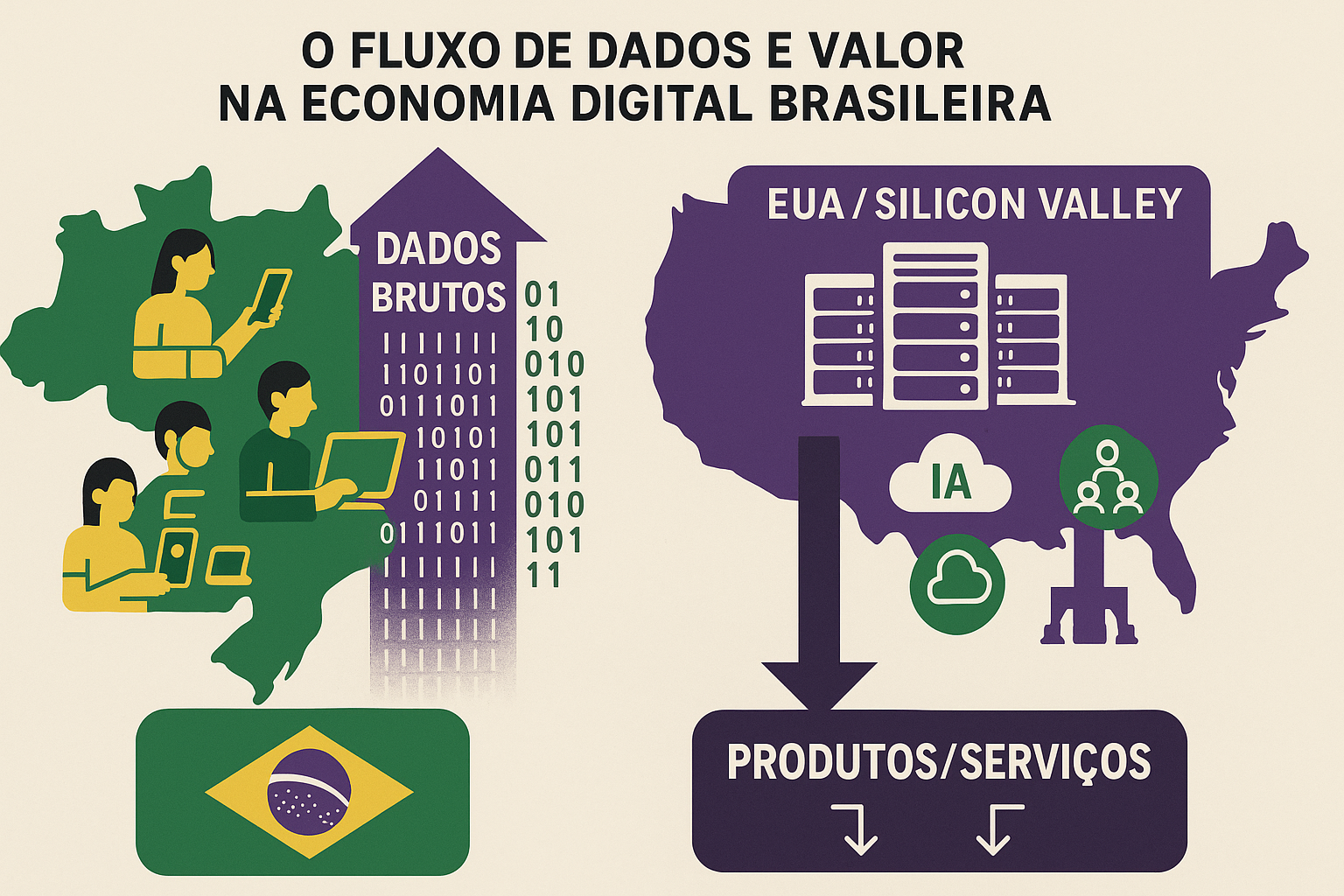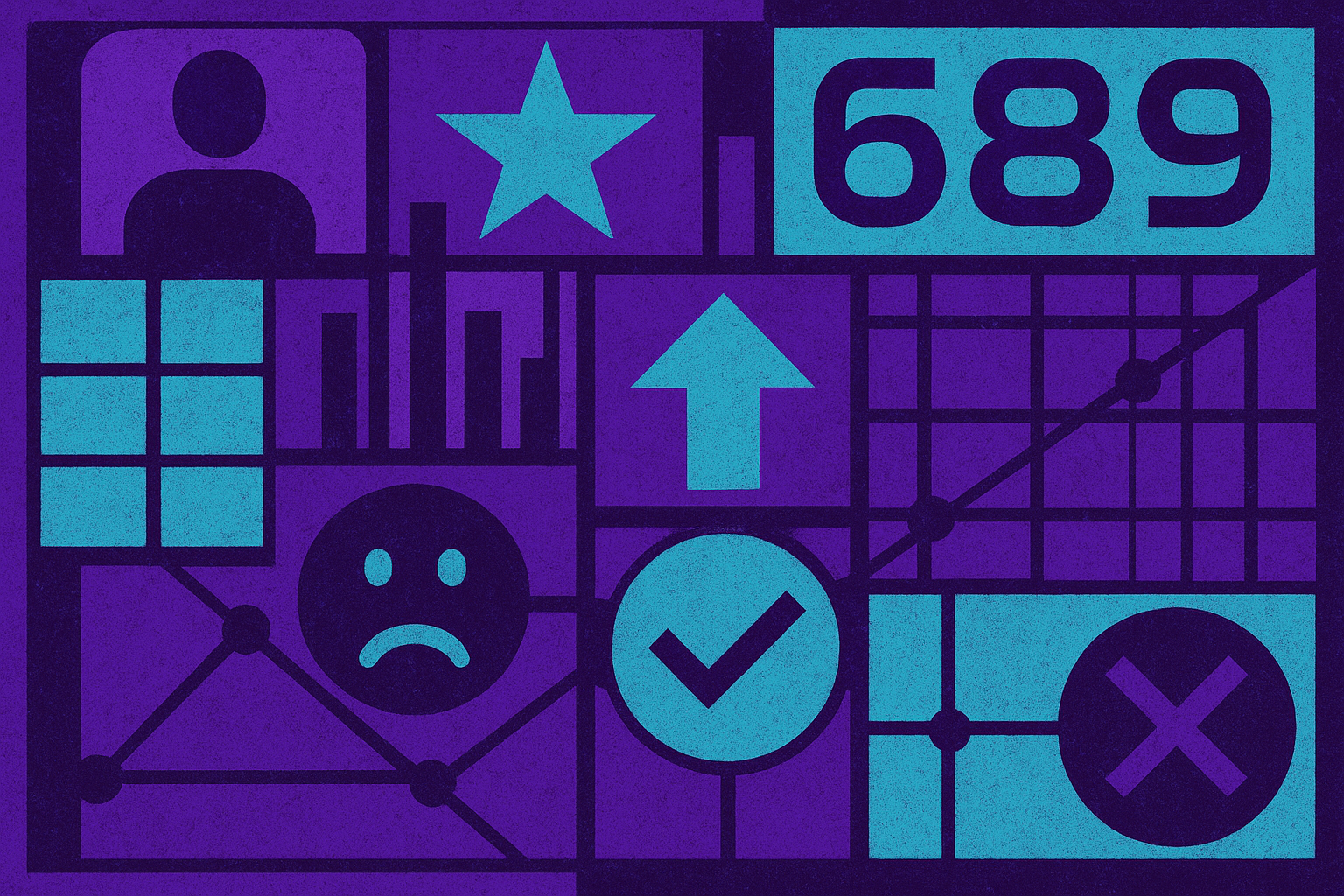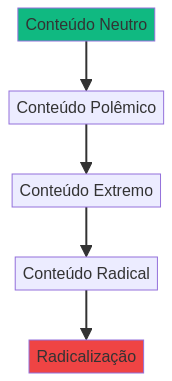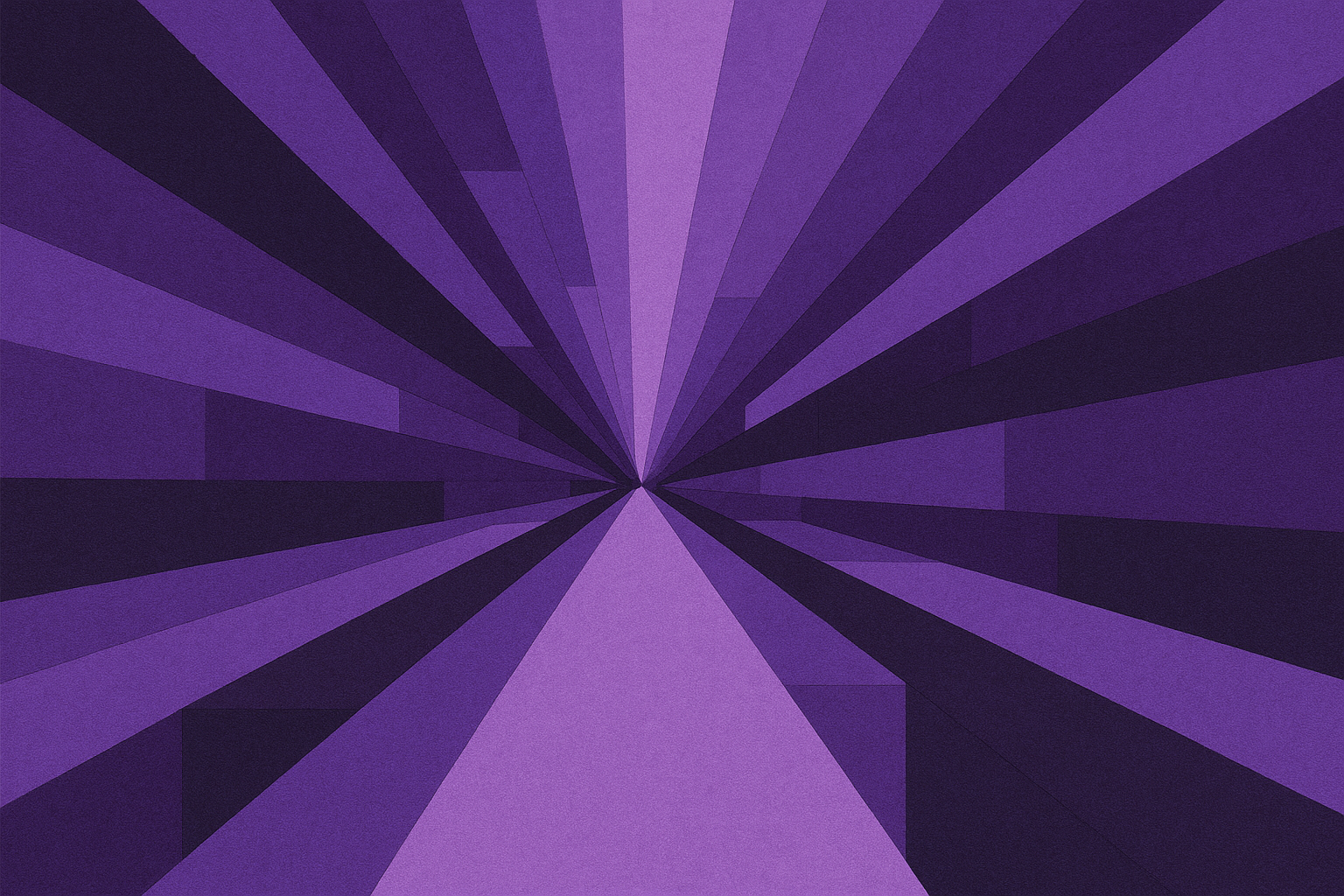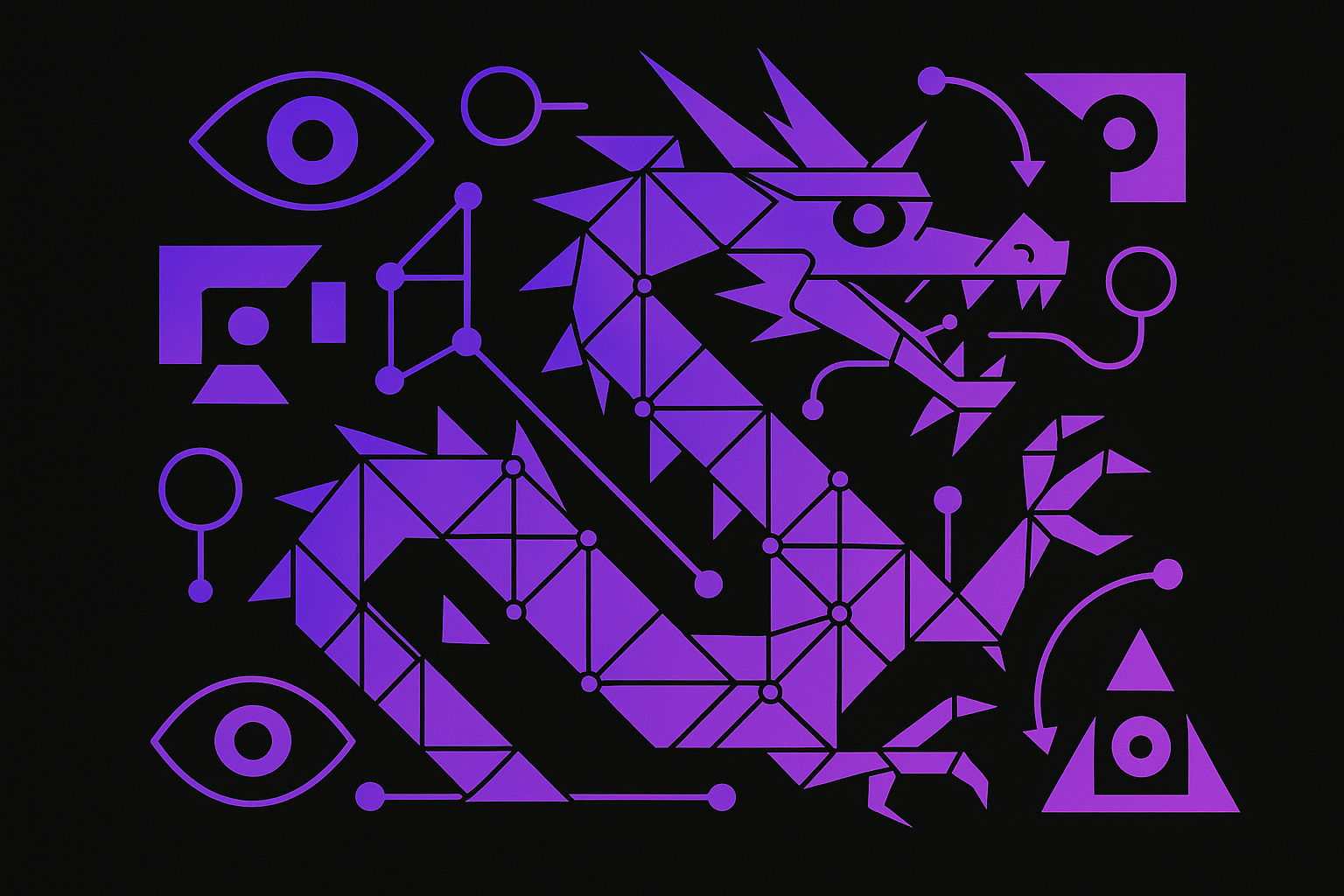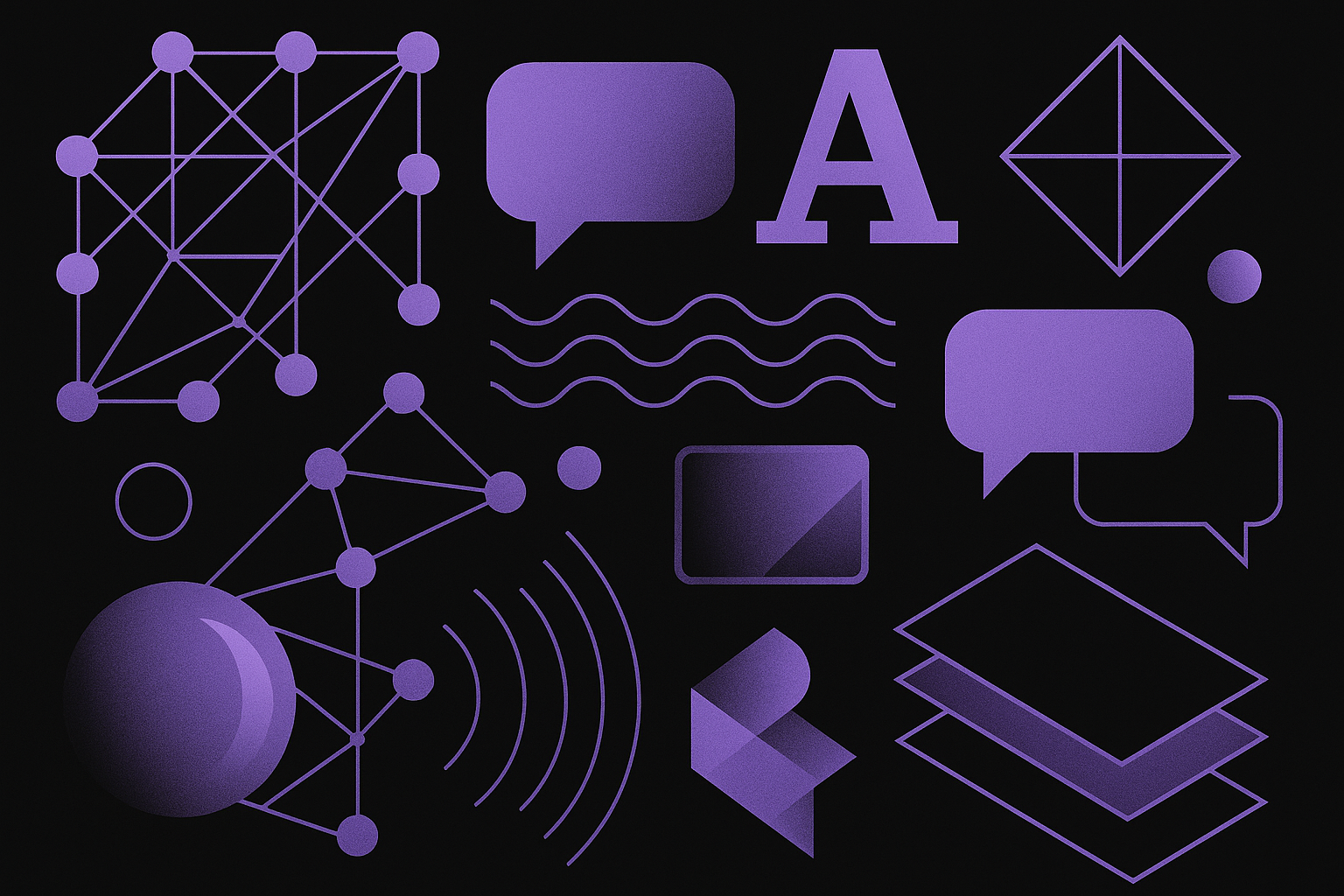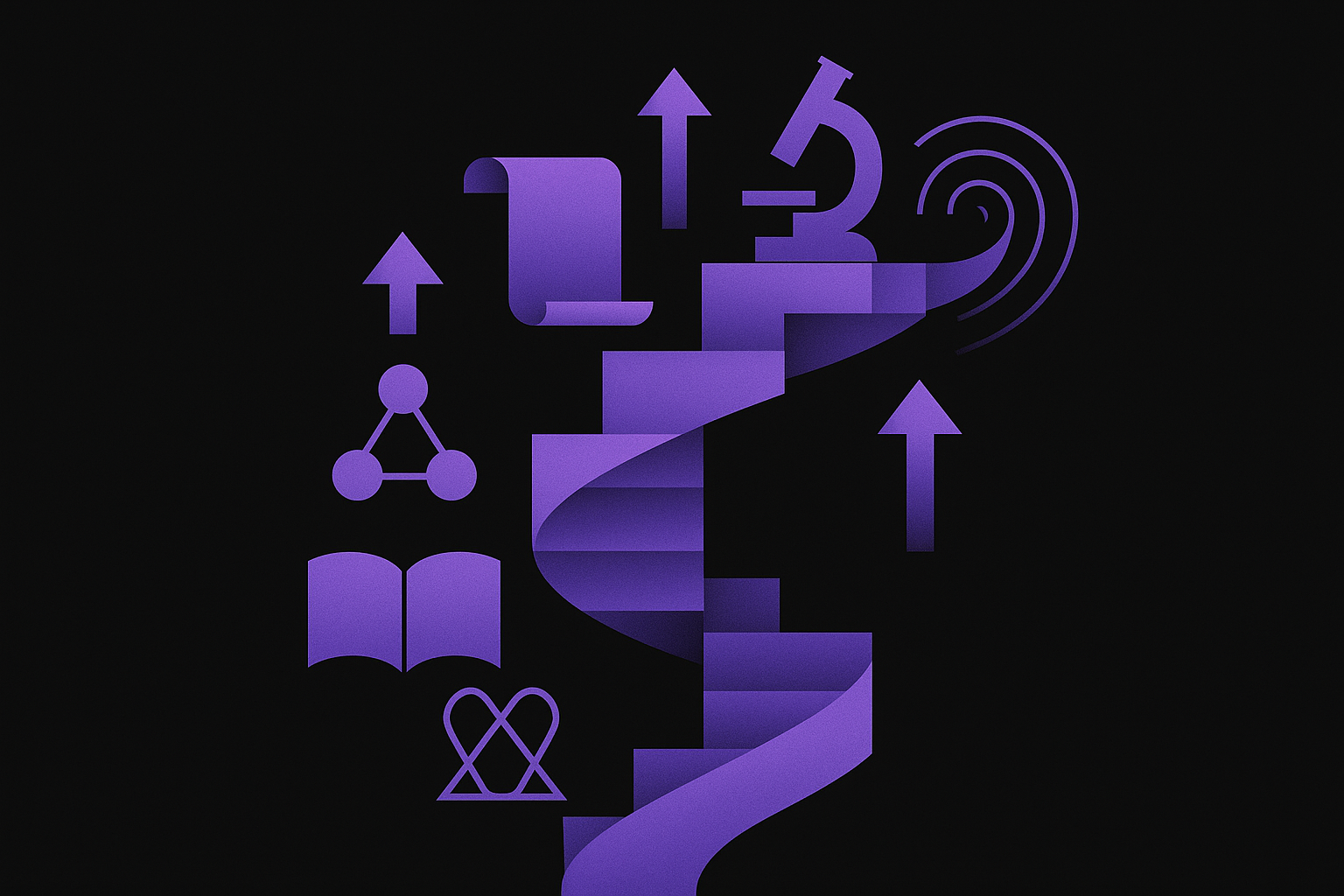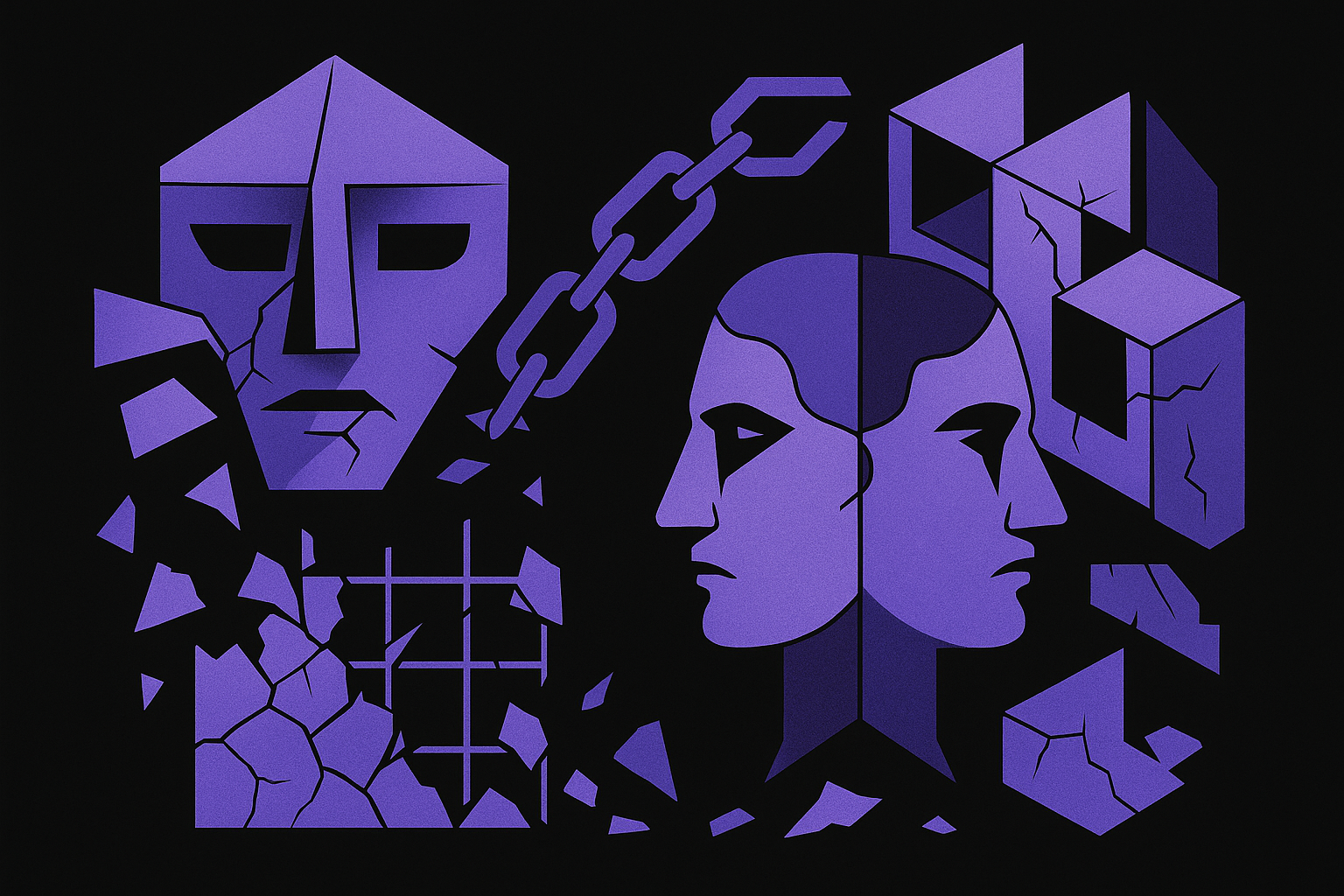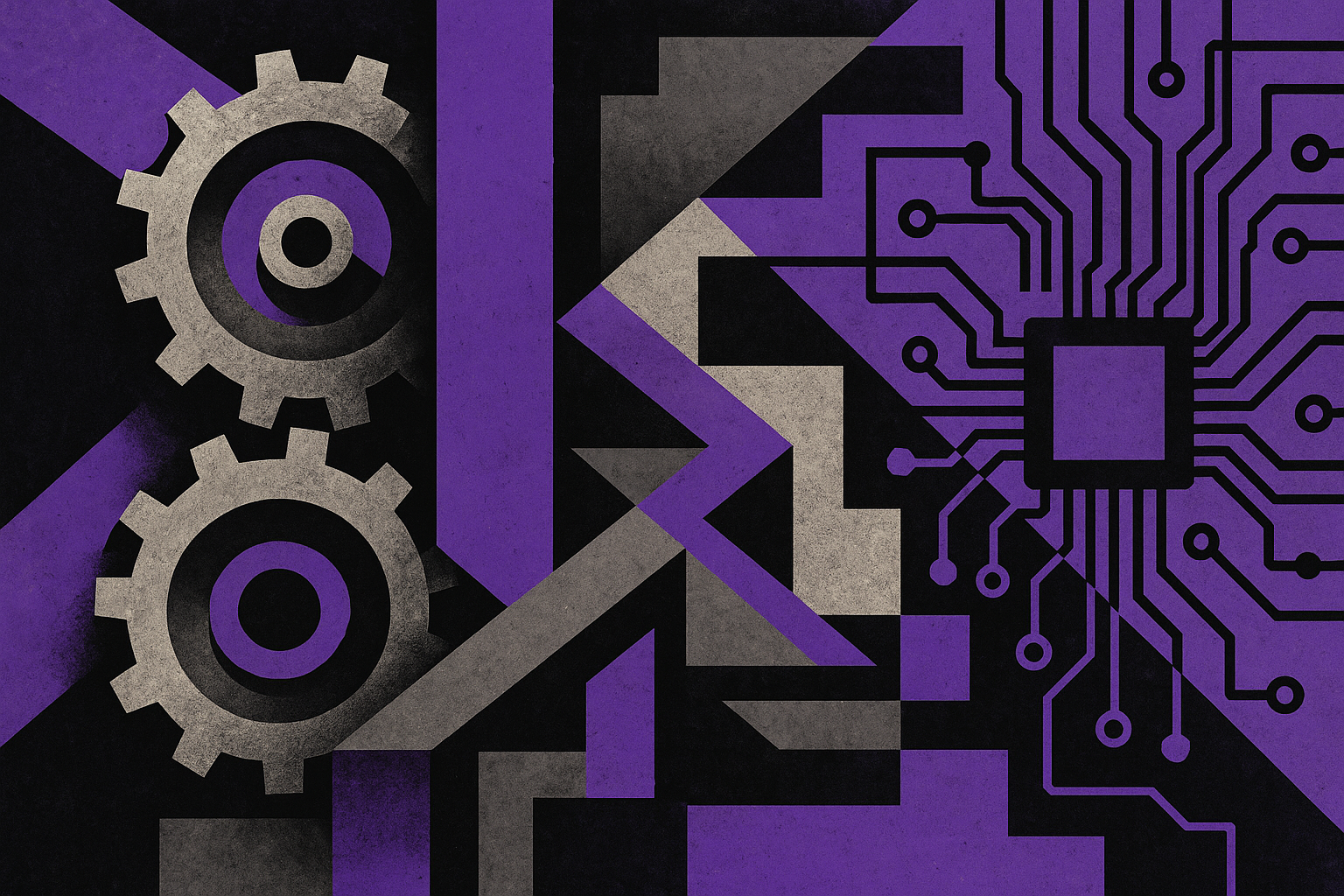
Capítulo 7
Capítulo 7: Marxismo e Tecnologia — Debates Clássicos
7.1 A Promessa e a Ameaça: A Ambiguidade de Marx
Qual o papel da tecnologia na história? Ela é uma força de libertação, que nos livrará do trabalho
pesado e inaugurará uma era de abundância? Ou é uma ferramenta de dominação, que aprimora o controle
e a exploração? A obra do próprio Karl Marx nos oferece respostas para ambas as perguntas, deixando
uma tensão produtiva que ecoa até hoje.
Por um lado, em textos como o Manifesto Comunista ou nos Grundrisse, encontramos um
Marx quase prometeico, maravilhado com o poder das "forças produtivas" desencadeadas pelo
capitalismo. A burguesia, escreve ele, "criou maravilhas maiores que as pirâmides do Egito, os
aquedutos romanos e as catedrais góticas". A máquina a vapor, a ferrovia, o telégrafo — tudo isso
representa o triunfo da engenhosidade humana sobre a natureza. Nessa visão, a tecnologia é o motor
da história. O capitalismo, ao desenvolver a ciência e a automação, cria, contra sua própria
vontade, as condições materiais para uma sociedade comunista: uma sociedade onde a produção é tão
vasta que o trabalho necessário se reduz a um mínimo, liberando a humanidade para o desenvolvimento
de suas potencialidades. A tecnologia é uma força libertadora aprisionada pelas correntes das
relações de produção capitalistas.
Por outro lado, ao analisar a fábrica em O Capital, a visão de Marx se torna muito mais
sombria. Aqui, a tecnologia não é uma força neutra. Ela é projetada, implementada e gerenciada com
um propósito claro: subjugar o trabalhador. Como vimos no conceito de subsunção
real (Capítulo 5), a máquina é a arma do capital na luta de classes. Ela dita o ritmo,
simplifica as tarefas até o ponto da idiotia, e retira o conhecimento do ofício das mãos do
trabalhador, concentrando-o na gerência. Na fábrica, a máquina não é uma ferramenta para ajudar o
operário; o operário é um apêndice vivo da máquina. A tecnologia se revela como a materialização do
poder do capital sobre o trabalho.
Essa dualidade — a tecnologia como promessa de libertação e como instrumento de dominação — não é uma
contradição em Marx, mas o reflexo da própria contradição do capitalismo. O desafio para os
marxistas que vieram depois foi como lidar com essa ambiguidade.
7.2 O Debate Central: Determinismo Tecnológico vs. Construtivismo Social
A tensão na obra de Marx deu origem a duas grandes correntes de pensamento sobre a relação entre
tecnologia e sociedade.
O Determinismo Tecnológico é a visão de que a tecnologia é uma força autônoma que se
desenvolve segundo sua própria lógica interna (eficiência, progresso) e que, posteriormente, impacta
e determina a forma da sociedade. É a ideia de que "a tecnologia muda o mundo". Uma leitura
simplista e determinista de Marx diria: "o moinho manual nos deu a sociedade com senhores feudais; o
moinho a vapor, a sociedade com o capitalista industrial". Nessa visão, a política se resume a
acelerar o desenvolvimento tecnológico para criar as bases para uma nova sociedade.
O Construtivismo Social, por outro lado, argumenta que a tecnologia não é autônoma.
Ela é profundamente moldada por forças sociais, culturais, políticas e, sobretudo, econômicas. A
direção da inovação tecnológica não é neutra; ela é o resultado de escolhas, interesses e lutas de
poder. Não inventamos qualquer tecnologia possível, mas sim as tecnologias que são úteis ou
lucrativas dentro de um determinado sistema social. A sociedade não se adapta à tecnologia; a
sociedade constrói a tecnologia que reforça suas estruturas de poder. A questão não é apenas "o que
a tecnologia faz conosco?", mas "quem decide qual tecnologia é feita e para quê?".
Uma leitura mais sofisticada da obra de Marx sugere uma relação dialética: a
tecnologia e a sociedade se influenciam mutuamente. As relações sociais capitalistas incentivam o
desenvolvimento de certas tecnologias (automação, controle), mas essas mesmas tecnologias, uma vez
implementadas, criam novas possibilidades e novas contradições (como a crise do valor gerada pelo
general intellect) que podem desafiar as próprias relações sociais que as criaram.
7.3 A Escola de Frankfurt: A Tecnologia como Dominação
A experiência histórica da primeira metade do século XX — a Primeira Guerra Mundial, a ascensão do
fascismo e do nazismo, e a emergência da cultura de massa nos Estados Unidos — levou um grupo de
pensadores marxistas alemães, conhecidos como a Escola de Frankfurt, a uma crítica
profundamente pessimista da tecnologia e da própria razão ocidental.
Em sua obra magna, Dialética do Esclarecimento, Max Horkheimer e Theodor Adorno argumentam
que o projeto do Iluminismo, que prometia libertar a humanidade do medo e do mito através da razão,
se transformou em seu oposto. A razão se tornou puramente razão instrumental: uma
lógica de cálculo, eficiência e, acima de tudo, de controle. O objetivo da ciência e da tecnologia
deixou de ser a compreensão do mundo para se tornar a dominação sobre a natureza. Uma vez que a
natureza foi subjugada, essa mesma lógica de dominação foi aplicada aos próprios seres humanos.
Foi Herbert Marcuse, outro membro da escola, quem melhor aplicou essa crítica à
sociedade capitalista do pós-guerra. Em seu livro O Homem Unidimensional, Marcuse argumenta
que o capitalismo avançado criou uma forma de controle social mais eficaz que qualquer ditadura. A
tecnologia não oprime através da força bruta, mas através da sedução. Ela cria um universo
confortável de bens de consumo, entretenimento e falsas necessidades que integra potenciais focos de
oposição ao sistema. A "racionalidade tecnológica" — a ideologia de que a eficiência e o crescimento
são os únicos objetivos válidos — se torna o véu que justifica a dominação. A liberdade é reduzida à
liberdade de escolher entre um iPhone e um Samsung, entre a Coca-Cola e a Pepsi, enquanto as
estruturas fundamentais de poder permanecem intocadas. A sociedade se torna "unidimensional":
qualquer pensamento ou ação que transcenda o status quo é considerado irracional ou impossível. A
tecnologia, para Marcuse, é o principal instrumento que fecha o universo do discurso político e
aprisiona a consciência em uma gaiola dourada.
7.3.1 A Indústria Cultural: Padronização da Consciência
Um dos conceitos mais influentes da Escola de Frankfurt é o de indústria cultural,
desenvolvido por Adorno e Horkheimer. Eles argumentam que no capitalismo avançado, a cultura deixou
de ser um espaço de reflexão crítica ou expressão autêntica para se tornar mais uma mercadoria
produzida em massa. Filmes de Hollywood, música pop, programas de televisão — todos seguem fórmulas
previsíveis projetadas não para desafiar, mas para entreter e pacificar.
A indústria cultural não funciona através da censura direta, mas através da pseudo-individualização:
a criação de uma ilusão de escolha e personalidade dentro de um sistema profundamente padronizado.
Você pode escolher entre centenas de filmes na Netflix, mas todos seguem as mesmas estruturas
narrativas, os mesmos arcos de personagem, as mesmas resoluções reconfortantes. A diversidade
superficial oculta uma monotonia profunda. O resultado é uma população que consome cultura como
entretenimento passivo, não como ferramenta de compreensão ou transformação do mundo.
Para Adorno, até mesmo o jazz — que muitos viam como música de resistência — havia sido cooptado e
transformado em mercadoria. A arte genuína, aquela que desafia e incomoda, é marginalizada. O que
resta é uma cultura que funciona como propaganda do existente: ela não vende
produtos específicos, vende o próprio sistema.
🎬
Indústria Cultural Hoje: Algoritmos como Curadores
A crítica
de Adorno e Horkheimer sobre a indústria cultural soa profética quando olhamos para as
plataformas digitais de hoje. O algoritmo de recomendação do YouTube não pergunta "o que você
precisa aprender?" ou "o que desafiará suas convicções?". Ele pergunta: "o que manterá você
clicando?". O resultado é um sistema que reforça vieses existentes, cria câmaras de eco e
transforma toda experiência cultural em conteúdo otimizado para engagement. A Netflix não
produz arte — produz séries testadas por algoritmos para maximizar horas assistidas. O
Spotify não promove música — promove playlists calculadas para "mood" que nunca perturbem.
A pseudo-individualização se tornou ainda mais sofisticada: o algoritmo cria uma "playlist
personalizada só para você" que é, na verdade, uma variação mínima de um padrão estatístico.
Adorno não viveu para ver o TikTok, mas descreveu seu funcionamento com 50 anos de
antecedência.
👤
Herbert Marcuse (1898-1979)
Herbert
Marcuse foi um filósofo e sociólogo alemão-americano, membro da Escola de Frankfurt e uma
das figuras intelectuais mais influentes dos movimentos de contracultura dos anos 1960.
Marcuse combinou marxismo com psicanálise freudiana para analisar como o capitalismo
avançado não apenas explora economicamente, mas também reprime psicologicamente e manipula
culturalmente os indivíduos. Em "O Homem Unidimensional" (1964), sua obra mais influente,
Marcuse analisou como a sociedade industrial avançada cria falsas necessidades através da
publicidade e do consumismo, integrando a classe trabalhadora ao sistema e eliminando a
oposição genuína. Marcuse foi um dos primeiros a identificar a tecnologia não como neutra,
mas como incorporando relações de dominação. A racionalidade tecnológica, argumentou, é uma
forma de controle social que se apresenta como objetiva e inevitável. Sua influência sobre
os movimentos estudantis de 1968 foi imensa.
7.4 O Operaísmo Italiano: A Tecnologia como Campo de Batalha
Em contraste direto com o pessimismo da Escola de Frankfurt, uma corrente de pensamento radicalmente
nova emergiu das lutas operárias nas fábricas do norte da Itália nos anos 1960: o
Operaísmo.
Pensadores como Raniero Panzieri e, principalmente, Mario Tronti propuseram uma
inversão completa da perspectiva marxista ortodoxa. O dogma dizia que o capital era o sujeito ativo
da história, que revolucionava as forças produtivas, e o trabalho era o objeto, que reagia. Tronti
vira essa relação de cabeça para baixo: a luta da classe trabalhadora é o motor da história;
o desenvolvimento do capital é apenas uma resposta a essa luta.
Nessa visão, a tecnologia na fábrica não é o resultado de uma busca neutra pela eficiência. Cada
inovação tecnológica é uma resposta política do capital à insubordinação dos
trabalhadores. Se os trabalhadores de uma determinada seção da linha de montagem se
tornam muito organizados, se eles conseguem ditar o ritmo da produção ou entram em greve com
frequência, o capital responde com uma nova máquina que automatiza aquela função, destrói a base do
poder daquele grupo de trabalhadores e reimpõe a disciplina. A história do desenvolvimento
tecnológico capitalista é a história da luta de classes materializada nas máquinas. A tecnologia é
um campo de batalha.
7.4.1 A Composição Técnica e a Composição Política da Classe
Um dos conceitos centrais do operaísmo é a distinção entre composição técnica e
composição política da classe trabalhadora. A composição técnica se refere à forma
como o capital organiza o trabalho: a divisão de tarefas, a disposição das máquinas, os ritmos de
produção, as hierarquias na fábrica. É a estrutura objetiva imposta pelo capital.
A composição política, por outro lado, é a capacidade dos trabalhadores de se organizarem, de
desenvolverem consciência coletiva e de lutarem dentro e contra essa estrutura. A relação entre
essas duas composições é dialética e antagônica. O capital constantemente tenta
decompor a força política dos trabalhadores através de mudanças na composição técnica. Os
trabalhadores, por sua vez, tentam recompor sua força política mesmo dentro das novas estruturas
técnicas impostas.
Por exemplo: no início do século XX, o operário profissional qualificado (o ferramenteiro, o
torneiro) tinha grande poder de barganha porque seu conhecimento era insubstituível. O fordismo
respondeu com a linha de montagem e a fragmentação radical das tarefas, criando o
operário-massa desqualificado. Paradoxalmente, isso criou uma nova base de poder: a
concentração de milhares de operários-massa na mesma fábrica facilitou a organização coletiva.
Qualquer ponto de bloqueio na linha parava toda a produção. Nos anos 1960-70 na Itália, esses
operários-massa desenvolveram novas táticas: greves selvagens (sem aviso aos sindicatos),
sabotagens, "greves de zelo" (trabalhar exatamente conforme as regras, o que paradoxalmente
desacelera tudo), absenteísmo estratégico.
7.4.2 Do Operário-Massa ao Operário Social
O operaísmo identificou uma tendência histórica fundamental: à medida que o capital tentava decompor o
poder do operário-massa através da automação e da descentralização da produção, ele acabava criando
um novo sujeito revolucionário — o operário social. Este já não é definido apenas
por seu lugar na fábrica, mas por sua inserção em toda a "fábrica social": a cidade, o território, as
redes de consumo e comunicação.
Quando a produção se dispersa em redes de subcontratação, quando o trabalho se torna mais cognitivo e
menos material, quando a distinção entre tempo de trabalho e tempo livre se dissolve, a própria
sociedade se torna o local de exploração e, portanto, de luta. As lutas não se limitam mais à fábrica:
ocupações de moradia, movimentos por transporte público gratuito, recusa em pagar contas de energia —
todas se tornam formas de luta operária porque todas afetam o custo de reprodução da força de
trabalho.
Essa análise, desenvolvida nos anos 1970, seria fundamental para entender o capitalismo digital. A
uberização e o trabalho de plataforma não têm fábrica física, mas têm a cidade inteira como espaço de
exploração. O "breque dos apps" no Brasil em 2020 foi uma greve operaísta clássica: não organizada por
sindicatos, mas por redes horizontais via WhatsApp; não limitada a uma empresa, mas coordenada entre
múltiplas plataformas; não pedindo melhores condições dentro do sistema, mas recusando coletivamente
trabalhar sob aquelas taxas.
📱
Operaísmo e Algoritmos: A Luta Continua
Se o
operaísmo nos ensina que cada tecnologia é uma resposta a uma luta anterior, o que o algoritmo
de gerenciamento de plataforma responde? À impossibilidade de controlar trabalhadores dispersos
geograficamente com métodos fordistas. O algoritmo é o capataz digital. Ele monitora em tempo
real, pune desvios automaticamente (banimento de conta por baixa taxa de aceitação), cria
competição entre trabalhadores (gamificação). Mas a luta continua: trabalhadores de app
desenvolvem táticas de burla — "jogar o algoritmo" (aceitar e cancelar para confundir o
sistema), organização via grupos de WhatsApp que os algoritmos não monitoram, criação de
cooperativas de plataforma que substituem o algoritmo patronal por algoritmos de autogestão.
A tecnologia não resolveu o conflito — apenas mudou o terreno da batalha.
👤
Mario Tronti (1931-2023)
Mario
Tronti foi um filósofo e político italiano, fundador do operaísmo (workerism), uma das
correntes mais originais do marxismo do século XX. A tese central de Tronti, desenvolvida em
"Operários e Capital" (1966), é a inversão da relação entre luta de classes e
desenvolvimento capitalista. Tradicionalmente, marxistas viam o desenvolvimento das forças
produtivas como motor da história, ao qual a luta de classes respondia. Tronti inverteu
isso: é a luta da classe trabalhadora que força o capital a se desenvolver, a inovar, a se
reestruturar. O capital é reativo, não proativo. Essa perspectiva levou à estratégia da
recusa do trabalho. Se o trabalho é a fonte do poder capitalista, recusá-lo — através de
greves, sabotagem, absenteísmo — é a arma fundamental dos trabalhadores. Tronti também
desenvolveu o conceito de autonomia operária: os trabalhadores devem organizar-se de forma
independente dos partidos e sindicatos tradicionais.
7.4.1 A Composição Técnica e a Composição Política da Classe
Um dos conceitos centrais do operaísmo é a distinção entre composição técnica e
composição política da classe trabalhadora. A composição técnica se refere à forma
como o capital organiza o trabalho: a divisão de tarefas, a disposição das máquinas, os ritmos de
produção, as hierarquias na fábrica. É a estrutura objetiva imposta pelo capital.
A composição política, por outro lado, é a capacidade dos trabalhadores de se organizarem, de
desenvolverem consciência coletiva e de lutarem dentro e contra essa estrutura. A relação entre
essas duas composições é dialética e antagônica. O capital constantemente tenta
decompor a força política dos trabalhadores através de mudanças na composição técnica. Os
trabalhadores, por sua vez, tentam recompor sua força política mesmo dentro das novas estruturas
técnicas impostas.
Por exemplo: no início do século XX, o operário profissional qualificado (o ferramenteiro, o
torneiro) tinha grande poder de barganha porque seu conhecimento era insubstituível. O fordismo
respondeu com a linha de montagem e a fragmentação radical das tarefas, criando o
operário-massa desqualificado. Paradoxalmente, isso criou uma nova base de poder: a
concentração de milhares de operários-massa na mesma fábrica facilitou a organização coletiva.
Qualquer ponto de bloqueio na linha parava toda a produção. Nos anos 1960-70 na Itália, esses
operários-massa desenvolveram novas táticas: greves selvagens (sem aviso aos sindicatos),
sabotagens, "greves de zelo" (trabalhar exatamente conforme as regras, o que paradoxalmente
desacelera tudo), absenteísmo estratégico.
7.4.2 Do Operário-Massa ao Operário Social
O operaísmo identificou uma tendência histórica fundamental: à medida que o capital tentava decompor o
poder do operário-massa através da automação e da descentralização da produção, ele acabava criando
um novo sujeito revolucionário — o operário social. Este já não é definido apenas
por seu lugar na fábrica, mas por sua inserção em toda a "fábrica social": a cidade, o território, as
redes de consumo e comunicação.
Quando a produção se dispersa em redes de subcontratação, quando o trabalho se torna mais cognitivo e
menos material, quando a distinção entre tempo de trabalho e tempo livre se dissolve, a própria
sociedade se torna o local de exploração e, portanto, de luta. As lutas não se limitam mais à fábrica:
ocupações de moradia, movimentos por transporte público gratuito, recusa em pagar contas de energia —
todas se tornam formas de luta operária porque todas afetam o custo de reprodução da força de
trabalho.
Essa análise, desenvolvida nos anos 1970, seria fundamental para entender o capitalismo digital. A
uberização e o trabalho de plataforma não têm fábrica física, mas têm a cidade inteira como espaço de
exploração. O "breque dos apps" no Brasil em 2020 foi uma greve operaísta clássica: não organizada por
sindicatos, mas por redes horizontais via WhatsApp; não limitada a uma empresa, mas coordenada entre
múltiplas plataformas; não pedindo melhores condições dentro do sistema, mas recusando coletivamente
trabalhar sob aquelas taxas.
📱
Operaísmo e Algoritmos: A Luta Continua
Se o
operaísmo nos ensina que cada tecnologia é uma resposta a uma luta anterior, o que o algoritmo
de gerenciamento de plataforma responde? À impossibilidade de controlar trabalhadores dispersos
geograficamente com métodos fordistas. O algoritmo é o capataz digital. Ele monitora em tempo
real, pune desvios automaticamente (banimento de conta por baixa taxa de aceitação), cria
competição entre trabalhadores (gamificação). Mas a luta continua: trabalhadores de app
desenvolvem táticas de burla — "jogar o algoritmo" (aceitar e cancelar para confundir o
sistema), organização via grupos de WhatsApp que os algoritmos não monitoram, criação de
cooperativas de plataforma que substituem o algoritmo patronal por algoritmos de autogestão.
A tecnologia não resolveu o conflito — apenas mudou o terreno da batalha.
7.5 Tecnologia e Colonialismo: A Perspectiva Pós-Colonial
Tanto a Escola de Frankfurt quanto o Operaísmo italiano foram desenvolvidos no contexto do Norte
Global — Europa e América do Norte. Mas o que acontece quando aplicamos essas análises ao Sul Global?
A tecnologia chega de maneira diferente na periferia do capitalismo. Ela não é apenas um instrumento
de dominação de classe, mas também de dominação colonial e imperial.
Pensadores pós-coloniais como Frantz Fanon e Aimé Césaire
mostraram como a tecnologia moderna foi, desde seu início, inseparável do projeto colonial. A
ferrovia não apenas "conectava" territórios — ela extraía recursos da colônia para a metrópole. O
telégrafo não apenas "comunicava" — ele permitia o controle militar e administrativo a distância. A
medicina tropical não apenas "curava" — ela tornava corpos colonizados produtivos para o trabalho
forçado nas plantações.
A modernidade europeia, com sua ciência e tecnologia, não foi um presente universal para a humanidade.
Foi construída através e sobre a exploração colonial. O capital
para a Revolução Industrial veio do tráfico de escravizados e da pilhagem colonial. O tempo "livre"
que permitiu aos europeus desenvolver ciência e filosofia foi comprado com o trabalho forçado nas
Américas, África e Ásia. Como argumenta o sociólogo peruano Aníbal Quijano, a
modernidade tem uma face oculta: a colonialidade. Não há modernidade sem
colonialidade; não há desenvolvimento tecnológico europeu sem subdesenvolvimento imposto ao Sul.
7.5.1 Dependência Tecnológica e Imperialismo Digital
Essa estrutura colonial não desapareceu com as independências formais. Ela se transformou em
dependência tecnológica. Os países do Sul Global não participam do design das
tecnologias que usam. Importamos smartphones projetados na Califórnia, fabricados na China com
trabalho superexplorado, contendo minerais extraídos sob condições brutais no Congo. Usamos sistemas
operacionais sobre os quais não temos controle, aplicativos cujas políticas são definidas em
conselhos em São Francisco, algoritmos treinados com dados e vieses do Norte.
Essa dependência não é apenas econômica — é epistemológica. Aprendemos a ver o mundo
através das categorias e das tecnologias do Norte. Nossos problemas só são reconhecidos como "reais"
quando enquadrados em conceitos anglo-saxões. Nossas soluções são consideradas "atrasadas" ou
"primitivas" se não replicam modelos do Norte. Como argumenta o filósofo chinês Yuk
Hui, diferentes culturas desenvolvem diferentes cosmotécnicas — formas
de relacionamento entre cosmos (ordem do mundo) e técnica. Mas o colonialismo impôs uma única
cosmotécnica — a europeia — como universal.
O resultado é que quando pensamos em "tecnologia do futuro", imaginamos cidades inteligentes
europeias, não aldeias guaranis com agroflorestas complexas geridas por conhecimento milenar. Quando
pensamos em "inovação", pensamos em startups do Vale do Silício, não em mutirões de construção
coletiva nas periferias brasileiras. Quando pensamos em "inteligência artificial", pensamos em redes
neurais treinadas em inglês, não em sistemas de conhecimento coletivo indígenas.
🌍
Frantz Fanon (1925-1961)
Psiquiatra
martinicano, filósofo e revolucionário, Fanon é autor de "Os Condenados da Terra" e "Pele
Negra, Máscaras Brancas". Ele analisou os efeitos psicológicos e sociais do colonialismo,
mostrando como a violência colonial não apenas explora economicamente, mas desumaniza e
aliena o colonizado. Fanon argumentou que a descolonização genuína exige violência porque o
colonialismo foi estabelecido pela violência — não há negociação pacífica possível com um
sistema que nega sua humanidade. Sua análise da relação entre tecnologia e colonialismo
mostrou que as ferramentas "modernas" (medicina, educação, tecnologia) não são neutras:
chegam inscritas com a lógica colonial de "civilizar" o "primitivo". A verdadeira liberação
requer não apenas usar as tecnologias do colonizador, mas criar novas formas técnicas
enraizadas nas cosmologias e necessidades dos povos colonizados.
7.5.2 Extrativismo de Dados como Neo-Colonialismo
O capitalismo digital criou uma nova forma de colonialismo: o extrativismo de dados.
Assim como no colonialismo clássico recursos naturais (ouro, borracha, café) eram extraídos da
colônia sem compensação justa, hoje dados são extraídos do Sul Global sem retorno equitativo. Cada
busca no Google, cada post no Facebook, cada vídeo no TikTok gera dados que são processados no Norte,
usados para treinar IAs do Norte, e transformados em lucros de corporações do Norte.
O filósofo argentino Nick Couldry e a socióloga britânica Ulises
Mejias chamam isso de colonialismo de dados: "a extensão de um processo
global de extração que começou sob o capitalismo histórico, agora intensificado através de dados
digitais". Mas há uma diferença crucial: no colonialismo clássico, a extração era visível — navios
carregados de riqueza saindo dos portos. No colonialismo de dados, a extração é invisível — pacotes
de dados fluindo por cabos submarinos. É difícil resistir ao que você não consegue ver.
Além disso, as infraestruturas digitais do Sul são controladas pelo Norte. Cabos submarinos de fibra
óptica que conectam América Latina, África e Ásia passam por hubs de vigilância da NSA. Servidores
cloud que armazenam dados de empresas e governos do Sul estão fisicamente localizados no Norte,
sujeitos às leis do Norte. A própria arquitetura da internet foi projetada no Norte, para servir
interesses do Norte. O TCP/IP, o DNS, os RFCs — todos são governados por instituições baseadas nos
EUA ou Europa.
⚠️
Exemplo Concreto: O Caso do WhatsApp no Brasil
99% dos
brasileiros online usam WhatsApp. Mas não escolhemos ativamente essa tecnologia — ela foi
imposta através de uma combinação de estratégias coloniais digitais: 1) Facebook ofereceu
WhatsApp com zero-rating (não conta na franquia de dados), tornando-o acessível para
populações pobres; 2) Ausência de investimento em alternativas nacionais (por que não temos
um app de mensagem brasileiro?); 3) Efeito de rede que torna impossível não usar (todos os
seus contatos estão lá); 4) Integração com serviços públicos (vacinação, Bolsa Família) que
força uso. Resultado: toda comunicação brasileira flui por servidores do Facebook, sujeita à
vigilância dos EUA, modulada por políticas que não controlamos. Quando o Brasil tentou
regular o WhatsApp (marco civil da internet), a empresa ameaçou sair do país — chantagem
colonial clássica. A dependência tecnológica é também dependência política.
A estratégia que emerge disso não é a de tomar o controle das fábricas (pois elas foram projetadas
para dominar), nem a de lutar por uma "gestão operária" da tecnologia capitalista. A estratégia é a
recusa do trabalho. É a luta para trabalhar menos, para desvincular a renda do
trabalho, e para afirmar as necessidades e desejos dos trabalhadores contra a lógica da produção.
Para os operaístas, a classe trabalhadora não é uma vítima passiva da tecnologia, mas um sujeito
ativo cuja recusa em ser subjugada força o capital a se reorganizar e a inovar constantemente.
7.6 Síntese para o Século XXI: Três Lentes, Um Fenômeno
Como esses debates clássicos nos ajudam a entender o capitalismo digital? O algoritmo que gerencia um
entregador do iFood pode ser analisado sob essas diferentes lentes, e cada uma revela uma face
diferente da verdade.
7.6.1 A Lente de Frankfurt: Controle Totalitário Sedutivo
Sob a perspectiva da Escola de Frankfurt, o algoritmo é a encarnação máxima da "racionalidade
tecnológica". É um sistema de controle total que se apresenta como neutro, objetivo, eficiente.
O entregador não é oprimido por um chefe humano que grita — ele é modulado por um sistema
impessoal que ajusta taxa de aceitação, tempo de entrega, rotas otimizadas. A dominação se torna
"científica", irrefutável.
Mais ainda: o algoritmo cria o "entregador unidimensional" que Marcuse descreveu. A gamificação da
plataforma (badges, rankings, desafios) transforma a exploração em jogo. O trabalhador internaliza
a lógica da plataforma: ele não pensa "estou sendo explorado", ele pensa "preciso melhorar meu
score". A resistência política é substituída por estratégia individual de otimização. A liberdade
é reduzida à liberdade de escolher entre iFood, Rappi ou Uber Eats — mas sempre sob as mesmas
condições algorítmicas de exploração.
7.6.2 A Lente Operaísta: Campo de Batalha Digital
Mas o algoritmo também pode ser visto como uma resposta do capital a um problema de controle, como
diriam os operaístas. Como gerenciar uma força de trabalho massiva, dispersa geograficamente e
sem um local de trabalho físico? Como impor disciplina sem capatazes? Como extrair mais-valor de
trabalhadores que não estão presos em uma fábrica? O algoritmo é a solução tecnológica do capital
para o problema da organização e da disciplina fora dos muros da fábrica.
Mas a luta continua. As greves de entregadores — os "breques dos apps" — são a resposta dos
trabalhadores, a recusa em aceitar as condições impostas pelo algoritmo. E essas greves têm
características operaístas clássicas: são organizadas horizontalmente via WhatsApp (não via
sindicatos burocráticos), são rápidas e disruptivas (bloqueiam apenas algumas horas, em horários
estratégicos), e forçam as plataformas a negociar. Cada greve força um ajuste: algoritmos
recalibrados, taxas reajustadas, bônus oferecidos. A história do gerenciamento algorítmico é a
história da luta de classes materializada em código.
7.6.3 A Lente Pós-Colonial: Imperialismo Algorítmico
Finalmente, a perspectiva pós-colonial revela outra camada: o algoritmo não foi projetado no
Brasil, por brasileiros, para condições brasileiras. Ele foi importado de um modelo desenvolvido
no Vale do Silício, testado em mercados periféricos, e imposto aqui. O entregador brasileiro não
é apenas explorado pelo capital — ele é sujeito a um imperialismo algorítmico.
As categorias que o algoritmo usa (eficiência, otimização, produtividade) são universais apenas na
aparência. Na prática, elas incorporam pressupostos do Norte: um trabalhador com carro próprio, em
cidades com infraestrutura, sob clima temperado. Aplicadas ao Brasil, essas categorias se tornam
brutais: entregadores de bicicleta sob sol de 40 graus, navegando ruas sem asfalto, lidando com
violência urbana que o algoritmo não reconhece. O algoritmo trata o Sul como laboratório de
experimentos: se funciona aqui (sob condições extremas), funcionará em qualquer lugar.
E os dados extraídos dos entregadores brasileiros — rotas, tempos, padrões — são usados para
treinar IAs nos EUA, gerando valor que nunca retorna. É extrativismo de dados: o Sul fornece a
matéria-prima (dados brutos), o Norte processa (algoritmos de IA), e vende de volta o produto
final (plataforma otimizada) com markup enorme.
7.6.4 Síntese Dialética: Tecnologia como Terreno de Antagonismo
Precisamos, portanto, de uma síntese que não seja nem otimista ingênua nem pessimista paralisante.
A tecnologia digital não é neutra — ela é profundamente marcada pela lógica do
capital, pela razão instrumental, pela colonialidade, como alertaram Frankfurt e os pós-coloniais.
Mas ela também não é um sistema de dominação total e sem fissuras — ela é um
terreno de conflito onde novas formas de insubordinação e recusa podem emergir, como apontou o
Operaísmo.
A tecnologia digital contém, simultaneamente:
- A promessa de uma libertação sem precedentes: O general intellect se
tornando acessível a todos, ferramentas de coordenação coletiva, abolição do trabalho penoso
através da automação;
- A ameaça de um controle totalitário: Capitalismo de vigilância, gerenciamento
algorítmico, manipulação comportamental em massa, necropolítica automatizada;
- A continuidade do imperialismo: Colonialismo de dados, dependência
tecnológica, imposição de cosmotécnicas eurocêntricas sobre o Sul Global.
Essas três dimensões não são contraditórias — elas coexistem. Entender e agir dentro dessa
contradição viva é o principal desafio para a teoria e a prática críticas no
século XXI. Não podemos simplesmente "adotar" a tecnologia do Norte esperando resultados
libertadores. Nem podemos simplesmente "rejeitar" a tecnologia esperando preservar formas
tradicionais. Precisamos disputar a tecnologia: reapropriá-la, ressignificá-la,
reinventá-la a partir das necessidades e cosmologias do Sul.
Os próximos capítulos explorarão em detalhe cada uma dessas dimensões: Cap 8 analisa como o
trabalho se transformou no capitalismo digital (operaísmo aplicado), Cap 14 examina a vigilância
em massa (Frankfurt aplicado), Cap 20 mapeia a geopolítica digital (pós-colonialismo aplicado), e
Caps 26-28 propõem cosmotécnicas alternativas (síntese construtiva). Mas todos partem deste
capítulo: a compreensão de que tecnologia é campo de batalha, não destino.
🌍
Determinismo, Construção Social e Dependência Tecnológica Periférica
O debate entre
determinismo tecnológico e construção social da tecnologia ganha contornos específicos no
Sul Global. Para nós, a tecnologia frequentemente aparece como determinista —
chegam smartphones prontos da China, algoritmos de plataforma projetados na Califórnia,
infraestrutura 5G vendida por multinacionais. Não participamos de seu design, apenas
"adotamos". Mas isso não é determinismo tecnológico — é imperialismo
tecnológico.
Exemplo
concreto: Quando o Brasil adota WhatsApp massivamente (99% dos brasileiros
online o usam), não foi "evolução natural" da tecnologia. Foi resultado de: 1)
Infraestrutura de telecom construída para favorecer dados (não voz), 2) Precarização que
torna planos de dados baratos essenciais, 3) Facebook oferecendo WhatsApp "de graça"
(zero-rating) para capturar mercado, 4) Ausência de alternativas nacionais viáveis. A
tecnologia foi socialmente construída — mas por atores do Norte, para interesses do
Norte.
A "recusa do
trabalho" operaísta também se manifesta perifericamente: entregadores de app no
Brasil fazem greves, "breques", sabotagens algorítmicas (aceitar pedido e não retirar,
forçando o sistema a recalibrar). Mas enfrentam dupla subsunção: do
algoritmo e do desemprego estrutural brasileiro. A "recusa" aqui é mais arriscada —
não há rede de proteção social. Isso não invalida o operaísmo, mas exige sua
tradução periférica: como resistir quando o capital te diz "ou aceita o
algoritmo ou morre de fome"?
---
🔑 Mini-Glossário do Capítulo
- Colonialidade: Padrão de poder que sobrevive ao colonialismo formal, mantendo
hierarquias raciais, epistemológicas e tecnológicas entre Norte e Sul Global (Aníbal Quijano).
- Colonialismo de Dados: Extração sistemática de dados do Sul Global por corporações
do Norte, sem compensação justa, em continuidade com extrativismo colonial histórico.
- Composição Política: Capacidade organizativa e consciência coletiva dos
trabalhadores (operaísmo).
- Composição Técnica: Organização do trabalho imposta pelo capital (divisão de
tarefas, ritmo, hierarquia).
- Construtivismo Social: Teoria que sustenta que a tecnologia é moldada por fatores
sociais, econômicos e políticos, e não é uma força autônoma.
- Cosmotécnica: Formas culturalmente específicas de relacionar cosmos (ordem do mundo)
e técnica. Crítica à imposição da cosmotécnica europeia como universal (Yuk Hui).
- Determinismo Tecnológico: Teoria que sustenta que a tecnologia é a principal força
motriz da mudança social e que a sociedade se adapta a ela.
- Escola de Frankfurt: Corrente de teoria crítica marxista (Adorno, Horkheimer,
Marcuse) conhecida por sua crítica à razão instrumental e à indústria cultural.
- Extrativismo de Dados: Processo de extração de dados pessoais e coletivos como
matéria-prima para valorização capitalista, sem compensação ou controle pelos geradores dos dados.
- Homem Unidimensional: Conceito de Marcuse para descrever o indivíduo na sociedade
capitalista avançada, cuja capacidade de pensamento crítico é suprimida pela satisfação de falsas
necessidades criadas pelo sistema.
- Indústria Cultural: Conceito de Adorno e Horkheimer para descrever a produção em
massa de bens culturais padronizados (filmes, música) que servem para pacificar e controlar as
massas.
- Operaísmo: Corrente do marxismo italiano (Tronti, Panzieri) que inverte a análise
tradicional, colocando a luta da classe trabalhadora como o motor do desenvolvimento capitalista.
- Operário Social: Sujeito revolucionário que emerge quando a exploração se expande
da fábrica para toda a "fábrica social" (cidade, território, redes).
- Pseudo-Individualização: Criação de ilusão de escolha e personalidade dentro de um
sistema profundamente padronizado (Adorno).
- Razão Instrumental: Conceito da Escola de Frankfurt para descrever uma forma de
razão focada apenas nos meios mais eficientes para atingir um fim (cálculo, controle), sem
questionar a racionalidade dos próprios fins.
- Recusa do Trabalho: Estratégia política associada ao Operaísmo que consiste na
luta dos trabalhadores para reduzir a centralidade do trabalho em suas vidas, lutando por menos
horas, mais salário e mais autonomia.
💭 Exercícios de Análise
1. O Smartphone: Libertação ou Dominação? Analise seu smartphone usando as três
lentes deste capítulo. (a) Frankfurt: De que maneiras ele cria "falsas necessidades" e funciona como
indústria cultural (apps de entretenimento infinito, notificações que capturam atenção)? (b)
Operaísmo: Quem trabalha para produzir seu smartphone e como eles resistem (greves na Foxconn,
sindicatos de mineradores de coltan)? (c) Pós-Colonial: Onde foi projetado, onde foi fabricado, de
onde vêm os materiais? Que relações de poder essa geografia revela?
2. Algoritmos como Campo de Batalha: Escolha uma plataforma que você usa (Instagram,
Uber, Spotify). Identifique: (a) Como o algoritmo tenta controlar seu comportamento (gamificação,
notificações, recomendações); (b) Como usuários resistem ou "jogam" o algoritmo (fake engagement,
múltiplas contas, scripts de automação); (c) Como o algoritmo foi desenhado para extrair valor de você
(dados, atenção, trabalho gratuito de curadoria) sem compensação justa.
3. Tecnologia e Luta no seu Trabalho: Pense no seu local de trabalho ou estudo. Você
consegue identificar: (a) Uma tecnologia introduzida para aumentar controle e disciplina (câmeras,
software de monitoramento, sistemas de avaliação); (b) Formas de resistência formal ou informal a essa
tecnologia (burlar o sistema, trabalho-padrão, recusa coletiva); (c) Se essa tecnologia foi imposta de
cima (gerência, multinacional) ou co-projetada com trabalhadores? Que diferença isso faz?
4. Dependência Tecnológica Periférica: Liste 5 tecnologias que você usa diariamente
(apps, sistemas operacionais, serviços web). Para cada uma: Onde foi projetada? Quem controla seu
código-fonte? Existem alternativas brasileiras/latino-americanas? Por que você acha que não usamos
alternativas locais? Essa dependência tem consequências políticas (privacidade, soberania,
possibilidade de regular)?
5. Cosmotécnicas Alternativas: Pesquise uma tecnologia indígena, quilombola ou
periférica brasileira (ex: agrofloresta guarani, sistemas de mutirão, gambiarras urbanas). Como ela
resolve problemas de forma diferente das tecnologias "modernas"? Que valores e relações sociais ela
incorpora? Por que essas tecnologias são consideradas "atrasadas" quando na verdade podem ser mais
sustentáveis ou adequadas ao contexto local?
🔗 Conexões com Outros Capítulos
Este capítulo apresenta a distinção
fundamental entre cibernética de 1ª e 2ª ordem — a chave conceitual que atravessa
TODO o livro. É o "mapa" que usaremos para navegar entre controle e libertação:
🔑
Conceitos-chave desenvolvidos aqui
- Cibernética 1ª Ordem: Controle externo, feedback negativo, redução de
variedade (homeostase)
- Cibernética 2ª Ordem: Auto-organização, feedback positivo, aumento de
variedade (evolução)
- Lei de Ashby (Variedade Requisita): Para controlar um sistema complexo,
o controlador precisa ter variedade igual ou maior
- Feedback Democrático: Participação como requisito técnico (não apenas
moral) para planejamento eficaz
🔮
Como esses conceitos serão aplicados em TODO o livro
🎯
Manifestações práticas da distinção 1ª ↔ 2ª ordem
1ª Ordem (Controle):
- Cap 8: Gerenciamento algorítmico (Uber
controla entregadores)
- Cap 14: Vigilância em massa (NSA,
reconhecimento facial)
- Cap 15: IA como caixa-preta (decisões sem
explicação)
- Cap 22: Necropolítica algorítmica (quem
vive/morre)
2ª Ordem (Libertação):
- Cap 9: Multidão auto-organizada (MST, MTST)
- Cap 12: Ciberfeminismo (hackfeministas,
Laboria Cuboniks)
- Cap 19: Cooperativas de plataforma
(autogestão)
- Cap 26: Nhandereko Guarani (cosmotécnica
recursiva)
🧠
Debates filosóficos que embasam
- Cap 2: Cibernética 1ª — Norbert Wiener, teoria do
controle clássica
- Cap 6 (este): — Heinz von Foerster, Gregory Bateson, Stafford Beer =
virada para 2ª ordem
- Cap 7: Operaísmo — "Inversão da perspectiva" =
agência sobre estrutura (conexão com 2ª ordem)
- Cap 10: Wertkritik — "Sujeito Automático" =
sistema de 1ª ordem que domina todos
💡 Por que este capítulo é
FUNDAMENTAL:
A distinção 1ª ↔ 2ª ordem não é "só teoria". É o
mapa conceitual que permite navegar todo o livro. Sempre que você ver
"controle, centralização, redução de variedade" → pense 1ª ordem (problema). Sempre que ver
"auto-organização, feedback democrático, aumento de variedade" → pense 2ª ordem (solução).
Esta é a bússola do livro.
⚠️ Revisitar este capítulo: Se em qualquer momento você se perder nos debates
(Caps 9-11) ou nas aplicações (Caps 17-24), volte aqui. A distinção 1ª ↔ 2ª ordem é o fio
vermelho que conecta tudo.
🔗 Conexões com Outros Capítulos
🔄
Fundamentos que Este Capítulo Estabelece
Três tradições marxistas apresentadas aqui serão USADAS em todo o
livro:
- Operaísmo Italiano (anos 60-70): Inversão da perspectiva —
partir da recusa do trabalho pelos operários, não do Capital. Revolução
tecnológica NÃO imposta "de cima", mas resposta à insubordinação
operária. Essa metodologia volta em Cap 8 (análise do
pós-fordismo), Cap 9 (pós-operaísmo digital), Cap
19 (cooperativas como recusa).
- Escola de Frankfurt (Marcuse, Adorno, Horkheimer): Crítica da
razão instrumental — tecnologia não é neutra, está inscrita com a
lógica da dominação. "Conforto + controle = aceitação da opressão." Essa visão
pessimista retorna em Cap 10 (Wertkritik), Cap
14 (engenharia de vício), Cap
21 (fascismo digital).
- Crítica Pós-Colonial (Fanon): Tecnologia não chega "neutra" na
periferia — chega com colonialidade inscrita. Essa perspectiva
estrutura Cap 20 (geopolítica digital), Cap
25 (modelo chinês), Caps
26-28 (cosmotécnicas alternativas).
Por que "debates CLÁSSICOS" importam? Porque não há novidade
total no digital. Debates anos 60-70 sobre automação fabril, alienação
tecnológica, imperialismo técnico já continham as perguntas que
fazemos hoje sobre IA, uberização, colonialismo de dados. Aprender com história =
não reinventar a roda teoricamente.
⚡
Aplicações Contemporâneas Diretas
Cap 8 (Trabalho Imaterial): Operaísmo
aplicado ao pós-fordismo. A "recusa do trabalho" fabril (anos 70) forçou
capital a reestruturar → nasceu trabalho imaterial, uberização, fábrica social.
Metodologia operaísta: não perguntar "o que o Capital quer?", mas "como
trabalhadores estão resistindo AGORA?" (resposta 2020s: breques dos apps, quiet
quitting, great resignation).
Cap 9 (Pós-Operaísmo): Atualização digital do
Operaísmo. Se Cap 7 analisa anos 60-70, Cap 9 analisa anos 90-2000s.
Negri/Hardt/Lazzarato pegam método operaísta e aplicam à era do general
intellect digital. Este capítulo é o DNA histórico do Cap
9 — não entende pós-operaísmo sem entender operaísmo.
Cap 17 (OGAS + Cybersyn): Debate "tecnologia
serve a quem?" (Marcuse vs. Operaísmo) ganha TESTE HISTÓRICO. Cybersyn (Chile
1971-73) provou que mesma cibernética pode servir trabalhadores se
houver controle democrático. Tecnologia não é naturalmente opressora (contra
Frankfurt) NEM naturalmente neutra (contra liberais) — é campo de batalha
política.
🧭
Posicionamento Teórico do Livro
Este livro toma posição ENTRE as tradições apresentadas:
- Com o Operaísmo: Partir da agência dos
trabalhadores/usuários, não da fatalidade do Capital. Tecnologia como resposta a
lutas, não causa primeira.
- Com Frankfurt: Reconhecer que tecnologia pode
cristalizar dominação (gerenciamento algorítmico, vigilância, vício). Não há
otimismo ingênuo.
- Com Pós-Colonialismo: Centralizar perspectiva periférica.
Brasil não é "atrasado" — é laboratório onde contradições aparecem mais cruas.
- Síntese via Cibernética de 2ª Ordem (Cap
6): Tecnologia não é neutra NEM determinada. É
sistema aberto que pode evoluir para controle (1ª ordem) OU
liberação (2ª ordem) dependendo de quem controla os feedbacks.
Cap 23 retomará essas três tradições e mostrará como
Dupla Face da Cibernética as sintetiza: Marcuse tinha razão sobre
face de controle (IA vigiando entregadores), Operaísmo tinha razão sobre face de
liberação (cooperativas digitais), Fanon tinha razão sobre inscrição colonial
(algoritmos treinados com viés eurocêntrico).
🌍
Por Que Perspectiva Periférica Importa Aqui?
Eurocentrismo dos debates clássicos: Operaísmo italiano focou
operários brancos de Turim/Milão (indústria automobilística). Frankfurt analisou
Alemanha/EUA. Fanon foi exceção — pensou colonizado. Problema:
"classe trabalhadora" nesses debates = homem branco europeu. Trabalho doméstico
feminino, trabalho escravo colonial, trabalho campesino periférico =
invisibilizados.
Descentrar o Norte: Quando aplicamos Operaísmo ao Brasil (Cap 8 sobre uberização), precisamos incluir: raça
(70% entregadores são negros), gênero (trabalho afetivo feminizado),
território (periferia urbana). Não é "acrescentar" essas variáveis — é
reconhecer que classe SEMPRE foi racializada, generificada,
territorializada. Norte globalizou sua particularidade como universal.
Sul como laboratório: Contradições que Europa levou décadas para
desenvolver (precarização pós-fordista) chegaram ao Brasil comprimidas e
brutalizadas. Não tivemos "30 anos dourados" de fordismo — pulamos direto
para precariedade. Por isso Brasil é futuro do trabalho global, não
"atraso". Caps 26-28 mostrarão: periferia não deve "alcançar" Norte, mas
oferecer outros futuros (cosmotécnicas não-eurocêntricas).
🧠 Mensagem-Chave: Este capítulo não é "história das ideias" — é
caixa de ferramentas conceitual. Cada tradição oferece um método:
Operaísmo ensina a partir das lutas, Frankfurt ensina a desconfiar do
conforto tecnológico, Pós-Colonialismo ensina a questionar a universalidade
eurocêntrica. Você usará essas ferramentas em TODO o resto do livro. Não decore
nomes — absorva os métodos.
💡 Dica de Leitura: Se você está lendo linearmente (Cap 1 → Cap 28),
absorva este capítulo como "mapa teórico". Se está pulando capítulos, volte aqui
quando encontrar referências a Operaísmo/Frankfurt/Fanon — este é o
capítulo-âncora que explica de onde vêm essas tradições e por que importam para análise
do digital.
📚 Leituras Complementares
- Nível Introdutório:
- Feenberg, A. (2002). Transforming Technology: A Critical Theory Revisited. (Uma tentativa
moderna de atualizar a crítica da tecnologia da Escola de Frankfurt, acessível e aplicada).
- Wright, S. (2002). Storming Heaven: Class Composition and Struggle in Italian Autonomist
Marxism. (Introdução histórica ao operaísmo italiano, contextualizando lutas nas fábricas).
- Nível Intermediário:
- Marcuse, H. (1964). One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial
Society. (O clássico de Marcuse sobre a sociedade tecnológica e o controle através do
conforto).
- Fanon, F. (1961). Os Condenados da Terra. (Análise fundamental sobre colonialismo,
violência e descolonização, incluindo o papel da tecnologia).
- Couldry, N., & Mejias, U. (2019). The Costs of Connection: How Data Is Colonizing Human Life
and Appropriating It for Capitalism. (Análise contemporânea do colonialismo de dados).
- Nível Avançado:
- Horkheimer, M., & Adorno, T. W. (1947). Dialectic of Enlightenment. (Obra difícil mas
fundamental para entender a crítica à razão instrumental e à indústria cultural).
- Tronti, M. (1966). Workers and Capital (Operai e Capitale). (O texto fundador do
Operaísmo, que articula a inversão da perspectiva marxista. Leitura densa mas essencial).
- Hui, Y. (2016). The Question Concerning Technology in China: An Essay in Cosmotechnics.
(Crítica filosófica profunda à imposição da cosmotécnica europeia como universal).
- Quijano, A. (2000). "Coloniality of Power, Eurocentrism, and Latin America". (Artigo
seminal sobre colonialidade e modernidade, essencial para entender dependência tecnológica).
- Contexto Brasileiro:
- Abílio, L. C. (2019). Uberização: A era do trabalhador just-in-time?. (Análise operaísta
aplicada ao trabalho de plataforma no Brasil).
- Krenak, A. (2019). Ideias para adiar o fim do mundo. (Perspectiva indígena brasileira sobre
modernidade, tecnologia e cosmotécnicas alternativas).

Capítulo 8
Capítulo 8: Trabalho Imaterial, Cognitivo e Afetivo
8.1 A Crise do Fordismo e a Emergência do Pós-Fordismo
Durante os "trinta anos dourados" do capitalismo após a Segunda Guerra Mundial (aproximadamente
1945-1975), o modelo dominante de produção era o fordismo. Nomeado em homenagem
a Henry Ford, ele se baseava na produção em massa de bens padronizados através da linha de
montagem. O trabalho era hierarquizado, repetitivo e profundamente alienante, mas vinha
acompanhado de uma contrapartida: o chamado "pacto fordista". Em troca da paz na fábrica, os
trabalhadores organizados em sindicatos fortes conquistaram ganhos salariais, estabilidade no
emprego e acesso ao consumo em massa. O mesmo operário que produzia o carro durante o dia podia,
em tese, comprá-lo.
Esse modelo entrou em crise nos anos 1970. As razões foram múltiplas: a crise do petróleo, que
aumentou os custos de energia; a saturação dos mercados de consumo nos países centrais; e a
crescente concorrência internacional. Mas para a tradição operaísta que vimos no capítulo
anterior, a razão fundamental foi interna: a recusa do trabalho pela classe
operária. Greves selvagens, sabotagem, absenteísmo e uma rejeição geral à vida cronometrada e
alienante da fábrica tornaram o modelo fordista ingovernável.
O capital respondeu com uma reestruturação profunda, dando origem ao que chamamos de
pós-fordismo ou acumulação flexível. As gigantescas fábricas
verticalizadas foram desmontadas em favor da terceirização e de cadeias de produção globais. A
produção em massa foi substituída pela produção just-in-time, mais ágil e customizável.
E, o mais importante, o centro de gravidade da criação de valor começou a se deslocar da
produção de bens materiais para uma economia baseada em serviços, finanças, informação e
conhecimento. É nesse novo contexto que surgem novas formas de trabalho.
8.2 O Trabalho Imaterial: A Mercadoria é a Informação e a Cultura
O filósofo e sociólogo italiano Maurizio Lazzarato, partindo da tradição
operaísta, cunhou o termo trabalho imaterial para descrever a atividade que se
tornou hegemônica no pós-fordismo. Trata-se do trabalho cujo produto principal não é um bem
físico, tangível, mas sim um bem imaterial: uma informação, um dado, um conhecimento, um
programa de computador, uma campanha publicitária, uma relação social ou uma resposta afetiva.
👤
Maurizio Lazzarato
(1955-)
Sociólogo
e filósofo italiano radicado na França, Lazzarato é um dos principais teóricos do
pós-operaísmo. Foi o primeiro a sistematizar o conceito de "trabalho imaterial" em um
artigo seminal de 1996. Sua obra conecta a análise marxista do trabalho com as
transformações do capitalismo pós-fordista, focando especialmente no papel do
conhecimento, da comunicação e dos afetos na produção contemporânea. Além do trabalho
imaterial, Lazzarato desenvolveu importantes análises sobre a sociedade da dívida,
argumentando que o endividamento (de estudantes, trabalhadores, países periféricos) é
uma forma de controle social que subordina o futuro ao presente do capital. Sua obra
influenciou profundamente o debate sobre economia digital, criatividade e
precarização.
Lazzarato identifica duas dimensões do trabalho imaterial que frequentemente se
sobrepõem:
1. Dimensão Informacional: Transformação de inputs informativos em outputs
informativos. Exemplos: programar software, analisar dados, desenhar interfaces, produzir
conteúdo digital. O produto é conhecimento codificado.
2. Dimensão Cultural/Afetiva: Produção de normas
culturais, gostos, opiniões, relações sociais e estados emocionais. Exemplos: trabalho de
influenciadores, publicitários, designers de moda, profissionais de atendimento ao cliente.
O produto é subjetividade e desejo.
Essas duas dimensões raramente existem isoladas. Um game designer, por exemplo, precisa
dominar código (dimensão informacional) e criar experiências emocionalmente envolventes
(dimensão afetiva). Um community manager de rede social manipula dados de engajamento
e cultiva relações com a comunidade. Um streamer da Twitch produz conteúdo
audiovisual e performa uma personalidade que cria laços parasociais com a audiência.
O conceito de trabalho imaterial desafia frontalmente a teoria do valor-trabalho
clássica. Se Marx analisou a produção de valor a partir do tempo de trabalho socialmente
necessário para produzir mercadorias materiais, como medir o tempo necessário para produzir uma
ideia, um relacionamento, um sentimento? Como calcular a mais-valia quando o "produto" é uma
postagem viral, um algoritmo de recomendação ou uma experiência de marca? Essa questão será
central no debate entre pós-operaísmo (Cap 9) e crítica do valor (Cap 10).
8.3 Trabalho Cognitivo e o "General Intellect"
Dentro do trabalho imaterial, o trabalho cognitivo merece atenção especial. Ele
se refere às atividades que manipulam conhecimento, informação e símbolos —
desde programadores e cientistas de dados até designers, pesquisadores, professores e analistas.
O que distingue o trabalho cognitivo do trabalho manual tradicional não é a ausência de esforço
físico (programar 12 horas por dia é fisicamente exaustivo), mas o fato de que seu valor
deriva primariamente de operações mentais: raciocínio lógico, criatividade, resolução de
problemas, síntese de informação.
Marx, nos Grundrisse (manuscritos preparatórios para O Capital), antecipou
essa transformação com o conceito de "general intellect" (intelecto geral).
Ele observou que, à medida que o capitalismo se desenvolve, o conhecimento científico e técnico
acumulado pela sociedade — não apenas o trabalho direto — torna-se cada vez mais importante para
a produção. Máquinas incorporam conhecimento científico; processos produtivos dependem de
expertise coletiva; a inovação se torna fonte de vantagem competitiva. O general intellect é
esse conhecimento social coletivo que se torna força produtiva.
📖 Marx e o General Intellect nos Grundrisse
"A natureza não constrói máquinas, locomotivas, ferrovias, telégrafos elétricos, máquinas de
fiar automáticas etc. Elas são produtos da indústria humana; material natural transformado
em órgãos da vontade humana sobre a natureza, ou de sua atividade na natureza. Elas são
órgãos do cérebro humano criados pela mão humana; poder objetivado do conhecimento. O
desenvolvimento do capital fixo mostra até que ponto o conhecimento social geral
(general social knowledge) se tornou força produtiva direta."
💡 Interpretação pós-operaísta: Se no século XIX
o general intellect estava "fixado" nas máquinas (capital fixo), hoje ele circula
livremente através de redes digitais, software livre, educação massiva online,
colaboração científica global. O conhecimento se tornou social e
distribuído. O desafio político é: quem controla e se beneficia desse
conhecimento coletivo? O capital (via patentes, copyright, algoritmos proprietários) ou o
comum (via acesso aberto, licenças livres, plataformas cooperativas)?
No capitalismo cognitivo contemporâneo, o general intellect assume formas concretas e
contraditórias:
💻
Exemplos Contemporâneos do General Intellect
Software Livre (Linux, Python, Git): Milhares de programadores
cooperam voluntariamente para criar infraestrutura digital que sustenta a Internet.
Empresas como Google, Amazon e Facebook lucram com esse trabalho coletivo sem
pagar diretamente por ele — uma forma de captura do comum.
Wikipedia: 6 milhões de artigos em inglês, 1,7 milhão em português,
escritos colaborativamente por voluntários. Substitui enciclopédias comerciais
(Britannica fechou edição impressa em 2012) e é fonte primária para assistentes de IA
(ChatGPT, Bard) — novamente, captura corporativa de produção comum.
Stack Overflow: Plataforma onde programadores respondem dúvidas
gratuitamente. Esse conhecimento coletivo vale bilhões — a empresa foi vendida por US$
1,8 bi em 2021, mas quem respondeu 10 milhões de perguntas não recebeu nada.
Dados de treinamento para IA: Modelos de linguagem (GPT, Gemini) são
treinados com bilhões de textos produzidos coletivamente (livros, artigos, posts, código
aberto). Resultado: general intellect capturado para criar modelos proprietários que
vendem acesso.
A questão central do trabalho cognitivo é: quem se apropria do valor criado pelo general
intellect? Marx imaginava que o conhecimento incorporado nas máquinas pertencia aos
capitalistas. Hoje, muito conhecimento é produzido coletivamente e fora da
relação salarial direta, mas ainda assim é privatizado via mecanismos legais
(propriedade intelectual) e técnicos (plataformas fechadas).
8.4 Trabalho Afetivo e a Produção Biopolítica
Se o trabalho cognitivo manipula informação, o trabalho afetivo manipula
emoções, relações e cuidado. Ele é tão antigo quanto a humanidade — cuidar de
crianças, idosos, doentes sempre foi trabalho essencial — mas no pós-fordismo ele se torna
central para a valorização do capital e assume novas formas através das plataformas
digitais.
👤
Michael Hardt
(1960-)
Professor
de literatura na Duke University (EUA) e colaborador de longa data de Antonio Negri,
Hardt é co-autor da trilogia que redefiniu o marxismo para a era da globalização:
Império (2000), Multidão (2004) e Commonwealth (2009). Sua
contribuição específica foi conectar a teoria política italiana (operaísmo,
pós-estruturalismo) com o contexto anglo-saxão e dar ênfase ao papel do trabalho
afetivo na economia contemporânea. Hardt argumenta que o trabalho afetivo
não é "suave" ou "feminino" em oposição ao trabalho "duro" industrial — é uma forma
igualmente brutal de exploração, onde corpo, mente e sentimentos são totalmente
mobilizados para a produção de valor.
Hardt e Negri identificam três tipos principais de trabalho afetivo:
1. Trabalho Corporal de Cuidado (Care Work): Enfermeiras, cuidadores de
idosos, babás, terapeutas, massagistas. Manipulam corpos e produzem bem-estar
físico, mas sempre através de interação afetiva (empatia, atenção, presença). É o
tipo mais tradicional e historicamente mais desvalorizado (visto como "naturalmente
feminino").
2. Trabalho de Manipulação de Afetos (Emotional
Labor): Atendentes de call center, comissários de bordo, garçons, vendedores,
professores. Devem performar estados emocionais específicos (simpatia, entusiasmo,
calma) independente de seus sentimentos reais. Arlie Hochschild chamou isso de "gestão
de emoções" — trabalho emocional que requer acting constante.
3. Trabalho de Produção de Sociabilidade (Affective
Communication): Influenciadores, community managers, moderadores, criadores de
conteúdo. Produzem conexões sociais, comunidades e identidades
coletivas. O "produto" é a própria teia de relações e o ambiente afetivo onde ela
ocorre.
O trabalho afetivo revela a face mais íntima da subsunção real: não apenas
nossos corpos e tempo de trabalho, mas nossa vida emocional e nossa capacidade
de criar vínculos são colocados a serviço da valorização do capital. O
influenciador não vende apenas produtos — vende sua própria personalidade, sua vida íntima
(quem namoram, onde moram, o que comem) torna-se conteúdo. O moderador de conteúdo absorve
trauma (vídeos de violência, abuso infantil) para manter plataformas "limpas" e
publicitariamente rentáveis.
🇵🇭
Caso: Moderadores de Conteúdo nas Filipinas
Manila, capital das
Filipinas, é o epicentro global da moderação de conteúdo — o trabalho
afetivo mais traumático da economia digital. Milhares de filipinos (inglês fluente,
salários baixos) trabalham para empresas terceirizadas (Accenture, Cognizant) revendo
conteúdo denunciado no Facebook, YouTube, TikTok, Twitter. Turno de 8-10h/dia assistindo
vídeos de decapitação, abuso sexual infantil, suicídio, terrorismo. Tarefas como: decidir
se vídeo de linchamento viola políticas da plataforma; identificar imagens de exploração
infantil; classificar discurso de ódio em 50 idiomas diferentes. Consequências
psicológicas: PTSD (transtorno de estresse pós-traumático), ansiedade,
depressão, embotamento afetivo. Empresa fornece "sala de descompressão" com puffs e
videogames, mas não terapia continuada. Salário: US$ 300-500/mês
(equivalente a R$ 1.500-2.500) — cerca de 1/10 do que ganharia trabalhador nos EUA para
mesma função. Análise: Trabalho afetivo extremo externalizado para
periferia global. Capital protege usuários do Norte de trauma, transferindo trauma para
trabalhadores do Sul. É subsunção real que captura não só tempo de trabalho, mas
saúde mental como recurso descartável. Veja documentário The Cleaners
(2018).
Hardt e Negri argumentam que entramos em uma fase de bioprodução ou
produção biopolítica. O capital não está mais interessado apenas em produzir
mercadorias; ele busca organizar e produzir a própria vida. O trabalho afetivo
é a linha de frente dessa produção, onde a saúde, o bem-estar, a segurança, a cultura e as
relações sociais se tornam negócios. A indústria farmacêutica, os planos de saúde, a indústria
do entretenimento, as empresas de segurança privada e as redes sociais são todas indústrias
biopolíticas que lucram com a gestão e produção da vida.
É impossível falar de trabalho afetivo sem mencionar sua profunda conexão com a
feminização do trabalho. Historicamente, as tarefas de cuidado, de manutenção
dos laços familiares e comunitários — o trabalho reprodutivo — foram atribuídas às mulheres e
sistematicamente desvalorizadas, consideradas um "não-trabalho" por não produzirem valor de
troca direto. Hoje, as qualidades associadas a esse trabalho (comunicação, empatia, capacidade
de cuidado, colaboração) são exatamente as qualidades que o capitalismo pós-fordista exige de
todos os trabalhadores no setor de serviços. O trabalho se torna "feminizado", mas isso não
significa uma valorização do feminino; significa a extensão da precariedade e da exploração
afetiva, antes confinadas à esfera doméstica, para todo o mercado de trabalho.
🏠
Trabalho Reprodutivo e Feminismo Marxista
O conceito de
trabalho reprodutivo foi desenvolvido por feministas marxistas como
Silvia Federici, Mariarosa Dalla Costa e Selma James nos anos 1970. Elas argumentavam
que o marxismo tradicional, focado na fábrica, ignorava o trabalho doméstico não-pago
(cozinhar, limpar, criar filhos, cuidado emocional) realizado principalmente por
mulheres. Esse trabalho não é "externo" à produção capitalista — é condição de
possibilidade dela: reproduz a força de trabalho (cria e mantém
trabalhadores saudáveis, alimentados, mentalmente estáveis). A campanha "Wages for
Housework" (Salários para o Trabalho Doméstico) propunha remunerar esse trabalho para
visibilizar sua centralidade. Hoje, apps como TaskRabbit, Handy (limpeza), Care.com
(babás/idosos) plataformizam o trabalho reprodutivo — ele se torna
mercadoria formal, mas permanece precarizado, mal pago e racializado (maioria são
mulheres negras e imigrantes). Cap 12
(Ciberfeminismo) retoma e aprofunda.
8.5 A Ambiguidade do Trabalho Imaterial
Assim como a tecnologia em geral, o trabalho imaterial é profundamente ambíguo e contraditório.
Ele representa, ao mesmo tempo, uma nova fronteira da exploração e um novo potencial de
libertação.
Por um lado, o trabalho imaterial, por se basear no conhecimento, na criatividade e na
cooperação, abre a possibilidade de uma maior autonomia para os trabalhadores.
Ele demonstra o poder do general intellect em ação, a capacidade da multidão de se
auto-organizar e produzir valor fora do comando direto do capital. A existência de projetos de
software de código aberto, de enciclopédias colaborativas como a Wikipédia ou de movimentos
sociais articulados em rede são exemplos desse potencial libertador.
Por outro lado, o trabalho imaterial é a base para uma precarização sem
precedentes. Ao dissolver as fronteiras entre o tempo de trabalho e o tempo de vida, ele leva a
uma exploração que se estende por 24 horas, 7 dias por semana. O trabalhador cognitivo nunca
"desliga"; ele é constantemente assombrado pela necessidade de ser criativo, de se atualizar, de
gerenciar seus projetos. O trabalhador afetivo, por sua vez, sofre de exaustão emocional e
burnout, pois seu próprio eu e seus sentimentos se tornam ferramentas de trabalho. A
"uberização", que analisamos no Capítulo 3, é a expressão mais brutal dessa precariedade, onde a
autonomia formal de ser "seu próprio chefe" esconde uma completa subordinação ao controle
algorítmico e uma exploração intensificada.
⚠️ As Três Armadilhas do Trabalho Imaterial
1. Ilusão de Autonomia: "Seja seu próprio chefe", "trabalhe de onde
quiser", "escolha seus horários". O discurso empreendedor oculta que autonomia
formal (não ter patrão visível) coexiste com subordinação real (algoritmo
define quanto você ganha, quando trabalha, se continua na plataforma). Motorista Uber não
tem chefe humano, mas tem chefe algorítmico mais totalitário que qualquer
gerente fordista — ele vigia 24/7, não negocia, não tem empatia.
2. Exploração Invisibilizada: No fordismo,
exploração era visível (8h na linha de montagem = X reais). No trabalho imaterial,
exploração se camufla: "criar conteúdo não é trabalho, é diversão"; "responder e-mail à
noite não conta como hora extra, é só 5 minutinhos"; "participar de rede social não é
produzir valor, é socializar". Resultado: trabalho gratuito massivo
(usuários geram conteúdo/dados que plataformas monetizam).
3. Autoexploração Gamificada: Quando trabalho vira
"paixão", exploração vira "autorrealização". Designer gráfico trabalha 60h/semana porque
"ama o que faz"; streamer transmite 10h/dia porque "é seu sonho"; cientista faz pós-doc
temporário atrás de pós-doc porque "acredita na ciência". Paixão como
ideologia: quanto mais você ama seu trabalho, mais aceita condições precárias
(salário baixo, sem direitos, instabilidade). Como diz Lazzarato: "O capital não explora
apenas músculos — explora desejos."
8.6 Casos Brasileiros: Do Call Center ao Impulsionamento
O Brasil é laboratório privilegiado para observar as contradições do trabalho imaterial na
periferia do capitalismo global. Aqui, a transição do fordismo para o pós-fordismo foi
truncada — nunca tivemos um "pacto fordista" robusto (direitos trabalhistas
sempre foram precários para a maioria), e a industrialização foi incompleta
(desindustrialização precoce nos anos 1990). O trabalho imaterial surge não como "evolução" do
trabalho industrial, mas como alternativa à exclusão do mercado formal.
📞
Caso 1: Call Centers — Fordismo Afetivo
Brasil tem ~1,5 milhão
de trabalhadores em call centers (telemarketing, SAC, vendas por
telefone, suporte técnico). Perfil: maioria mulheres (70%), jovens (18-35 anos), ensino
médio completo, salário médio R$ 1.400-1.800. Organização do trabalho:
hipercontrolada via software: tempo médio de atendimento (TMA) monitorado em segundos,
pausas para banheiro cronometradas, scripts obrigatórios ("Bom dia, meu nome é..."),
gravação de 100% das ligações, escuta aleatória por supervisor. É
taylorismo aplicado à fala: gesto do trabalho (conversa) é decomposto,
padronizado, medido, acelerado. Dimensão afetiva: operador deve
performar emoções (simpatia, paciência, compreensão) enquanto recebe xingamentos,
ameaças, choro de clientes. É trabalho afetivo sob forma industrial — combina pior do
fordismo (controle rígido, repetição alienante) com pior do pós-fordismo (gerenciar
emoções, absorver violência verbal). Patologias: LER/DORT (lesões por
esforço repetitivo — digitação + fala 6h seguidas), transtornos de ansiedade, perda de
voz. Rotatividade altíssima (50-80%/ano). Call center brasileiro = trabalho imaterial
como linha de montagem de afetos padronizados.
📱
Caso 2: Criadores de Conteúdo — A Meritocracia do Algoritmo
Brasil é 2º maior
mercado do YouTube (em tempo assistido) e 3º do Instagram. Milhões de brasileiros tentam
"virar influencer" — estima-se 500 mil+ pessoas vivendo (ou tentando viver) de criação
de conteúdo. Pirâmide da influência: Topo (0,01%): celebridades digitais
(Whindersson Nunes, Felipe Neto) com milhões de seguidores e contratos milionários.
Meio (5-10%): microinfluencers (10k-100k seguidores) que complementam renda com
publis/afiliados (R$ 500-5.000/mês). Base (90%): aspirantes que trabalham de graça ou
prejuízo (investem em equipamento, edição, tempo) na esperança de "viralizar".
Trabalho invisível: Para cada vídeo de 10 minutos, 6-20h de trabalho
(roteiro, gravação, edição, thumbnail, SEO, responder comentários, análise de métricas).
Exploração tripla: 1) Plataforma fica com 45% da receita publicitária
(YouTube) ou 100% se você não monetizou (todos geram dados/atenção, poucos recebem); 2)
Marcas pagam mal ("faço publi em troca de produto"); 3) Algoritmo distribui valor de
forma lotérica (viralização imprevisível). Dimensão afetiva extrema:
Influencer vende vida pessoal — namoro, divórcio, gravidez, luto viram conteúdo. Não há
"vida privada" quando sua renda depende de compartilhar intimidade. YouTuber brasileiro
médio trabalha 50-70h/semana, não tem férias (algoritmo pune inatividade), sofre assédio
em DMs, depende de plataforma que muda regras arbitrariamente (desmonetização sem
aviso). É trabalho imaterial como casino: poucas ganham muito, maioria
perde tempo/dinheiro, todas alimentam a banca (plataforma).
💰
Caso 3: "Impulsionadores" — Trabalho Cognitivo Periférico
Fenômeno emergente no
Brasil: milhares de pessoas oferecem serviços de gestão de mídias
sociais, tráfego pago, impulsionamento
para pequenos negócios. Perfil: jovens que fizeram cursos online sobre "marketing
digital" (muitas vezes vendidos por pirâmides disfarçadas — "curso de como vender
cursos"). Cobram R$ 300-1.500/mês para: postar no Instagram de lojinha, fazer anúncios
no Facebook, responder DMs, "criar engajamento". É trabalho cognitivo
(requer conhecimento de algoritmos, métricas, copywriting), mas extremamente
desvalorizado e precarizado: sem contrato, pagamento
irregular, cliente cancela sem aviso, concorrência brutal (milhares oferecendo mesmo
serviço). Contradição: Vendem "expertise" em algoritmo, mas são
igualmente subordinados ao algoritmo (mudança no algoritmo do Meta destrói estratégia da
noite pro dia). Dimensão de classe: Maioria são jovens de periferia que
viram no "marketing digital" chance de trabalhar "home office" e escapar de empregos
formais ruins (salário mínimo, deslocamento longo). Acabam trocando exploração formal
por autoexploração precária — trabalham mais horas, ganham menos, sem
direitos. É general intellect (conhecimento de algoritmos) sendo apropriado de forma
periférica: Google/Meta lucram bilhões com anúncios, impulsionador brasileiro ganha
migalhas.
8.7 Subsunção Real Cibernética: Quando a Vida se Torna Trabalho
Marx distinguiu duas formas de subordinação do trabalho ao capital: subsunção
formal (capital compra força de trabalho, mas não transforma o processo produtivo —
ex: artesão que trabalha para comerciante) e subsunção real (capital
reestrutura totalmente o processo — ex: linha de montagem fordista). No fordismo, subsunção real
era espacial (fábrica) e temporal (jornada fixa). Fora da
fábrica, fora do horário, você estava livre.
O trabalho imaterial representa uma subsunção real de terceira ordem — o que
alguns autores chamam de subsunção real cibernética ou subsunção
vital. O capital não captura apenas seu tempo de trabalho na fábrica; ele captura
sua vida inteira:
→ Temporal: Trabalho 24/7. Você "nunca está offline". E-mails de trabalho à
meia-noite. Mensagem do chefe no domingo. Post do seu perfil "profissional" no Instagram às
22h. Curso online para "se atualizar" no sábado. Networking em "happy hour" após expediente
(que é trabalho disfarçado de lazer).
→ Espacial: Trabalho anywhere. "Home office" =
casa vira escritório. Café vira sala de reunião (Zoom no Starbucks). Transporte vira
produtivo (ler relatório no metrô, responder e-mail no Uber). Não há mais "espaço livre" do
capital.
→ Subjetiva: Trabalho é identidade. "Sou
designer", "sou empreendedor", "sou criador de conteúdo". Hobbies viram side hustles (gosta
de desenhar? venda no Etsy; gosta de cozinhar? vire personal chef; gosta de fitness? vire
coach). Não há self fora do trabalho.
→ Afetiva: Sentimentos viram trabalho.
"Autenticidade", "paixão", "propósito" são requisitos do job description. Você deve
amar seu trabalho, estar engajado, ter vibe com a equipe. Não
basta trabalhar — precisa ser feliz trabalhando (e performar essa felicidade
no LinkedIn).
→ Biológica: Corpo vira capital humano. Saúde,
sono, alimentação, exercício são "investimentos" em produtividade. Apps de wellness
(Headspace, Calm) não combatem o burnout — gerenciam o burnout para você
aguentar trabalhar mais. "Self-care" vira self-management para o mercado.
Essa totalização não significa que o capital venceu completamente. Significa que as
contradições se aprofundam: se tudo é trabalho, então toda revolta é
potencialmente revolta contra o trabalho; se a cooperação social produz valor, então ela pode
produzir valor para nós, não para o capital; se o conhecimento é coletivo, então a
propriedade intelectual é roubo do comum.
Essa contradição fundamental — entre a autonomia da cooperação social e a captura capitalista do
valor gerado — é o terreno sobre o qual as teorias marxistas contemporâneas, que exploraremos na
Parte III, irão se desenvolver. Elas tentarão responder à pergunta: como lutar dentro da fábrica
social?
🇧🇷
Perspectiva Periférica: A Uberização no Brasil
O Brasil se tornou um
dos maiores laboratórios globais da uberização. Em 2024, estima-se que mais de 1,5
milhão de brasileiros trabalham como entregadores ou motoristas de aplicativo (iFood,
Uber, 99, Rappi). A maioria são homens negros (70%), jovens, sem carteira assinada.
Ganham em média R$ 1.200-1.800/mês trabalhando 10-12h/dia, arcando com todos os custos
(gasolina, manutenção, celular). A taxa de desemprego estruturalmente alta no Brasil
(média 10-12%) cria um "exército de reserva" permanente que pressiona salários para
baixo — a uberização não é "escolha", mas necessidade de sobrevivência. Durante a
pandemia de COVID-19, esses trabalhadores foram classificados como "essenciais" para
continuar circulando, mas sem direitos: sem auxílio-doença, sem equipamento de proteção
fornecido pelas empresas. Os "breques dos apps" (2020-2021) — paralisações coordenadas
via WhatsApp — revelaram capacidade de organização horizontal, mas também a dificuldade
de sindicalização quando não há "patrão" visível. A uberização brasileira é subsunção
real cibernética em sua forma mais crua: algoritmo como gerente, precariedade como
regra, periferia como laboratório do futuro do trabalho global.
Essa contradição fundamental — entre a autonomia da cooperação social e a captura capitalista do
valor gerado — é o terreno sobre o qual as teorias marxistas contemporâneas, que exploraremos na
Parte III, irão se desenvolver. Elas tentarão responder à pergunta: como lutar dentro da fábrica
social?
🔮 Antecipação — Trabalho Afetivo Circula via
Arquitetura Comunicacional
O trabalho afetivo não existe sem comunicação. Quando influencer vende
"autenticidade", moderador processa trauma, terapeuta oferece escuta — todos produzem valor
através de interação comunicacional. A mercadoria não é tangível, é
relacional, linguística, performática.
💡 Conexão ao Capítulo
29: Como o
trabalho imaterial/afetivo depende estruturalmente de arquiteturas de
comunicação será explorado no Cap 29. Instagram não apenas "hospeda"
influencers — ele constrói as affordances (botões, métricas, filtros) que
determinam como afetos podem ser monetizados. Algoritmo de recomendação não
"transmite" conteúdo — ele cria contextos afetivos (feed de raiva, echo
chambers). Comunicação não é veículo do trabalho imaterial — é sua substância
mesma. Cap 29 mostra: controlar comunicação = controlar produção de valor
cognitivo-afetivo.
🔑 Mini-Glossário do Capítulo
- Bioprodução (ou Produção Biopolítica): Conceito de Hardt e Negri para
descrever uma fase do capitalismo que busca gerenciar e produzir não apenas mercadorias, mas a
própria vida social (saúde, segurança, cultura, relações).
- Capitalismo Cognitivo: Paradigma em que o conhecimento e a informação se
tornam as principais fontes de criação de valor, e o capital busca capturar e privatizar o
conhecimento produzido socialmente.
- Emotional Labor (Trabalho Emocional): Conceito de Arlie Hochschild que
descreve o trabalho de gerenciar e performar emoções como parte das obrigações profissionais
(ex: comissário de bordo sempre sorrindo, atendente sempre paciente).
- Fábrica Social: Conceito que descreve a extensão da produção de valor para
além dos muros da fábrica, abrangendo toda a sociedade (comunicação, cultura, lazer). No
pós-fordismo, toda a vida social se torna produtiva para o capital.
- Feminização do Trabalho: Processo pelo qual as características
historicamente associadas ao trabalho feminino (cuidado, comunicação, afetividade, flexibilidade)
se tornam requisitos gerais do mercado de trabalho pós-fordista, mas sem valorização material
correspondente.
- Fordismo: Modelo de produção em massa baseado na linha de montagem, trabalho
padronizado e um pacto social entre capital e trabalho organizado que garantia estabilidade e
consumo.
- General Intellect (Intelecto Geral): Conceito de Marx (Grundrisse) que
descreve o conhecimento social coletivo que se torna força produtiva. No capitalismo digital,
refere-se ao conhecimento distribuído em redes, software livre, colaboração científica, etc.
- Pós-Fordismo (ou Acumulação Flexível): Modelo de produção que sucede o
fordismo, caracterizado pela flexibilização, terceirização, produção just-in-time e a
centralidade do trabalho imaterial.
- Subsunção Formal: Em Marx, subordinação do trabalho ao capital sem
transformação do processo produtivo (artesão trabalha para comerciante, mas mantém controle do
ofício).
- Subsunção Real: Subordinação do trabalho ao capital COM transformação radical
do processo (fordismo: linha de montagem decompõe gestos do trabalhador).
- Subsunção Real Cibernética (ou Vital): No capitalismo digital, subordinação
não apenas do tempo de trabalho, mas da vida inteira — afetos, relações, conhecimento, corpo,
lazer. Trabalho 24/7 via plataformas.
- Trabalho Afetivo: Trabalho que produz ou manipula afetos e experiências
emocionais, como o cuidado (enfermeiras), o entretenimento (influencers) e os serviços de
atendimento (call centers). Envolve corpos, emoções e relações sociais.
- Trabalho Cognitivo: Trabalho baseado na manipulação de conhecimento,
informação e símbolos, como programação, design, pesquisa, análise de dados e produção de
conteúdo.
- Trabalho Imaterial: Categoria que engloba o trabalho cognitivo e o afetivo,
cujo produto principal não é um bem material, mas sim informacional, cultural ou relacional.
Cunhado por Maurizio Lazzarato.
- Trabalho Reprodutivo: Trabalho (historicamente feminino e não-pago) que
reproduz a força de trabalho: cuidado de crianças, idosos, doentes; preparar comida; limpeza;
manutenção de laços familiares e comunitários. Feministas marxistas (Federici, Dalla Costa)
argumentam que é condição de possibilidade da produção capitalista.
💭 Exercícios de Análise
- O Fim do Expediente: Pense em sua própria rotina de trabalho ou estudo.
Você consegue identificar momentos em que, mesmo fora do horário oficial, você continua
"trabalhando" (respondendo e-mails, pensando em um problema, planejando o dia seguinte)?
Como a fronteira entre tempo de trabalho e tempo de vida se tornou mais porosa para você?
- O Valor de um Like: Quando você dá um "like" em uma postagem, comenta ou
compartilha conteúdo, você está realizando um trabalho não pago para a plataforma. Tente
estimar quantas dessas micro-interações você realiza por dia. Como você se sente ao pensar
nisso como um "trabalho" que gera lucro para outra pessoa?
- A Economia do Cuidado: O trabalho de cuidado (de crianças, de idosos, de
pessoas doentes) é um exemplo clássico de trabalho afetivo, historicamente desvalorizado.
Por que você acha que esse trabalho é tão essencial para a sociedade, mas muitas vezes tão
mal remunerado? Como a crescente necessidade de cuidado em sociedades que envelhecem pode
mudar essa percepção?
🔗 Conexões com Outros Capítulos
🔄 Fundamentos Retomados e Expandidos
Cap 1 (Trabalho) + Cap 4
(Valor): Conceitos marxistas básicos (mais-valia,
alienação, fetiche da mercadoria) RETORNAM aqui aplicados ao trabalho imaterial.
Se Cap 1 analisou carpinteiro fazendo mesa (trabalho material), agora analisamos
programador fazendo app, streamer fazendo conteúdo, moderador filtrando posts
(trabalho imaterial). Mesma lógica de exploração (patrão se
apropria do valor criado), mas formas novas: mais-valia agora é
extraída via cliques, dados, atenção.
Cap 7 (Operaísmo): Este capítulo APLICA
metodologia operaísta apresentada no Cap 7. A crise do fordismo (anos 70) =
resposta do Capital à recusa do trabalho fabril. Pós-fordismo/trabalho
imaterial não foi "evolução natural" — foi reestruturação forçada pela
insubordinação operária. Cada conceito deste capítulo (uberização,
fábrica social, feminização) vem de tradição operaísta.
Cap 3 (Vigilância): Trabalho imaterial +
plataformas digitais = convergência entre exploração e
vigilância. Entregador de iFood sofre dupla extração: 1) mais-valia
clássica (trabalha mais do que recebe), 2) dados comportamentais para "excedente
comportamental" (Zuboff). Cada clique, cada rota, cada tempo de pausa =
informação que alimenta algoritmo para controlar melhor próximo trabalhador.
🌐 Manifestações Contemporâneas (2020s)
Cap 13 (Sexualidade/Religião): Trabalho
afetivo ganha dimensões íntimas. OnlyFans = plataformização do trabalho sexual +
afetivo (vender não só corpos, mas conexão emocional, intimidade
parasocial). Pastores-influencers = trabalho afetivo religioso (vender
esperança, sentido, comunidade). Fábrica social deste capítulo
alcança alma: sexo e fé viram trabalho imaterial explorado por plataformas.
Cap 14 (Vício): Trabalho cognitivo
(designers UX, cientistas de dados) é usado para criar engenharia de
vício. Profissionais criativos aplicam conhecimento de psicologia
comportamental (B.F. Skinner) para maximizar tempo de tela, compulsão de
apostas. Contradição do trabalho imaterial: mesma criatividade
que poderia libertar é capturada para oprimir (criar algoritmos viciantes).
Cap 15 (Esportes/Esports): Pro-gamer é
trabalhador cognitivo-afetivo híbrido: treina habilidades
cognitivas (reflexos, estratégia) + produz conteúdo afetivo (streaming,
construção de comunidade). Sofre precarização típica do trabalho imaterial:
jornadas 10-14h/dia, burnout aos 25 anos, dependência total da plataforma
(Twitch, YouTube). Torcedor = trabalho não-pago (fantasy league, comentar jogo =
gerar dados/engajamento).
📊 Conexões Teóricas com Debate Contemporâneo
Cap 9 (Pós-Operaísmo): Conceitos deste
capítulo (trabalho imaterial, general intellect, fábrica social, Multidão) são
fundações empíricas que Cap 9 teoriza. Cap 8 descreve o que
está acontecendo (uberização, plataformas, precarização); Cap 9 debate
o que isso significa politicamente (a Multidão pode se auto-organizar?
Comum pode substituir mercado?).
Cap 10 (Wertkritik): Mesma realidade
empírica (trabalho imaterial), interpretação oposta. Enquanto
este capítulo (via Negri/Hardt) vê potencial libertador no trabalho
imaterial (cooperação social, autonomia), Cap 10 verá colapso do valor
(trabalho imaterial não produz valor, só destrói). Contradição fundamental que
Cap 11 tentará mediar.
Cap 12 (Ciberfeminismo): Conceito de
feminização do trabalho (seção 8.3 deste capítulo) será
expandido interseccionalmente no Cap 12. Não basta dizer "trabalho ficou
feminizado" — precisa analisar como mulheres reais, especialmente
racializadas, da periferia, sofrem duplamente: 1) trabalho afetivo/cuidado
desvalorizado historicamente, 2) agora plataformizado/precarizado ainda mais
(apps de limpeza, cuidado de idosos, moderação de conteúdo traumático).
⚖️ Conexões com Políticas e Resistências
Cap 19 (Cooperativas Digitais): Se este
capítulo diagnostica precarização via plataformas, Cap 19
propõe alternativa via cooperativas. Conceito de fábrica
social (produção se espalha por toda sociedade) pode ser virado contra
o Capital: se produzimos valor socialmente, por que não nos apropriarmos dele
cooperativamente? Exemplos: plataformas cooperativas de entrega (sem algoritmo
explorador), wikis colaborativos (Wikipédia), software livre (Linux).
Cap 24 (Políticas): Cada forma de trabalho
imaterial analisada aqui gera política específica:
- Uberização: CLT para apps (fim "PJ"), salário mínimo por
hora + custos operacionais pagos por plataforma, direito de organização
sindical
- Trabalho afetivo: Valorizar trabalho de cuidado (salários
dignos para cuidadores, creches públicas, licenças parentais igualitárias)
- Trabalho cognitivo: Propriedade coletiva sobre produtos do
general intellect (patentes/copyright públicos para conhecimento socialmente
produzido)
- Fábrica social: Renda básica universal (reconhecer que
TODOS produzem valor social, mesmo sem "emprego formal")
🇧🇷 Ampliação da Perspectiva Periférica
Uberização brasileira ≠ uberização europeia: Info-box deste
capítulo sobre Brasil (1,5M entregadores, 70% negros, R$ 1.200/mês, 12h/dia)
revela que periferia não "alcança" centro via precarização — ultrapassa
em brutalidade. Europa teve décadas de fordismo (sindicatos fortes,
welfare state) antes de precarização. Brasil pulou direto para uberização sem
rede de proteção. Somos futuro do trabalho global, não passado.
Trabalho imaterial racializado: Não existe "trabalho imaterial
neutro". No Brasil:
- Trabalho cognitivo: Concentrado em brancos de classe média
(desenvolvedores, designers) — acesso via educação superior
- Trabalho afetivo: Majoritariamente mulheres negras
(empregadas domésticas, cuidadoras, moderadoras de conteúdo). Pior
remunerado, menos valorizado, mais traumático.
- Trabalho de plataforma: Homens negros jovens (entregadores,
motoristas). Físico + imaterial (corpo + celular), máxima precarização,
risco de morte (trânsito, assaltos).
Colonialidade digital: Plataformas globais (Uber, iFood, Rappi)
extraem valor do Sul Global mas lucro concentra no Norte. Acionistas em
Silicon Valley/Europa lucram com trabalho precarizado de
brasileiros/africanos/asiáticos. É imperialismo 2.0 — não mais
extração de matéria-prima física, mas de trabalho vivo via algoritmos.
🏭 Mensagem-Chave: Trabalho imaterial não é "pós-trabalho" ou "fim
da exploração" — é intensificação da exploração com roupagem nova.
Quando fábrica vira sociedade inteira (fábrica social), não há mais "expediente" —
você trabalha 24/7 (dormindo com celular, sonhando com e-mails, carregando
estresse). Resistência exige novas formas: não greve fabril clássica, mas
breques dos apps, sabotagem de algoritmos, cooperativas de plataforma, recusa do
imperativo da produtividade.
💡 Para Reflexão: Próxima vez que você usar app de entrega, lembre:
há um trabalhador do outro lado, não "prestador de serviço autônomo".
Próxima vez que der like/comentar, lembre: está trabalhando de graça para
Mark Zuckerberg. Trabalho imaterial é invisível por design — torná-lo visível é
primeiro passo para organizá-lo politicamente.
📚 Leituras Complementares
- Nível Intermediário:
_- Lazzarato, M. (2006). As Revoluções do Capitalismo. (Uma excelente introdução às
suas ideias sobre trabalho imaterial e pós-fordismo).
_- Gorz, A. (2005). O Imaterial: Conhecimento, Valor e Capital. (Uma análise lúcida
sobre a transição para o capitalismo cognitivo).
- Nível Avançado:
_- Hardt, M., & Negri, A. (2000). Empire. (A primeira grande obra da dupla, que
diagnostica a nova ordem global).
_- Hardt, M., & Negri, A. (2004). Multitude: War and Democracy in the Age of Empire.
(Onde eles desenvolvem os conceitos de trabalho imaterial e bioprodução).
Parte III: Correntes e Críticas Contemporâneas
📍 Você está aqui
Partes
I-II ✓
→
Parte
III
→
Parte IV
→
Parte V
→
Parte VI
→
Parte VII
→
Parte VIII
Progresso: ~37% do livro |
Tempo estimado: 3-4 horas para Parte III (a mais longa!)
✅ O que você já domina
- Subsunção real, composição orgânica, crise do valor
- Planejamento cibernético, feedback democrático
- Como capital domina tecnologicamente o trabalho
🎯 O que você vai
aprender nesta Parte
- Pós-operaísmo, Multidão, Comum (Caps 9-10)
- Crítica do Valor e forma-mercadoria (Cap 10)
- SÍNTESE: Subsunção Real Cibernética (Cap 11)
- Aplicações setoriais: gênero, raça, ecologia, sexualidade, jogos, esportes, drogas (Caps
12-16)
⚠️ Atenção
Parte III tem dois momentos: (1) Teoria densa
(Caps 9-11) → aqui formulamos a tese central do livro!; (2) Aplicações
concretas (Caps 12-16) → mais fácil, mostramos a teoria em ação.
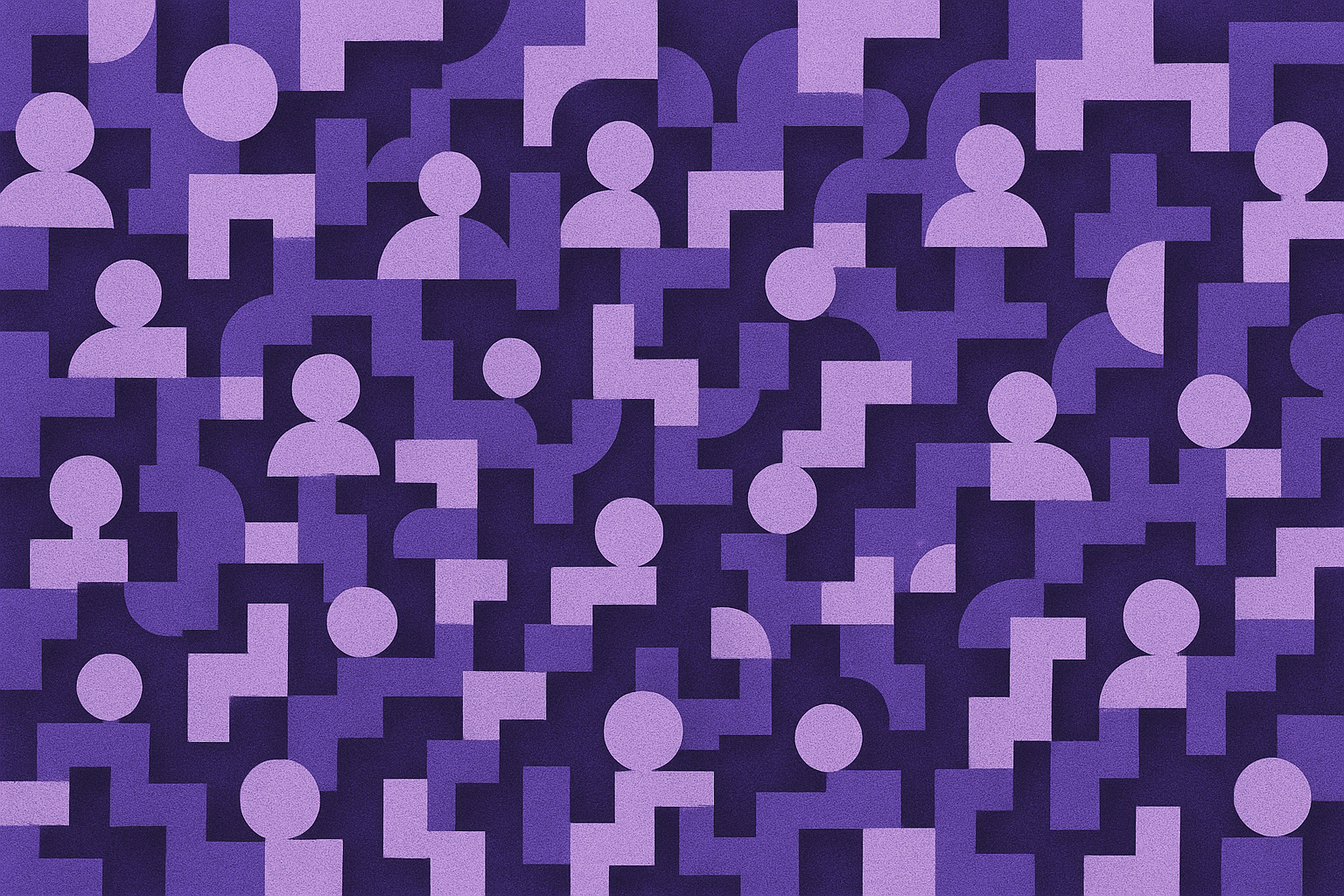
Capítulo 9
Capítulo 9: Pós-Operaísmo e a Teoria da Multidão
📋 Pré-requisitos para Este Capítulo
Para aproveitar plenamente este capítulo, você deve estar
familiarizado com:
✅ Conceitos essenciais (obrigatórios)
- Cap 5: General Intellect (conhecimento social como força
produtiva)
- Cap 7: Operaísmo italiano e "recusa do trabalho"
- Cap 8: Trabalho imaterial (cognitivo, afetivo, comunicativo)
Se você pulou esses
capítulos, recomendamos pelo menos ler as seções 5.4, 7.4 e 8.1-8.2 antes de prosseguir.
💡 Conceitos úteis (recomendados)
- Cap 4: Teoria da Dependência (para entender Império vs
imperialismo)
- Cap 6: Cibernética e autopoiese (para entender Multidão como
sistema vivo)
💬 Dica de leitura: Este capítulo é otimista (foca em resistência
e agência). O próximo (Cap 10: Wertkritik) será pessimista (foca em dominação
estrutural). Juntos, formam uma tensão produtiva que o Cap 11 mediará.
9.1 Do Operário-Massa à Multidão: A Evolução do Sujeito Político
No Capítulo 7, vimos como o Operaísmo italiano identificou no "operário-massa" da fábrica
fordista o sujeito político capaz de desafiar o capital. Era uma figura relativamente homogênea,
unificada pela experiência compartilhada da linha de montagem. Com a transição para o
pós-fordismo e a hegemonia do trabalho imaterial (Capítulo 8), essa figura se dissolve. O que
emerge em seu lugar? A corrente de pensamento que se convencionou chamar de
Pós-Operaísmo busca responder a essa pergunta, e sua resposta está em um novo
conceito: a Multidão.
Se o trabalho agora é baseado em conhecimento, comunicação e afeto, e se a fábrica se espalhou
por toda a sociedade, o sujeito da produção não pode mais ser apenas o operário industrial. O
novo sujeito é a Multidão: uma multiplicidade irredutível de singularidades —
programadores, cuidadores, designers, entregadores, estudantes, ativistas — que cooperam e
produzem valor social. A multidão é a forma de existência social do general intellect.
É crucial, aqui, a distinção que pensadores como Paolo Virno fazem entre "povo" e "multidão". O
povo, conceito central da filosofia política moderna, é uma identidade
unificada. As muitas diferenças individuais são subsumidas em uma única vontade geral, que é
então representada pelo Estado. O povo age como Um. A multidão, ao contrário, é
uma rede de singularidades que não podem e não querem ser reduzidas a uma unidade. Ela é
internamente diversa, plural e heterogênea. A multidão não pode ser representada; ela só pode se
apresentar, em sua multiplicidade.
9.2 Império: A Nova Lógica do Poder Global
Se o sujeito da produção mudou, a forma do poder global também mudou. Em sua obra seminal,
Império, Michael Hardt e Antonio Negri argumentam que a era do
imperialismo — a competição entre potências coloniais europeias e, depois,
entre Estados-nação — chegou ao fim. Ela foi substituída por uma nova forma de soberania, que
eles chamam de Império.
O Império não é um país (não é sinônimo dos Estados Unidos) nem um governo mundial. É uma
rede de poder descentralizada e desterritorializada que governa o planeta. Seus
nós incluem não apenas os Estados-nação mais poderosos, mas também corporações multinacionais,
instituições financeiras e supranacionais (como o FMI, o Banco Mundial, a OMC e a ONU) e até
mesmo as grandes ONGs. O Império não tem um centro, ou melhor, seu centro está em toda parte e
em lugar nenhum.
Diagrama
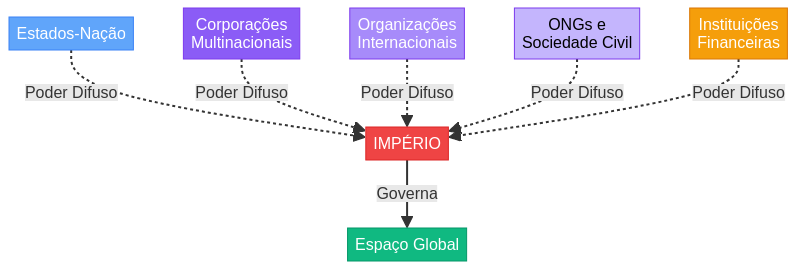
Uma representação da rede de poder do Império, mostrando ícones de governos, corporações,
bancos e instituições como a ONU conectados em uma teia complexa, sem um ponto central
claro.
Ao contrário do imperialismo, que traçava linhas claras entre o "dentro" (a metrópole) e o "fora"
(a colônia), o Império não tem um "fora". Sua lógica busca englobar todo o globo em seu espaço
aberto e em constante expansão. Ele não funciona primariamente através da conquista militar
(embora a utilize quando necessário), mas através de sua capacidade de se apresentar como o
garantidor universal da paz e da ordem. Ele governa produzindo normas, gerenciando crises
(financeiras, sanitárias, ecológicas) e modulando identidades. É uma nova forma de poder
constitucional global que opera em todos os níveis da vida, do mercado mundial às nossas
interações mais íntimas.
9.3 Biopoder e a Produção da Vida
Para entender como o Império governa, Hardt e Negri recuperam e atualizam o conceito de
biopoder de Michel Foucault. Foucault distinguiu o antigo poder soberano (que
tinha o direito de "fazer morrer ou deixar viver") do poder moderno, que assume duas formas:
1. Poder Disciplinar: Emerge nos séculos XVII e XVIII e foca no corpo
individual. Seu objetivo é adestrar os corpos para torná-los dóceis e úteis. Suas instituições
são a fábrica, a escola, o hospital, a prisão.
2. Biopoder: Emerge no final do século XVIII e foca não no indivíduo, mas na
população. Seu objetivo é gerenciar a vida da população como um todo, através
do controle de taxas de natalidade, longevidade, saúde pública, etc. É o poder de "fazer viver
ou deixar morrer".
Hardt e Negri argumentam que, na era do Império e do trabalho imaterial, o biopoder se torna a
forma hegemônica de poder. O trabalho se torna biopolítico: ele produz e
reproduz a própria vida social (como vimos com o trabalho afetivo no Capítulo 8). O poder,
portanto, não pode mais se contentar em apenas disciplinar os corpos para o trabalho; ele
precisa gerenciar a vida em sua totalidade. O foco do poder se desloca da exploração do trabalho
para a produção e controle da própria subjetividade. O Império não quer apenas nosso trabalho;
ele quer nossa criatividade, nossa comunicabilidade, nossos afetos, nossa vida.
9.4 Êxodo, Resistência e o Comum
Como lutar contra um poder que é tão difuso, que permeia toda a sociedade e não tem um centro
claro? A estratégia clássica da tomada do poder (a tomada do Palácio de Inverno) se torna
obsoleta. Para os pós-operaístas, a resposta não está na confrontação direta, mas na deserção. A
estratégia é o Êxodo.
O Êxodo é uma fuga, um abandono, uma recusa em participar das relações de poder imperiais. Não se
trata de simplesmente se retirar para uma comunidade isolada, mas de um movimento de deserção em
massa que, ao mesmo tempo, constrói no caminho novas formas de vida, novas
comunidades e novas formas de cooperação social. É um movimento de subtracção e construção.
9.4.1 Êxodo como Estratégia Política
Paolo Virno, em sua análise do Êxodo, resgata a figura bíblica da saída do Egito não como mera
metáfora, mas como paradigma político. Diferente da revolução (que permanece no
território e toma o poder) e da reforma (que negocia dentro das instituições
existentes), o Êxodo é uma defecção criativa. A multidão abandona as relações
de poder não para se isolar, mas para criar um novo espaço político.
Essa estratégia se manifesta em múltiplas escalas:
- Êxodo do trabalho assalariado: Cooperativas de plataforma, economia
solidária, redes de apoio mútuo que recusam a relação patrão-empregado
- Êxodo da propriedade intelectual: Software livre, creative commons,
conhecimento aberto que recusa o cercamento do comum
- Êxodo das instituições: Ocupações, zonas autônomas, comunidades
experimentais que criam suas próprias regras
- Êxodo do Estado-nação: Redes transnacionais, solidariedade global,
cidadania cosmopolita que transcende fronteiras
O Êxodo não é fuga passiva, mas construção ativa de alternativas. É o movimento
dos Zapatistas em Chiapas (México), que declararam "Aqui mandamos obedecendo". É o Movimento dos
Trabalhadores Sem Terra que ocupa latifúndios improdutivos e cria assentamentos com escolas,
cooperativas e agroecologia. É cada hackerspace, cada jardim comunitário, cada moeda local, cada
assembleia popular.
9.4.2 As Três Dimensões do Comum
O conceito de Comum é central para o pós-operaísmo e merece análise mais
detalhada. Hardt e Negri identificam três dimensões interconectadas:
1. O Comum Natural
Os recursos compartilhados da Terra: ar, água, solo, florestas,
biodiversidade. Historicamente gerenciados por comunidades através de instituições comunais
(os "commons" ingleses, as terras comunais indígenas, os sistemas de irrigação coletivos).
O capitalismo se expande através do cercamento (enclosure) desses
recursos — privatizando-os e transformando-os em mercadoria.
2. O Comum Artificial (ou Social)
Tudo aquilo produzido pela cooperação humana: linguagem, conhecimento, códigos, cultura,
ciência, arte, afetos, redes de confiança. Este é o território do general
intellect — o conhecimento social geral que se tornou diretamente produtivo no
capitalismo cognitivo. Exemplos contemporâneos:
- Wikipedia: 60+ milhões de artigos criados coletivamente, acessíveis
gratuitamente
- Linux: Sistema operacional livre que roda a maior parte da
infraestrutura da internet
- Protocolos abertos: HTTP, TCP/IP, email — a infraestrutura da web como
comum
- Conhecimento científico: Acesso aberto (open access) vs.
revistas proprietárias
3. O Comum Metropolitano (ou Urbano)
O espaço urbano e suas potencialidades: ruas, praças, parques,
transportes públicos, equipamentos culturais. Mas também os encontros fortuitos,
as redes de vizinhança, a densidade cultural das cidades.
David Harvey chama isso de "direito à cidade" — não apenas o direito de acessar a cidade,
mas o direito coletivo de moldá-la e recriá-la.
A luta contemporânea pelo comum enfrenta uma dupla privatização:
- Privatização clássica: Venda de empresas estatais, concessão de serviços
públicos, cercamento de terras
- Privatização digital: Transformação de conhecimento em patentes, de dados
em propriedade, de cultura em copyright, de relações sociais em capital de plataforma
9.4.3 Instituições do Comum: Para Além do Estado e do Mercado
A defesa e gestão do comum exige instituições do comum — formas organizacionais
que não sejam nem estatais (centralizadas, burocráticas) nem mercantis (baseadas na troca e no
lucro). Elinor Ostrom, em sua pesquisa ganhadora do Nobel de Economia, demonstrou que
comunidades ao redor do mundo desenvolveram sistemas sofisticados de gestão de recursos comuns
sem recorrer ao Estado ou ao mercado.
Hardt e Negri propõem que, na era do Império e do trabalho imaterial, precisamos de
instituições do comum artificiais adequadas à natureza do trabalho cognitivo e
afetivo. Exemplos contemporâneos:
- Licenças livres: GPL (software), Creative Commons (cultura), copyleft
(conhecimento)
- Governança distribuída: Assembleias de projetos open source, decisões por
consenso em hackerspaces
- Cooperativas de plataforma: Alternativas aos Ubers e Airbnbs controladas
pelos trabalhadores (ver Cap 19)
- Redes peer-to-peer: BitTorrent, blockchain, IPFS — infraestruturas sem
donos
- Moedas locais e complementares: Sistemas de troca que escapam ao circuito
do capital
O desafio é escalar essas experiências sem reproduzir a lógica do Estado (centralização,
representação) ou do capital (mercantilização, privatização). A multidão precisa inventar novas
formas de auto-organização em rede — democráticas, mas não representativas;
coordenadas, mas não hierárquicas; eficientes, mas não burocráticas.
👤
Paolo Virno
Paolo
Virno é um filósofo italiano, teórico do pós-operaísmo e um dos pensadores mais
originais sobre a relação entre linguagem, trabalho e política na era do capitalismo
cognitivo. Militante do movimento Autonomia Operaia nos anos 1970, foi preso em 1979 sob
acusação de associação subversiva, passando três anos na prisão. Sua obra mais
importante, "Gramática da Multidão" (2001), desenvolve o conceito de Multidão como
alternativa ao "Povo". Enquanto o Povo é uma unidade que se expressa através do Estado,
a Multidão é uma pluralidade que não pode ser reduzida a uma unidade. Virno argumenta
que, no capitalismo contemporâneo, as faculdades genéricas da espécie humana —
linguagem, intelecto, cooperação — tornaram-se diretamente produtivas. Virno também
desenvolveu o conceito de general intellect, retomando uma passagem dos Grundrisse de
Marx onde ele prevê que o conhecimento social geral se tornaria a principal força
produtiva.
Essa construção se baseia em um conceito fundamental: O Comum. O Comum não deve
ser confundido com o público (propriedade do Estado) nem com o privado (propriedade do capital).
O Comum é a riqueza que é produzida e compartilhada por todos. Ele existe em duas formas
principais:
- O Comum Natural: Os recursos compartilhados da Terra, como o ar, a água, as
florestas.
- O Comum Artificial: E, mais importante para a análise, tudo aquilo que é
produzido pela cooperação social. O conhecimento, a linguagem, os códigos, a informação, os
afetos, as relações de confiança. O general intellect é o nosso comum.
O capitalismo contemporâneo funciona através da privatização e mercantilização do comum
(transformando conhecimento em patentes, cultura em direitos autorais, dados em propriedade
privada). A luta da multidão, portanto, é a luta pela reapropriação do comum. É
resistir à sua privatização e, ao mesmo tempo, construir instituições de autogestão do comum,
que não sejam nem estatais nem capitalistas. A luta pelo comum é a luta pela democracia real na
era do Império.
🇧🇷
Perspectiva Periférica: MST e MTST como Multidão Brasileira
O Brasil possui duas
das mais poderosas expressões contemporâneas da "multidão" lutando pelo comum: o
MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), desde 1984, e o
MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), desde 1997. Ambos praticam
o que Hardt e Negri chamariam de "Êxodo" + construção: ocupam terras/prédios
improdutivos (deserção da propriedade privada), e imediatamente constroem formas de vida
comunitária — assembleias horizontais, escolas populares, cooperativas, hortas
coletivas. A política de reforma agrária no Brasil assentou 1 milhão de famílias, sendo
400 mil da base do MST, beneficiando 2,5 milhões de brasileiros — enquanto o INCRA
registra outras 145 mil famílias acampadas ainda aguardando terras. Esses assentamentos
criam verdadeiras "zonas autônomas temporárias" que experimentam com autogestão do
comum. O MTST, operando na periferia urbana, organiza milhares de famílias em ocupações
que são simultaneamente resistência política e laboratório de democracia direta. Ambos
são "multidão" no sentido pós-operaísta: não são homogêneos (incluem trabalhadores
precarizados, desempregados, indígenas, quilombolas, LGBTs), não querem ser
representados (criticam tanto Estado quanto partidos), e lutam pela produção/defesa de
um comum (terra, moradia, água, educação) contra o cercamento capitalista. Quando o MTST
ocupa um prédio abandonado e transforma em moradia com assembleia diária, ou quando o
MST cria escola com pedagogia Paulo Freire, eles materializam a tese do Êxodo: não tomam
o poder, mas constroem outro poder.
9.5 Trabalho Imaterial e a Produção da Subjetividade
Um dos insights centrais do pós-operaísmo é que o trabalho imaterial (analisado
em profundidade no Capítulo 8) não produz apenas bens e serviços, mas
produz subjetividades, relações sociais e formas de
vida. Quando um programador escreve código, um designer cria uma interface, um
professor educa, um cuidador acolhe — eles não estão apenas executando tarefas técnicas, mas
moldando como as pessoas pensam, sentem e se relacionam.
Maurizio Lazzarato identifica duas dimensões do trabalho imaterial que se tornaram hegemônicas:
- Trabalho cognitivo/informacional: Manipulação de símbolos, informação,
conhecimento (programação, análise de dados, design, pesquisa)
- Trabalho afetivo/cultural: Produção de estados emocionais, relações,
comunicação (cuidado, atendimento, educação, entretenimento)
Ambas as dimensões têm uma característica crucial: seus produtos (conhecimento, código, afetos,
relações) são não-rivais e potencialmente não-excludentes. Uma
ideia pode ser compartilhada infinitamente sem se esgotar. Um código pode ser copiado sem custo
marginal. Uma música pode ser ouvida por milhões simultaneamente. Isso coloca o capitalismo em
crise, pois sua lógica se baseia na escassez artificial.
⚠️ A Contradição Central do Capitalismo Cognitivo
O capital precisa mercantilizar o conhecimento (transformá-lo em
propriedade privada, controlar seu acesso, cobrar por ele). Mas o conhecimento, por sua
natureza, quer ser livre (compartilhado, copiado, modificado, redistribuído).
Essa tensão gera as "guerras" contemporâneas:
- Copyright vs. Pirataria: DMCA, processos contra Napster/Pirate Bay,
DRM
- Patentes vs. Genéricos: Medicamentos, sementes transgênicas, vacinas
na pandemia
- Software proprietário vs. Livre: Microsoft vs. Linux, Apple vs. jailbreak
- Dados privados vs. Comuns: Facebook vs. Mastodon, Google vs.
OpenStreetMap
9.5.1 A Subsunção Real da Vida ao Capital
No capitalismo industrial, a exploração acontecia primariamente dentro da fábrica,
durante a jornada de trabalho. Fora da fábrica, o trabalhador "recuperava" sua força de
trabalho. Marx chamava isso de subsunção formal (o trabalhador vende tempo,
mas mantém controle sobre o processo) e subsunção real (o capital redesenha o
processo produtivo).
Para o pós-operaísmo, no capitalismo cognitivo ocorre a subsunção real da vida
inteira ao capital. Como o trabalho imaterial usa faculdades genéricas (linguagem,
intelecto, afetos), toda a vida social se torna potencialmente produtiva:
- Tempo "livre" produtivo: Redes sociais monetizam nosso lazer, conversas,
criatividade
- Educação como trabalho não-pago: Formação constante, upskilling,
"empreendedorismo de si"
- Relações como capital: Networking, influência, "capital social"
mercantilizado
- Sono como fronteira: O capitalismo 24/7 (Jonathan Crary) coloniza até o
descanso
A famosa frase de Hardt e Negri resume: "A fábrica não desapareceu; ela se espalhou por
toda a sociedade". Não há mais um "fora" do capital. Até quando navegamos casualmente
na internet, estamos gerando dados (mais-valia) para plataformas. O comum é
imediatamente capturado e privatizado.
9.6 Críticas e Limites do Pós-Operaísmo
Por mais influente que seja, o pós-operaísmo enfrenta críticas sérias — especialmente da
Crítica do Valor (Wertkritik), que veremos no próximo capítulo. Mas mesmo dentro
do marxismo heterodoxo, várias objeções foram levantadas:
9.6.1 O Problema do Sujeito Revolucionário
Crítica: A multidão é apresentada como um sujeito revolucionário potencial, mas
sua heterogeneidade não é também sua fraqueza? Como uma multiplicidade tão diversa (que inclui
desde hackers até trabalhadores precarizados, desde ativistas até freelancers) pode se organizar
politicamente sem reproduzir as estruturas de representação que critica?
Hardt e Negri respondem que a própria organização em rede da multidão é sua
força. Ela não precisa de um partido de vanguarda ou de um programa unificado. Sua resistência
emerge de forma imanente, através de experimentos locais que se conectam
globalmente. Mas críticos apontam que isso pode ser mais uma esperança que uma estratégia.
9.6.2 Eurocentrismo e Privilégio Cognitivo
Crítica: A teoria da multidão e do trabalho imaterial pode ser eurocêntrica e
elitista? Ela foca em trabalhadores cognitivos qualificados (programadores, designers,
criativos) enquanto a maioria global ainda está em formas brutais de trabalho manual,
industrial, agrícola ou doméstico.
Pensadoras feministas e pós-coloniais (Silvia Federici, Angela Davis, Françoise Vergès) apontam
que o "trabalho imaterial" só é possível porque há uma vasta infraestrutura de
trabalho reprodutivo invisibilizado — majoritariamente feminino, racializado,
periférico — que sustenta a vida dos "trabalhadores cognitivos". Quem cuida das crianças, limpa
as casas, prepara as refeições, cuida dos idosos dos programadores do Vale do Silício? Mulheres
migrantes, trabalhadoras domésticas, cuidadoras precarizadas.
9.6.3 Otimismo Tecnológico?
Crítica: O pós-operaísmo tende ao otimismo sobre as potências emancipatórias da
tecnologia? A internet, as redes sociais, as plataformas — prometeram democratização, mas
entregaram vigilância, manipulação e concentração de poder.
Hardt e Negri reconhecem essa ambivalência, mas insistem que as tecnologias são
campos de luta, não neutras nem deterministas. O mesmo smartphone que nos
vigia pode coordenar protestos. A mesma internet que concentra poder em Big Techs também permite
projetos autônomos (Tor, Bitcoin, Mastodon). A questão não é se a tecnologia é "boa" ou "má",
mas quem a controla e para quais fins.
9.6.4 O Império Realmente Existe?
Crítica: O conceito de Império é empírico? Ou os Estados-nação ainda são os
atores principais das relações internacionais (guerras, sanções, fronteiras, moedas)? A
rivalidade EUA-China não demonstra que o imperialismo clássico continua vivo?
David Harvey, Alex Callinicos e outros argumentam que o "Império" de Hardt e Negri
superestima a desterritorialização e subestima a continuidade do poder estatal e da competição
interimperialista. O capital pode ser globalizado, mas ainda precisa de Estados nacionais para
garantir propriedade, reprimir resistências e competir geopoliticamente.
💡 Síntese Provisória
O pós-operaísmo nos oferece ferramentas poderosas: os conceitos de
multidão, comum, trabalho imaterial, êxodo e império ajudam a entender dimensões do
capitalismo contemporâneo que o marxismo tradicional não captava. Mas não é uma teoria
completa ou isenta de problemas. O próximo capítulo (Wertkritik) apresentará uma crítica
radical a muitos pressupostos pós-operaístas — especialmente a ideia de que existe um
"sujeito" capaz de emancipação. A tensão produtiva entre esses dois polos (otimismo
pós-operaísta vs. pessimismo wertkritik) será mediada no Cap 11 através da cibernética de
segunda ordem.
🔑 Mini-Glossário do Capítulo
- Biopoder: Forma de poder que se concentra na gestão da vida da população
(saúde, demografia, etc.), em contraste com o poder disciplinar que foca no corpo
individual.
- Êxodo: Estratégia política de deserção e abandono das relações de poder,
combinada com a construção de novas formas de vida e cooperação.
- Império: Conceito de Hardt e Negri para a nova forma de soberania global,
uma rede de poder descentralizada e desterritorializada que inclui Estados, corporações e
instituições supranacionais.
- Multidão: O sujeito político do pós-fordismo. Uma multiplicidade de
singularidades que cooperam e produzem valor através do trabalho imaterial, e que não pode
ser reduzida à unidade do "povo".
- O Comum: A riqueza produzida e compartilhada socialmente, seja ela natural
(recursos da Terra) ou artificial (conhecimento, linguagem, códigos, afetos).
- Pós-Operaísmo: Corrente teórica que evolui do Operaísmo italiano para
analisar o capitalismo cognitivo e o trabalho imaterial, focando em conceitos como multidão,
império e o comum.
💭 Exercícios de Análise
1. Império em Ação: Analise a resposta global à pandemia de COVID-19. Como a
coordenação (e os conflitos) entre a OMS, governos nacionais, grandes empresas farmacêuticas e a
mídia global ilustra a lógica em rede do Império?
2. Exemplos de Êxodo: O movimento do software livre e de código aberto (como
Linux ou a Wikipédia) pode ser considerado uma forma de "êxodo" do modelo de propriedade
intelectual da Microsoft ou da Apple? De que maneira eles constroem e gerenciam um "comum"
digital?
3. A Luta pelo Comum Urbano: Pense no espaço público da sua cidade (praças,
parques, ruas). De que maneiras ele é privatizado (cercamento, concessões a empresas)? E de que
maneiras a população se reapropria dele, transformando-o em um "comum" através de eventos
culturais, feiras ou manifestações políticas?
🔗 Conexões com Outros Capítulos
Este capítulo apresenta o "polo
otimista" do debate sobre trabalho digital e capitalismo cognitivo. Ele dialoga
intensamente com capítulos anteriores e prepara o terreno para debates posteriores:
🏗️
Conceitos que retomamos e expandimos
- Cap 5: General Intellect — O conceito de Marx
é radicalizado: não só conhecimento é produtivo, ele é agora a fonte
principal de valor
- Cap 7: Operaísmo — A metodologia operaísta
(partir das lutas dos trabalhadores) evolui para analisar a Multidão e o trabalho
imaterial
- Cap 8: Trabalho Imaterial — A análise de
Lazzarato sobre trabalho imaterial é a base empírica do Pós-Operaísmo
⚔️
Debates que este capítulo provoca
🌍
Aplicações práticas em capítulos futuros
⚠️ Aviso importante: Este capítulo é deliberadamente otimista sobre a
autonomia da Multidão. O próximo capítulo (Wertkritik) será deliberadamente pessimista. O
Cap 11 vai mediar ambos. Não tome partido cedo demais!
📚 Leituras Complementares
- Nível Intermediário:
- Hardt, M., & Negri, A. (2004). Multitude: War and Democracy in the Age of Empire.
(A sequência de Império, onde os autores desenvolvem o conceito de multidão como
sujeito político).
- Virno, P. (2004). A Grammar of the Multitude: For an Analysis of Contemporary Forms of
Life. (Uma análise filosófica mais densa sobre as características da multidão no
pós-fordismo).
- Nível Avançado:
- Hardt, M., & Negri, A. (2000). Empire. (A obra que define o diagnóstico da nova
soberania global. É densa, mas a introdução e o primeiro capítulo são essenciais).
- Lazzarato, M. (2006). As Revoluções do Capitalismo. (Conecta de forma clara o
trabalho imaterial com as novas formas de poder e resistência).

Capítulo 10
Capítulo 10: A Crítica do Valor (Wertkritik)
⚠️ Aviso: Turbulência Teórica
Adiante
Este capítulo representa o pico de
densidade teórica do livro. A Crítica do Valor (Wertkritik) é uma das correntes
mais abstratas e radicais do marxismo. Se os capítulos anteriores eram voos de altitude,
este é estratosférico.
Por que este capítulo é
tão denso?
- Questiona pressupostos de TODO marxismo anterior (até mesmo Cap 9!)
- Opera em nível de abstração filosófica (forma-valor, sujeito
automático, fetiche)
- Não tem exemplos concretos fáceis (é crítica da própria forma social)
- Pessimismo radical: sem sujeito revolucionário, sem saída fácil
Estratégias de leitura
Opção 1 (Recomendada):
Leia devagar. Releia parágrafos. Faça pausas. Este capítulo vai te fazer pensar
diferente sobre tudo que vimos antes.
Opção 2: Pule para o Cap
11 (síntese) e volte depois. O Cap 11 vai mediar Pós-Operaísmo (Cap 9) e Wertkritik (Cap
10).
Opção 3: Leia só as
seções 10.1, 10.3 e 10.6 (essencial). Pule 10.4-10.5 (detalhes históricos).
Por que vale a
pena o esforço?
A Crítica do Valor vai te dar a
ferramenta teórica mais poderosa para entender por que a automação não nos
liberta, por que "mais desenvolvimento" não resolve a crise ecológica, por que
partidos de esquerda no poder continuam presos à lógica do capital. Ela
explica o automatismo do sistema — porque ninguém (nem capitalistas!)
controla realmente essa máquina. E isso é fundamental para pensar alternativas reais,
não reformismos ingênuos.
10.1 Para Além do Marxismo Tradicional
Se o Pós-Operaísmo, que vimos no capítulo anterior, representa uma visão otimista da resistência
no capitalismo contemporâneo, a corrente teórica conhecida como Crítica do Valor
(Wertkritik), surgida na Alemanha nos anos 1980, representa seu contraponto mais
radical e pessimista. Para a Wertkritik, o problema não é que o sujeito revolucionário
(a multidão) ainda não se organizou o suficiente. O problema é que o marxismo, em quase todas as
suas formas, esteve fundamentalmente equivocado sobre a natureza do capitalismo e, portanto,
sobre como superá-lo.
Os teóricos da Crítica do Valor, como Robert Kurz, argumentam que o "marxismo do
movimento operário" (sindicatos, partidos comunistas, Estados socialistas) cometeu um erro
fundamental. Ao lutar do ponto de vista do trabalho contra o capital, seu
objetivo era "libertar o trabalho" da exploração para que ele pudesse se realizar plenamente,
através da afirmação da classe operária e da conquista do Estado. Para a Wertkritik,
essa postura nunca foi verdadeiramente anticapitalista, mas sim um motor da modernização
capitalista. O cerne do problema não é a exploração, mas o próprio trabalho
abstrato como a forma de mediação social que nos domina. Numa sociedade
capitalista, as relações sociais são mediadas pela troca de mercadorias, cuja substância é o
trabalho abstrato. Portanto, lutar pela "libertação do trabalho" é, em última análise, lutar
pela manutenção da forma-valor. A crítica radical, para a Wertkritik, não pode ser pela
libertação do trabalho (melhorar suas condições), mas pela libertação em relação
ao trabalho (abolir sua centralidade).
📅
Contexto Histórico: Crise e Desilusão na Esquerda dos Anos 1980
A Wertkritik
emerge em um momento específico: pós-crise do petróleo (1973),
ascensão do neoliberalismo (Thatcher, Reagan) e crescente
declínio do socialismo real (que culminaria na queda do Muro de Berlim
em 1989). Na Alemanha Ocidental, uma geração de intelectuais de esquerda testemunhou o
fracasso do "socialismo existente" e a derrota dos movimentos operários tradicionais.
Krisis e
Exit! Em 1986, Robert Kurz e colegas fundam a revista Krisis (crise,
em grego). A publicação radicaliza a crítica: nem capitalismo ocidental (exploração), nem
socialismo de Estado (burocracia) — ambos são sociedades produtoras de
mercadorias. Em 2004, cisão interna leva à criação de outra revista,
Exit! (saída), ainda mais radical.
Influências
intelectuais: Escola de Frankfurt (Adorno), leitura estruturalista de Marx,
crítica do Iluminismo. Diferente do pós-operaísmo italiano (que nasce das lutas
operárias dos anos 1960-70), a Wertkritik nasce da derrota e da
reflexão — é uma teoria do luto político transformado em radicalização
teórica.
10.2 A Crítica Esotérica de Marx: O Lado Oculto d'O Capital
Como a Wertkritik chega a essa conclusão tão radical? Através de uma releitura da obra
de Marx, distinguindo entre seu lado "exotérico" (público, superficial) e seu lado "esotérico"
(oculto, essencial).
- A crítica exotérica é a que foi abraçada pelo marxismo tradicional. É a
análise da luta de classes entre a burguesia (que detém os meios de produção) e o proletariado
(que vende sua força de trabalho). É a história visível da exploração, da desigualdade e da
dominação de um grupo social sobre outro. Nesta leitura, o capitalismo é um sistema de dominação
pessoal e política da classe capitalista.
- A crítica esotérica, que a Wertkritik busca resgatar, está presente
nas análises mais abstratas de Marx, especialmente no início de O Capital. Ela não foca
na dominação de pessoas sobre pessoas, mas na dominação de estruturas abstratas e
impessoais sobre toda a sociedade, incluindo os próprios capitalistas. O verdadeiro
soberano do capitalismo não é o burguês, que é apenas um "funcionário do capital". O verdadeiro
soberano, o "sujeito automático", é o próprio Valor em seu
processo de autovalorização incessante.
Nesta leitura, o capitalismo é uma forma de dominação abstrata. As pessoas,
sejam elas operárias ou patrões, são meros executores de uma lógica que se impõe a todos. A
necessidade de competir, de acumular, de trabalhar, de transformar dinheiro em mais dinheiro
(D-M-D'), não é uma escolha maligna dos capitalistas, mas uma compulsão sistêmica. Todos são
servos do autômato do Valor. A superação do capitalismo, portanto, não pode ser a vitória de um
polo da relação (o trabalho) sobre o outro (o capital), mas a abolição da própria relação que
constitui ambos os polos.
🔮 Antecipação — Sujeito Automático =
Ultrarracionalismo em Ação
O "sujeito automático" do Valor não é abstração filosófica — é o ultrarracionalismo
tornado estrutura social. Quando Kurz diz "ninguém controla o capital, nem
capitalistas", ele descreve a mesma compulsão sistêmica que neoliberalismo progressista
vende como "inevitável": mercado como força da natureza, TINA ("There Is No Alternative"),
tecnocracia como destino.
💡 Conexão ao Capítulo
31: O Cap
31 mostra como o ultrarracionalismo (fé cega em lógicas sistêmicas
abstratas) captura até a esquerda: governos "progressistas" que dizem "gostaria de fazer
diferente, mas o mercado exige austeridade". Isso é o sujeito automático
falando — a crença de que uma lógica abstrata (valor, capital, algoritmo) nos
domina e não pode ser contestada. Crítica do ultrarracionalismo é crítica do sujeito
automático aplicada à política contemporânea: des-naturalizar a "racionalidade"
capitalista, mostrar que o que parece "lógica técnica neutra" é dominação social histórica,
reversível. Cap 31 radicaliza Wertkritik para pensar resistência possível.
10.3 O Sujeito Automático e o Fetiche da Mercadoria
O conceito de Valor como um "sujeito automático" é central para a Wertkritik. O Valor
não é uma coisa, mas uma relação social que, no entanto, assume uma vida própria, uma dinâmica
quase consciente e totalmente indiferente às necessidades humanas. O objetivo do capitalismo não
é produzir coisas úteis (valor de uso) para satisfazer as pessoas; seu único e verdadeiro
objetivo é a autovalorização do valor. É a transformação incessante de uma
quantidade de dinheiro (D) em uma quantidade maior de dinheiro (D"), e este processo não tem
fim. A satisfação das necessidades humanas é, na melhor das hipóteses, um subproduto acidental
deste processo.
👤
Robert Kurz (1943-2012)
Robert
Kurz foi um teórico marxista alemão, fundador da corrente conhecida como crítica do
valor (Wertkritik) e editor da revista Krisis. A tese central de Kurz é que o valor — a
forma social específica que o trabalho assume no capitalismo — é a categoria fundamental
a ser criticada, não apenas a propriedade privada ou a exploração. Para Kurz, o
socialismo real (URSS, China) não superou o capitalismo, mas apenas criou uma variante
estatal do mesmo sistema de produção de mercadorias. A emancipação requer a abolição do
trabalho abstrato, do valor e da forma-mercadoria em si. Kurz argumentou que o
capitalismo entrou em uma crise estrutural terminal com a Terceira Revolução Industrial
(microeletrônica). A automação elimina trabalho vivo, mas apenas trabalho vivo cria
valor. Isso leva a uma contradição insolúvel: quanto mais produtivo o capitalismo se
torna tecnologicamente, menos capaz é de valorizar o capital.
Essa dominação do Valor sobre os seres humanos só é possível através do que Marx chamou de
fetiche da mercadoria. É crucial entender que o fetiche não é um problema de
"falsa consciência" ou uma ilusão na cabeça das pessoas. É a realidade efetiva e
objetiva de uma sociedade onde as relações sociais entre os produtores assumem a
forma fantasmagórica de relações entre coisas (as mercadorias no mercado). Nós não nos
relacionamos como seres humanos que cooperam para satisfazer suas necessidades, mas como
proprietários privados de mercadorias (nossa força de trabalho, nosso dinheiro, nossos produtos)
que se encontram no mercado. As mercadorias, e o mercado onde elas dançam, parecem ter leis
próprias, como as leis da natureza. O preço sobe, a bolsa cai, o mercado está "nervoso". O
fetiche consiste em atribuir poder e agência a essas coisas, quando, na verdade, seu poder é
apenas o reflexo das nossas próprias relações sociais alienadas. A dominação no capitalismo não
é, em sua essência, o poder visível de um chefe ou de um político; é o poder invisível e anônimo
de uma estrutura fetichista que nós mesmos criamos a cada ato de trabalho e de troca, mas que
não controlamos.
👤
Moishe Postone
(1942-2018)
Moishe
Postone foi um historiador e teórico social canadense-americano, professor na
Universidade de Chicago e um dos principais expoentes da crítica do valor na tradição
anglo-americana. Sua obra principal, "Time, Labor and Social Domination" (1993), é
considerada uma das releituras mais importantes e rigorosas de Marx no final do século
XX. Postone argumentou que a crítica de Marx não é fundamentalmente uma crítica da
propriedade privada ou do mercado, mas uma crítica do trabalho no capitalismo. O
trabalho sob o capitalismo não é apenas explorado; ele tem uma forma específica —
trabalho abstrato — que constitui o valor e, através dele, toda a estrutura de dominação
social. O capitalismo não é dominado por uma classe (a burguesia), mas por formas
sociais abstratas (valor, capital) que dominam tanto trabalhadores quanto capitalistas.
Uma contribuição crucial de Postone foi sua análise da dinâmica temporal do capitalismo:
o capitalismo não é um sistema estático, mas um sistema de crescimento compulsório e
aceleração.
10.4 A Teoria da Dissociação e a Crítica ao Patriarcado
Nos anos 1990, a teórica Roswitha Scholz e outras feministas dentro da
Wertkritik apontaram uma lacuna na teoria original. A crítica focada apenas na forma do
Valor era cega para a questão de gênero. Elas desenvolveram, então, a teoria da Crítica
do Valor-Dissociação (Wert-Abspaltungskritik). O argumento central é que a própria
constituição da forma-valor, desde o início do capitalismo, se baseou em uma
dissociação fundamental.
O mundo da produção de valor — o mundo do trabalho abstrato, do público, do político, do Estado —
foi historicamente codificado como masculino. Mas para que este mundo pudesse
funcionar, foi necessário dissociar (separar e rebaixar) toda uma esfera de atividades,
sentimentos e qualidades que não se encaixavam na lógica fria e abstrata do Valor. O trabalho de
cuidado, a reprodução, o trabalho doméstico, a sensualidade, os afetos — tudo isso foi
dissociado, desvalorizado, tornado invisível e historicamente atribuído às
mulheres.
O mundo do Valor (o masculino) e o mundo da dissociação (o feminino) não são dois mundos
separados; são as duas faces da mesma moeda. O primeiro só pode existir porque se apoia no
segundo, que ele ao mesmo tempo necessita e despreza. O patriarcado, portanto, não é uma
relíquia de sociedades pré-capitalistas que o capitalismo ainda não eliminou. Ele é uma
parte integrante e estrutural da sociedade da mercadoria. A lógica da
dissociação é tão fundamental quanto a lógica do valor. Por isso, uma crítica radical ao
capitalismo é impossível sem uma crítica radical ao patriarcado, e vice-versa. A superação do
capitalismo exige a superação da relação de valor-dissociação em sua totalidade.
10.5 O Colapso e a Barbárie: Automação como Crise Terminal
A visão da Wertkritik sobre o futuro do capitalismo é profundamente pessimista e se opõe
frontalmente ao otimismo da multidão do Pós-Operaísmo. Para a Crítica do Valor, não há um
sujeito revolucionário imanente ao sistema. A classe operária não é a antagonista que destruirá
o capitalismo; ela é, na verdade, um dos pilares da sociedade do trabalho, e sua luta histórica
foi pela sua integração, não pela abolição do sistema.
O capitalismo, segundo a Wertkritik, não será superado por uma revolução, mas está
caminhando para seu limite interno absoluto. A terceira revolução industrial (a
microeletrônica, a automação, a digitalização) tem uma consequência fatal: ela torna o trabalho
vivo cada vez mais supérfluo no processo de produção de mercadorias. Máquinas e softwares
substituem o trabalho humano em uma escala massiva. O problema é que, como vimos, o trabalho
vivo é a única fonte do Valor. Ao eliminar o trabalho para aumentar a
produtividade e vencer a concorrência, o capitalismo está, no longo prazo, destruindo sua
própria substância. Ele está serrando o galho em que está sentado.
10.5.1 A Lógica Contraditória da Automação
A contradição interna do capital se manifesta assim: cada capitalista individual,
para vencer a concorrência, é compelido a aumentar a produtividade — substituir trabalho humano
por máquinas. Isso reduz seus custos e aumenta suas vendas. Mas se todos os
capitalistas fazem isso, o resultado agregado é catastrófico: menos trabalho vivo =
menos valor produzido = menos lucro total no sistema.
💡 Exemplo Numérico
Simplificado
- Situação inicial: 100 trabalhadores produzem 100 mercadorias. Valor
total = 100 unidades.
- Após automação: Robôs + 10 trabalhadores produzem 200 mercadorias
(produtividade dobrou!).
- Mas: Valor total agora = apenas 10 unidades (pois só 10 trabalhadores
criam valor). Cada mercadoria vale menos.
- Resultado: Mais produtos, menos valor, menos lucro distribuído. Crise de
realização (quem vai comprar se há desemprego?).
Kurz chama isso de
"contradição em processo" — o capital precisa de trabalho vivo para se
valorizar, mas expulsa trabalho vivo para competir. É um sistema em autodestruição lenta.
10.5.2 Capital Fictício e Financeirização: A Ilusão do
Crescimento
Se o capital não consegue mais se valorizar na esfera produtiva (porque expulsou trabalho vivo),
como o sistema sobrevive? Através da criação de capital fictício — riqueza que
parece real mas não tem substância de valor. O sistema migra da produção para a
financeirização: bolhas imobiliárias, mercado de derivativos, especulação,
dívida perpétua.
📊 Mecanismos do Capital
Fictício
- Dívida pública e privada: Governos e empresas se endividam para simular
demanda (consumo via crédito, investimento via bonds). A dívida é aposta em lucros
futuros que nunca virão.
- Bolhas especulativas: Imóveis, ações, criptomoedas — preços inflam sem
correspondência com valor real. Quando estouram, revelam a ficção.
- Expansão monetária: Bancos centrais imprimem dinheiro (Quantitative
Easing) para evitar colapso. Mas isso apenas adia a crise, não resolve.
- Derivativos e securitização: Produtos financeiros cada vez mais
abstratos (apostas sobre apostas). Em 2008, o mercado de derivativos valia 10x o PIB
mundial — pura ficção.
Tese de
Kurz: Desde os anos 1980, o capitalismo vive de antecipar lucros
futuros que nunca se materializam. Cada crise (1987, 2000 dot-com, 2008
subprime, 2020 covid) exige pacotes de resgate maiores. O sistema só não colapsou ainda
porque a dívida global passou de ~100% do PIB (1980) para ~350% (2023).
10.5.3 Manifestações Brasileiras da Crise de
Valorização
No Brasil, a crise do valor se manifesta de forma aguda e antecipada — a periferia sempre vive o
"futuro distópico" do centro como presente:
🇧🇷 Casos Brasileiros
1. Desindustrialização Acelerada
(1990-2024)
Abertura econômica neoliberal
(Collor) + sobrevalorização do Real (FHC) = destruição da indústria nacional. Participação da
indústria no PIB: 34% (1985) → 11% (2023). Resultado: reprimarização da
economia — voltamos a exportar commodities (soja, minério) em vez de produtos
manufaturados. Menos trabalho vivo, mais extrativismo.
2. Informalidade como Norma
Em 2023, 39% da força
de trabalho estava na informalidade (IBGE). Não é "atraso" — é a forma periférica
da crise de valorização. Sem capacidade de absorver trabalho vivo na produção formal, o
sistema expulsa massas para a "viração": Uber, ambulantes, bicos. A reforma
trabalhista de 2017 (Lei 13.467) legalizou a precarização: contrato intermitente,
pejotização, uberização. Kurz diria: isso é gestão da população supérflua.
3. Financeirização da Pobreza:
Bolsa Família e Auxílio Brasil
Programas de transferência de
renda (Bolsa Família, depois Auxílio Brasil/Bolsa Família novamente) são gestão da
não-valorização. O Estado distribui dinheiro não porque as pessoas produzem
valor, mas porque não podem mais produzir (desemprego estrutural). É capital fictício
estatal: imprime dinheiro (dívida pública) para evitar convulsão social. Necessário? Sim. Mas
não resolve a contradição — apenas administra o colapso.
4. Agronegócio Tecnificado e
Desemprego Rural
Brasil é potência do
agronegócio (maior exportador de soja, carne, café). Mas o campo brasileiro emprega cada vez
menos gente: tratores autônomos, drones, IA para manejo. Produtividade
máxima, trabalho vivo mínimo. População rural: 38% (1980) → 15% (2020). Êxodo
rural alimenta favelas urbanas — "população supérflua" mencionada por Kurz.
5. Milícias e Necropolítica: Gestão
da Barbárie
Onde o Estado não garante nem
emprego nem serviços, surgem formas para-estatais de controle: milícias no
Rio (cobram "taxa de segurança", controlam gás, transporte), PCC em SP (regulação armada do
tráfico). Kurz previu: colapso gera re-feudalização — poderes locais armados,
guerras por território. A periferia brasileira já vive isso. Conexão: Cap 21
(Necropolítica Digital) — algoritmos de segurança pública definem quem é "matável".
10.5.4 Barbárie e a Aposta na Consciência
O resultado desse processo não é a transição para uma sociedade de lazer e abundância, como
sonhavam alguns marxistas. O resultado é o colapso. O capital que não consegue
mais se valorizar se torna "capital fictício" em bolhas financeiras gigantescas, enquanto a
sociedade se desintegra. A exclusão de massas crescentes de pessoas do processo de produção de
valor cria uma "humanidade supérflua". O colapso se manifesta como crises econômicas cada vez
mais graves, degradação ambiental, guerras por recursos, desintegração social, ascensão de
políticas autoritárias e irracionais e uma barbarização geral da vida.
A única esperança, para a Wertkritik, não está em uma força social imanente, mas em uma
ruptura teórica e consciente com as categorias que nos aprisionam. É uma aposta
na consciência contra a corrente da história, antes que o colapso final nos afogue a todos. Kurz
não propõe um programa político tradicional — ele propõe abolir o trabalho abstrato, a
mercadoria, o dinheiro, o Estado. Como? Ele não tem resposta pronta. A Wertkritik é
uma teoria da crítica negativa: ela destrói ilusões, mas não constrói utopias.
Sua força é diagnóstica; sua fraqueza é programática.
10.6 Wertkritik e Tecnologia Digital: IA, Algoritmos e Criptomoedas
Se Kurz escrevia nos anos 1980-2000, o que a Crítica do Valor diria sobre as tecnologias digitais
contemporâneas? A resposta é: elas aceleram e radicalizam a contradição. Cada
"inovação disruptiva" é mais um passo na autodestruição do capital.
10.6.1 Inteligência Artificial: Automação do Trabalho
Cognitivo
A IA representa a última fronteira da automação. Se a Revolução Industrial
substituiu o trabalho manual e a microeletrônica substituiu o trabalho rotineiro, a IA substitui o
trabalho cognitivo. GPT-4 escreve código, DALL-E cria arte, algoritmos de trading
tomam decisões financeiras. O Pós-Operaísmo celebrou o general intellect como potencial
emancipatório. A Wertkritik pergunta: e se o general intellect for capturado por máquinas,
eliminando até o trabalho imaterial?
⚠️ Paradoxo da IA: Produtividade
≠ Valor
- ChatGPT pode escrever artigos, mas não cria valor. Por quê? Porque valor =
tempo de trabalho socialmente necessário. Se uma IA escreve um artigo em 5 segundos, o
"tempo socialmente necessário" cai para zero.
- Resultado: Texto abundante, mas sem valor. O mercado de escrita colapsa
(jornalistas, copywriters, tradutores desempregados). Mas as empresas de IA também não
lucram (como cobrar por algo que custa zero para produzir?).
- Saída fictícia: Paywalls, assinaturas, rentismo digital (você não compra o
texto, compra acesso à plataforma). É capital fictício de novo — não é lucro de produção,
é captura de renda.
Kurz diria: IA não é
solução — é aceleração da crise terminal. Quanto mais "inteligente" a máquina,
menos trabalho vivo, menos valor, menos capitalismo viável.
10.6.2 Criptomoedas: Capital Fictício em Blockchain
Bitcoin e outras criptomoedas são apresentadas como alternativa ao dinheiro estatal. Mas sob a ótica
da Wertkritik, são apenas capital fictício descentralizado. Não têm substância de
valor (não são produto de trabalho útil), mas seu preço flutua por especulação pura. São
dinheiro sem Estado, mas não dinheiro pós-capitalista.
🪙 Crítica Wertkritik às Criptos
- Não superam a forma-valor: Bitcoin ainda é mercadoria (troca,
acumulação, especulação). Só muda o meio técnico, não a lógica social.
- Consumo energético absurdo: Mineração de Bitcoin consome mais energia que
a Argentina. É trabalho abstrato computacional — queima recursos para
validar transações, sem criar valor de uso.
- Promessa de "liberdade" serve ao capital: Libertarianismo cripto
(desregulação, anti-Estado) é ideologia que aceita todas as categorias capitalistas
(propriedade, mercado, dinheiro) mas rejeita controle estatal. Kurz diria: é
anarcocapitalismo barbárico — cada um por si na guerra de todos contra
todos.
- Bolhas especulativas: Crash de 2022 (FTX, Terra/Luna) mostrou: cripto é
casino. Não resolve crise de valorização, apenas cria novos esquemas Ponzi.
Alternativa
Wertkritik: Se queremos superar o dinheiro, não podemos criar "dinheiro melhor"
(cripto, moedas sociais, etc.). Precisamos abolir a forma-dinheiro —
organizar produção sem mediação mercantil. Utópico? Sim. Mas coerente com a crítica radical.
10.6.3 Algoritmos como Fetiche: O Sujeito Automático
Digitalizado
O conceito de "sujeito automático" encontra sua encarnação perfeita nos algoritmos.
Eles parecem ter vontade própria (o algoritmo "decide" quem recebe crédito, quem vê qual anúncio,
quem é contratado). Mas na verdade, apenas executam a lógica de valorização do
capital de forma mais rápida e opaca.
🤖 Algoritmo = Sujeito Automático
2.0
- Fetichismo algorítmico: Assim como no fetiche da mercadoria, atribuímos
agência ao algoritmo ("o algoritmo é racista", "o algoritmo me baniu"). Mas o algoritmo
é cristalização de relações sociais capitalistas (maximizar lucro, minimizar custo, extrair
dados).
- Ninguém controla: Nem programadores, nem CEOs controlam totalmente os
algoritmos de ML (machine learning). Eles "aprendem" de dados, reforçam vieses, produzem
decisões inesperadas. É o automatismo do capital em forma digital — Marx
dizia que o capital domina os capitalistas; agora, os algoritmos dominam os programadores.
- Conexão: Cap 14 (Vigilância): Algoritmos de vigilância são sujeito
automático aplicado ao controle social. Predição de crimes (não previne, estigmatiza),
scoring de crédito (reproduz desigualdade), moderação de conteúdo (censura sem
transparência).
Implicação
política: Lutar por "algoritmos justos" (fairness, accountability, transparency)
é como lutar por "capitalismo justo". Possível melhorar? Sim. Mas a estrutura permanece: o
algoritmo serve à lógica de valor, não às necessidades humanas. Precisamos de
tecnologias que não operem por valorização, mas por cooperação.
10.6.4 Plataformas Digitais: Rentismo na Era da
Não-Valorização
Google, Meta, Amazon não "produzem" no sentido clássico. Elas intermediam, capturam dados,
cobram pedágio digital. São rentistas — lucram não de produção de
valor, mas de posição monopolista na circulação. Kurz diria: isso é sintoma de que
o capitalismo não consegue mais valorizar capital produtivamente.
🏢 Plataformas como Sintoma do
Colapso
- Uber não cria valor, extrai renda: Não fabrica carros, não emprega
motoristas formalmente. Apenas conecta oferta/demanda e cobra 25% de comissão. É
parasitismo digital.
- Facebook não produz conteúdo, explora trabalho gratuito: Usuários postam,
curtem, comentam (trabalho afetivo não pago). Facebook vende dados para anunciantes. É
extração de mais-valia algorítmica.
- Amazon: rentismo logístico: Marketplace cobra de vendedores, AWS cobra de
startups. Amazon lucra da infraestrutura, não da produção.
Tese
Wertkritik: O fato de que as maiores empresas do mundo (por valor de mercado) são
rentistas digitais, não produtoras industriais, confirma a tese do colapso. O
capitalismo migrou da produção (onde cria valor) para a circulação (onde apenas redistribui e
captura). É o fim do jogo.
🌍
Crítica do Valor no Sul Global: O "Colapso" Já Aconteceu Aqui?
A Wertkritik
fala de "colapso futuro" — mas para nós do Sul Global, esse "futuro" parece presente
perpétuo. O que Kurz chama de "humanidade supérflua" (expulsa da produção de valor) não
é distopia futura no Brasil — são os 60% de trabalhadores informais, os
favelados que nunca tiveram emprego formal, os 33 milhões que passavam fome em
2022 (reduzidos para aproximadamente 7 milhões em 2024 após mudança de
governo, segundo IBGE). O que eles
chamam de "capital fictício" em bolhas financeiras nós conhecemos desde sempre: dívida
externa, especulação cambial, planos econômicos que quebram poupanças.
A
"dissociação" também é geopolítica: Assim como o mundo da produção de valor
"dissocia" o trabalho reprodutivo feminino (invisível mas essencial), o capitalismo
global dissocia a periferia. O Norte produz "valor" (tecnologia, finanças, propriedade
intelectual) enquanto o Sul é dissociado: extração de recursos, trabalho barato,
depósito de e-lixo, laboratório de necropolítica. Somos necessários (sem nosso
lítio, não há iPhone) mas desprezados (sem direitos, sem voz).
Implicação
política: Se o "sujeito automático" domina a todos (inclusive
capitalistas), como resistir? A resposta periférica não pode ser só "ruptura teórica
consciente" (aposta intelectualista de Kurz). Precisa ser materialidade da
sobrevivência: economia solidária não por teoria, mas porque ou cooperamos
ou morremos; ocupações urbanas não por anticapitalismo, mas por teto; agroecologia não
por "pós-valor", mas por não ter veneno. A periferia não "supera" o valor — ela
nunca foi plenamente subsumida por ele. Nossas alternativas não nascem do
colapso futuro, mas da resistência ao genocídio presente.
10.7 Debates e Críticas: Wertkritik em Disputa
A Crítica do Valor é uma das correntes marxistas mais polêmicas. Suas teses radicais provocam
reações intensas — admiração em alguns, rejeição feroz em outros. Vejamos os principais debates:
10.7.1 Críticas da Esquerda Tradicional (Marxismo
Ortodoxo)
⚔️ "Wertkritik é Idealista e
Derrotista"
Crítica:
Partidos comunistas, sindicatos e marxistas "clássicos" acusam a Wertkritik de
abandono da luta de classes. Ao dizer "não há sujeito revolucionário", Kurz
estaria paralisando a ação política. Pior: ao criticar o trabalho em si
(não só sua exploração), estaria negando a própria classe operária.
Resposta
Wertkritik: "Vocês querem 'libertar o trabalho', mas isso é apenas
gerenciar o capitalismo. Sindicatos negociam salários, partidos administram
o Estado capitalista. Nenhuma dessas lutas abole a forma-valor — apenas a administram. Nossa
crítica não paralisa; ela radicaliza. Queremos a abolição real, não reformas."
Impasse:
Esse debate permanece sem síntese. Marxistas tradicionais dizem: "Sem luta de classes, o que
fazemos amanhã?". Wertkritik responde: "Lutas econômicas são necessárias para sobreviver,
mas não confundam isso com emancipação."
10.7.2 Críticas Feministas (Dentro e Fora da
Wertkritik)
⚧️ Dissociação: Avanço ou
Essencialização?
Crítica
(Silvia Federici e outras): A teoria da dissociação de Roswitha Scholz é
importante, mas corre risco de essencializar o feminino. Ao dizer que "o
afeto, o cuidado, a sensualidade" são dissociados e atribuídos às mulheres, não estaríamos
reproduzindo estereótipos de gênero? E as mulheres trabalhadoras na
produção (operárias, camponesas, empregadas domésticas)? Elas não estão na
"dissociação", estão em dupla exploração (trabalho produtivo + trabalho
reprodutivo).
Resposta Scholz /
Wertkritik feminista: "Não estamos dizendo que mulheres são afetivas
por natureza. Estamos dizendo que o capitalismo constrói essa divisão
historicamente. O masculino = produção de valor; o feminino = reprodução
invisível. Isso é estrutura social, não biologia. E sim, mulheres operárias sofrem dupla
carga — provamos que dissociação não substitui a exploração, mas a complementa."
Avanço do
debate: Interseccionalidade (Kimberlé Crenshaw) e feminismo decolonial (María
Lugones) levaram a Wertkritik feminista a incorporar raça, colonialismo, Sul
Global. A dissociação não é só gênero — é também racial e geográfica (ver box
"Perspectiva Sul Global" acima).
10.7.3 O Debate Pós-Operaísmo vs. Wertkritik
(Retomado)
🔄 Agência vs. Estrutura: O
Dilema Continua
Hardt & Negri
sobre Wertkritik: "Kurz subestima a potência da multidão. Ao
dizer que não há sujeito revolucionário, ele nega a criatividade, a resistência, a produção
do comum que vemos em todo lugar (movimentos sociais, cooperativas, software livre). A
estrutura é real, mas não determina tudo. Há brechas, há êxodos possíveis."
Kurz sobre
Pós-Operaísmo: "Hardt e Negri são otimistas ingênuos. Eles
veem 'o comum' em experiências locais (Wikipedia, ocupações), mas ignoram que essas
experiências operam dentro da forma-valor. Software livre ainda precisa de
computadores (mercadorias), de internet (infraestrutura capitalista), de programadores que
comem (precisam de salário). O 'êxodo' deles é fuga para dentro da prisão."
Síntese (Cap
11): Este debate não tem vencedor claro. Por isso o Cap 11 propõe uma
metateoria usando cibernética de 2ª ordem: estrutura e agência são
circularmente acopladas. A Wertkritik está certa sobre os
constrangimentos; o Pós-Operaísmo está certo sobre as possibilidades.
Precisamos de ambos.
10.7.4 Críticas Ecossocialistas: Wertkritik e a
Natureza
🌱 Onde Entra a Natureza na
Crítica do Valor?
Crítica (Jason
Moore, Andreas Malm): Wertkritik foca na forma-valor, mas
negligencia a forma-natureza. O capitalismo não apenas explora trabalho;
ele devora natureza (extrativismo, combustíveis fósseis, desmatamento).
Kurz fala de "colapso" por automação, mas o colapso ecológico já está aqui (mudança
climática, extinção em massa). Wertkritik é muito "economicista" — tudo vira questão de
valor, mas o planeta está queimando.
Resposta
Wertkritik (Kurz, Jappe): "A crise ecológica é consequência direta da
lógica do valor. O capital precisa crescer infinitamente (D-M-D'), mas o
planeta é finito. A destruição ambiental não é 'externalidade' — é necessária para
valorização. Empresas não poluem por maldade; poluem porque custo ambiental zero =
maior lucro. Para salvar o planeta, não basta 'capitalismo verde' (greenwashing
com ESG). Precisamos abolir a forma-valor, que é a raiz da compulsão ao
crescimento."
Convergência:
Muitos ecossocialistas (Bellamy Foster, Kohei Saito) estão integrando Wertkritik. A tese:
decrescimento + abolição do valor. Não dá para "crescer verdes" — precisamos
de economia pós-crescimento, pós-valor, baseada em necessidades humanas e limites ecológicos.
Conexão: Cap 20 (Crise Ecológica).
10.7.5 Síntese Provisória: Forças e Limites da
Wertkritik
⚖️ Balanço Dialético
Forças da
Wertkritik:
- Radicalidade teórica: Não aceita reformismos. Vai à raiz (forma-valor,
trabalho abstrato).
- Diagnóstico estrutural: Explica por que "alternativas dentro do sistema"
(socialdemocracia, capitalismo de Estado) não funcionam.
- Crítica do fetiche: Mostra como somos dominados por abstrações (valor,
algoritmo, mercado) que parecem naturais mas são históricas.
- Ecologia: Conecta crise de valor com crise ecológica (crescimento
infinito em planeta finito).
Limites da Wertkritik:
- Ausência de programa: Diz o que abolir (valor, trabalho, dinheiro), mas
não como. "Ruptura consciente" é vaga.
- Pessimismo paralisante: Ao negar sujeito revolucionário, corre risco de
levar à inação. "Esperar o colapso" não é política.
- Eurocentrismo: Kurz foca em Alemanha/Europa. Subestima Sul Global, onde
o "colapso" já é realidade permanente mas também há resistências criativas.
- Determinismo: Às vezes parece que a estrutura determina tudo, sem espaço
para agência. Hardt/Negri têm razão: há brechas reais.
Conclusão provisória: Wertkritik é indispensável como crítica
negativa (destrói ilusões reformistas). Mas insuficiente como crítica
positiva (não constrói alternativas claras). Por isso, o Cap 11 vai mediar com
Pós-Operaísmo: estrutura + agência, constrangimentos + possibilidades.
---
🔑 Mini-Glossário do Capítulo
- Crítica do Valor (Wertkritik): Corrente teórica alemã que critica o
capitalismo não do ponto de vista do trabalho, mas a partir de uma crítica radical às suas
categorias fundamentais (trabalho abstrato, valor, mercadoria, dinheiro).
- Crítica Esotérica: A leitura de Marx que foca nas categorias abstratas e
impessoais (o Valor) que dominam toda a sociedade, em oposição à crítica exotérica (focada na
luta de classes).
- Dominação Abstrata: A ideia de que a dominação no capitalismo não é
primariamente pessoal (de um burguês sobre um operário), mas a dominação impessoal de uma
estrutura social (o Valor) sobre todos os indivíduos.
- Fetiche da Mercadoria: A condição objetiva de uma sociedade onde as relações
sociais entre as pessoas aparecem como relações entre coisas (mercadorias), que parecem ter vida
própria.
- Marxismo do Movimento Operário: Termo pejorativo usado pela
Wertkritik para descrever o marxismo tradicional, que, segundo eles, afirmava o
trabalho e a classe operária em vez de criticá-los radicalmente.
- Sujeito Automático: Conceito de Marx para descrever o Valor como uma força
motriz quase consciente, cujo único objetivo é sua própria expansão infinita (D-M-D').
- Teoria da Dissociação (Abspaltung): Teoria de Roswitha Scholz que afirma que a
lógica do Valor se baseia na dissociação e desvalorização de uma esfera de atividades e
qualidades associadas ao feminino (cuidado, afeto, reprodução).
- Capital Fictício: Riqueza que parece real mas não tem substância de
valor (dívidas, bolhas especulativas, derivativos). Sistema sobrevive antecipando lucros futuros
que nunca virão.
- Colapso da Modernização: Tese de Kurz de que o capitalismo caminha para seu
limite interno absoluto. A automação elimina trabalho vivo (única fonte de valor), levando à
crise terminal.
- Humanidade Supérflua: Massas de pessoas expulsas do processo de produção de
valor pela automação. Não são mais "exército industrial de reserva" — são permanentemente
excluídas.
- Barbarização: Processo de desintegração social que acompanha o colapso: guerras
por recursos, autoritarismo, re-feudalização, necropolítica.
- Crítica Negativa: Método da Wertkritik que destrói ilusões reformistas mas não
constrói programa político positivo. Força diagnóstica; fraqueza programática.
💭 Exercícios de Análise
1. A Crise Ecológica como Crise do Valor: Como a lógica do "sujeito automático"
(a necessidade de valorizar o valor a qualquer custo) ajuda a explicar por que a destruição
ambiental continua, mesmo que a maioria das pessoas e governos reconheça os perigos? Por que é
tão difícil parar essa máquina?
2. Trabalho e Não-Trabalho: Faça uma lista de todas as atividades que você
realizou hoje. Separe-as em duas colunas: as que são consideradas "trabalho" (que geram ou
poderiam gerar dinheiro) e as que não são (cuidar de si mesmo, de outros, limpar a casa,
conversar com amigos). Como a teoria da dissociação explica a diferença de status e valor entre
essas duas colunas?
3. Sinais de Colapso? A Wertkritik previu um futuro de "barbarização".
Olhando para o mundo hoje (desigualdade extrema, crises de refugiados, guerras, polarização
política, teorias da conspiração), você vê evidências que apoiam essa tese pessimista? Ou você
vê contratendências de solidariedade e organização que apontam para outras possibilidades?
🔗 Conexões com Outros Capítulos
Este capítulo apresenta o "polo
pessimista" do debate marxista contemporâneo. Ele é deliberadamente radical e
nega quase tudo que o marxismo tradicional afirmou. Prepare-se para ter suas certezas
abaladas:
🔙
Fundamentos teóricos que reinterpretamos
- Cap 1: Conceitos Marxistas — Wertkritik
radicaliza Marx: não é só exploração, é a própria forma-valor que domina
- Cap 5: General Intellect — Se o conhecimento é
força produtiva principal, isso destrói a base do valor (trabalho vivo)
- Cap 7: Operaísmo — Crítica frontal:
"libertação do trabalho" é ainda permanecer na jaula do capital
⚔️
A grande contradição com Cap 9 (Pós-Operaísmo)
Cap 9 diz: A Multidão é o sujeito da
emancipação. O trabalho cognitivo cria potencial revolucionário. O Comum é a
alternativa.
Cap 10 diz: Não há sujeito
revolucionário. O trabalho é a prisão, não a libertação. O "Sujeito Automático"
domina a todos.
Quem está certo? ➡️ Cap 11 vai mediar essa contradição usando
cibernética de 2ª ordem.
🔜
Como este pessimismo será mediado
🌍
Temas transversais que este capítulo alimenta
⚠️ Aviso: Este é o capítulo mais "desconfortável" do livro. Ele nega o
otimismo fácil. Mas você precisa passar por ele para entender a síntese que vem no
Cap 11. Não tome partido antes da hora — a dialética ainda não terminou!
📚 Leituras Complementares
- Nível Intermediário:
- Kurz, R. (2004). O Colapso da Modernização: Da derrocada do socialismo de caserna à crise
da economia mundial. (Coletânea de artigos que apresenta as teses centrais de Kurz de
forma acessível).
- Jappe, A. (2017). As Aventuras da Mercadoria: Para uma nova crítica do valor. (Uma
das melhores introduções gerais à Crítica do Valor).
- Nível Avançado:
- Postone, M. (1993). Time, Labor, and Social Domination: A Reinterpretation of Marx's
Critical Theory. (Uma obra monumental e difícil, que refunda a teoria crítica de Marx a
partir da categoria do tempo).
- Kurz, R. (1991). Der Kollaps der Modernisierung (O Colapso da Modernização). (O livro
original que lançou a teoria do colapso).
---
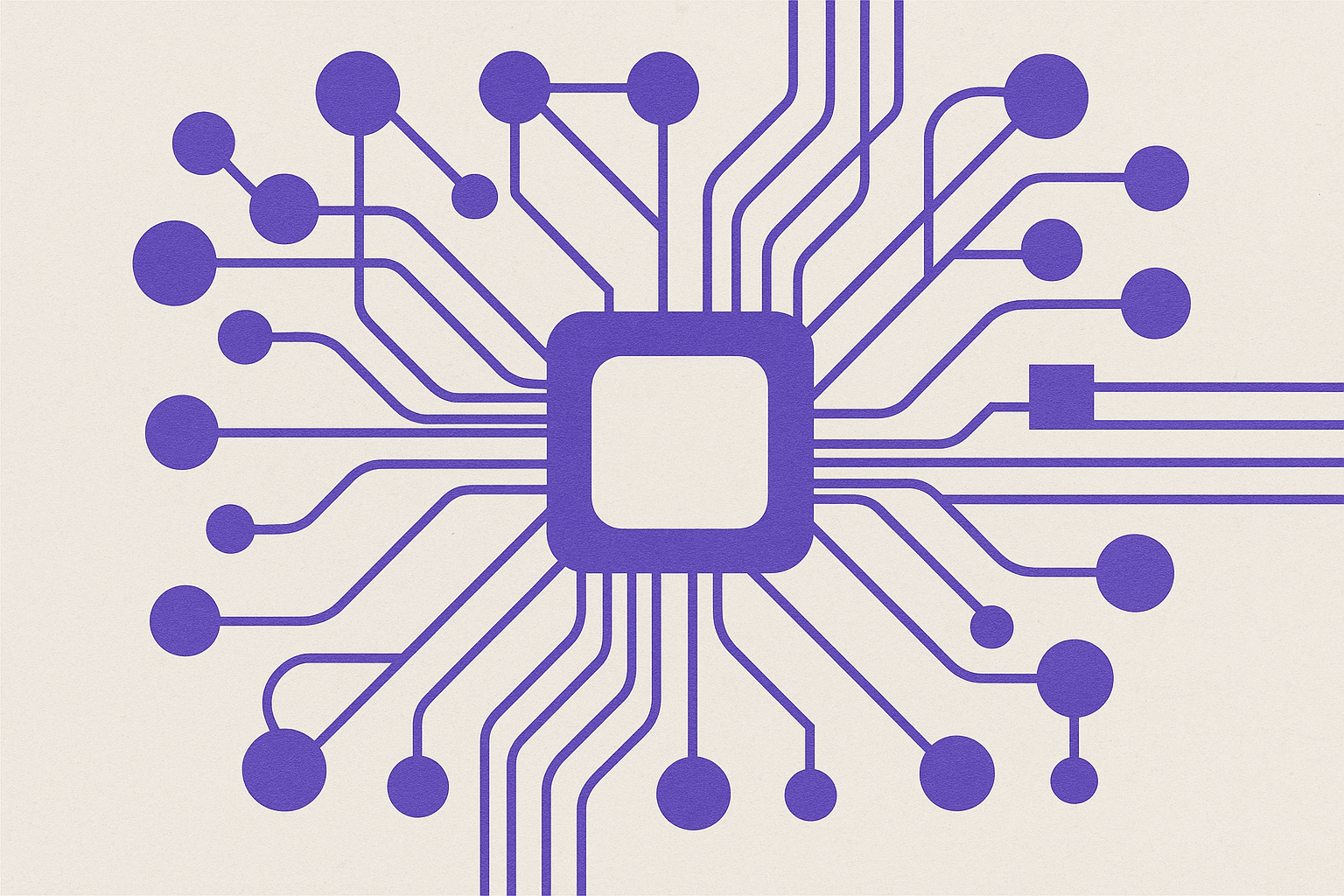
Capítulo 11
Capítulo 11: A Síntese Informacional
📋 Pré-requisitos CRÍTICOS para Este Capítulo
⚠️ Este capítulo é uma
síntese — não faz sentido sem os capítulos anteriores!
✅ Leitura OBRIGATÓRIA (não pule!)
- Cap 6: Cibernética de 1ª e 2ª ordem (essencial para entender a
"ponte" que construiremos)
- Cap 9: Pós-Operaísmo, Multidão, Comum (o polo "otimista" que
sintetizaremos)
- Cap 10: Crítica do Valor, Sujeito Automático (o polo "pessimista"
que sintetizaremos)
⛔ Se você pulou os Caps 9 ou 10: Pare agora. Volte e leia pelo menos as
introduções e seções finais. Este capítulo resolve a contradição entre eles — sem
conhecer ambos, você não entenderá o problema que estamos resolvendo.
💡 Contexto útil (recomendado)
- Cap 5: General Intellect (retornaremos a ele)
- Cap 8: Trabalho imaterial e informacional
🎯 O que este capítulo faz: Constrói uma metateoria que integra
Pós-Operaísmo (agência) e Wertkritik (estrutura) usando cibernética de 2ª ordem e teoria da
informação. É o capítulo teórico mais ambicioso do livro — mas também o mais recompensador
se você chegou até aqui preparado.
11.1 O Dilema da Crítica Radical: Otimismo da Vontade ou Pessimismo do Intelecto?
Ao chegarmos a este ponto, nos deparamos com um profundo dilema. Os dois capítulos anteriores nos
apresentaram as duas correntes mais sofisticadas e poderosas do marxismo contemporâneo, e elas
parecem nos levar a conclusões diametralmente opostas.
De um lado, o Pós-Operaísmo nos oferece uma teoria da agência e da resistência.
Ele identifica na Multidão o sujeito vivo e cooperante do trabalho imaterial,
um poder constituinte que, através do Êxodo e da luta pelo
Comum, pode desafiar o Império. É uma teoria que pulsa com o
otimismo da vontade, vendo em toda parte os sinais da auto-organização e da insubordinação.
Do outro lado, a Crítica do Valor nos oferece uma teoria da estrutura e da
dominação. Ela descreve o capitalismo como um sistema de dominação abstrata,
governado pelo Sujeito Automático do Valor. Ela não vê um sujeito
revolucionário imanente, mas sim a corrosão da própria base do sistema, levando a um
colapso na barbárie. É uma teoria que congela com o pessimismo do intelecto,
vendo em toda parte os sinais da desintegração e da impotência.
Estamos presos nesta encruzilhada? Devemos escolher entre um otimismo voluntarista que parece,
por vezes, subestimar a profundidade da dominação sistêmica, e um pessimismo estruturalista que
parece, por vezes, nos levar à paralisia política? Este capítulo argumentará que não. Propomos
que as ferramentas da cibernética avançada, que desenvolvemos na Parte II,
podem nos oferecer uma metateoria, uma linguagem para construir uma ponte entre essas duas
perspectivas aparentemente irreconciliáveis.
11.2 A Informação como Medida: Repensando o Valor e o Trabalho
Vamos começar pelo conceito mais fundamental: o Valor. A Crítica do Valor está correta ao
insistir que o Valor é uma forma de mediação social abstrata e impessoal. Mas o que, exatamente,
essa forma mede? Marx responde: o "tempo de trabalho socialmente necessário". Propomos aqui uma
reinterpretação dessa fórmula à luz da teoria da informação.
O que é o trabalho? É um processo que transforma uma matéria-prima (com alta entropia, ou seja,
desorganizada) em um produto final (com baixa entropia, ou seja, organizado e com uma
finalidade). O trabalho é um processo de inscrição de uma forma, de uma ordem, na matéria. Em
outras palavras, o trabalho é um processo de transmissão de informação. A
quantidade de trabalho necessária para produzir algo é proporcional à quantidade de informação
(de complexidade, de ordem) que precisa ser inscrita naquele objeto.
O "tempo de trabalho socialmente necessário" pode, então, ser entendido como uma medida da
complexidade informacional de uma mercadoria. Produtos que exigem mais passos,
mais conhecimento, mais processos de transformação — ou seja, mais informação — para serem
feitos, incorporam mais valor. Um microchip tem mais valor do que um tijolo porque ele é
informacionalmente muito mais complexo.
Essa reinterpretação nos permite fazer duas coisas. Primeiro, ela reforça a tese da
Wertkritik sobre a natureza abstrata do Valor: o Valor não mede o esforço físico ou o
tempo no relógio, mas uma quantidade abstrata de complexidade. Segundo, ela conecta diretamente
essa crítica abstrata com a realidade do trabalho cognitivo descrita pelo
Pós-Operaísmo. Se o trabalho é, em sua essência, informação, então o trabalho que lida
diretamente com informação (programação, design, comunicação) não é uma exceção, mas a revelação
da verdadeira natureza do trabalho no capitalismo.
11.3 O Sistema e o Observador: Cibernética de Segunda Ordem como Ponte
Como, então, relacionar a estrutura e a agência? A distinção entre cibernética de primeira e
segunda ordem (Capítulo 6) nos oferece a chave.
A Crítica do Valor pode ser entendida como uma análise de primeira
ordem levada à sua máxima potência. Ela descreve o capitalismo como um
sistema observado. O teórico se posiciona (analiticamente) fora do sistema para
descrever suas leis de movimento impessoais e sua lógica interna. O sistema é o "sujeito
automático", e o teórico é o observador que prevê sua trajetória, chegando à conclusão de um
colapso inevitável. É uma descrição do sistema sem agência.
O Pós-Operaísmo, por outro lado, pode ser entendido como uma teoria de
segunda ordem. Ele foca no sistema observante. O centro da análise
é a Multidão, o sujeito que, ao observar, agir, comunicar e resistir, participa ativamente da
construção e transformação da realidade social. É uma teoria que pergunta: "Como nós, ao
agirmos, criamos o mundo?". É uma descrição da agência sem uma estrutura tão rígida.
Diagrama
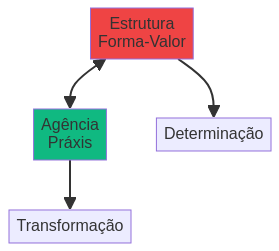
Um diagrama mostrando "Estrutura (Wertkritik)" e "Agência (Pós-Operaísmo)" como dois polos.
Uma seta em forma de ponte, com a etiqueta "Cibernética de 2ª Ordem", conecta os dois, com
setas menores indicando uma relação de co-determinação.
A síntese informacional não consiste em escolher um lado, mas em entender a circularidade
dialética entre os dois. A dominação abstrata do Valor é real e possui uma lógica
própria, como descreve a Wertkritik. Mas essa estrutura não flutua no ar; ela precisa
ser constantemente atualizada e reproduzida através das ações, da cooperação e do trabalho da
multidão, como descreve o Pós-Operaísmo. A estrutura constrange a agência, mas a agência
constitui a estrutura. A resistência não é impossível, mas ela opera dentro de constrangimentos
sistêmicos muito poderosos que não podem ser ignorados.
🔮 Antecipação — Circularidade Dialética como Método
do Livro
Esta "circularidade dialética" entre estrutura e agência não é apenas teoria — é o
método deste livro. Quando sintetizamos Wertkritik (pessimismo estrutural) e
Pós-Operaísmo (otimismo agencial) usando cibernética de 2ª ordem, estamos praticando
pensamento dialético.
💡 Conexão ao Capítulo
30: O Cap
30 explicita este salto dialético que estamos fazendo aqui no Cap 11. A
síntese Hegel→Marx→Cibernética que construímos é performática: não descrevemos
dialética abstratamente, mas a executamos ao mediar contradições (estrutura
vs agência, informação vs valor, sistema vs observador). Cap 30 mostra o
padrão: quando a filosofia acumula contradições suficientes (quantidade), ela
salta para práxis científica (qualidade). Este livro tenta o mesmo salto: da
crítica teórica do capitalismo digital → para ferramentas práticas de transformação. Cap 11
é o nó górdio onde teoria se torna método.
11.4 A Lei de Ashby e a Luta de Classes Informacional
A essa dialética se torna concreta quando a analisamos através da Lei da Variedade
Requisita de Ashby (Capítulo 6). Lembremos: "apenas variedade pode absorver
variedade". Para controlar um sistema, o controlador precisa ter, no mínimo, a mesma
complexidade (variedade) do sistema a ser controlado.
A luta de classes na era informacional pode ser vista como uma batalha pela
variedade. O capital, através do gerenciamento algorítmico, da padronização das
plataformas e da automação, busca desesperadamente reduzir a variedade da força
de trabalho. Ele quer transformar a multidão (um sistema de alta variedade, imprevisível e
criativo) em um conjunto de autômatos dóceis, previsíveis e controláveis (um sistema de baixa
variedade).
A resistência da multidão, por sua vez, consiste em aumentar sua própria
variedade. É a criação de novas táticas de greve (como os "breques" dos
entregadores), de novas formas de cooperação (como o desenvolvimento de software livre), de
novas linguagens, novos desejos e novas subjetividades que o capital não consegue prever, medir
ou controlar. É uma luta entre a variedade do controle e a variedade da insubordinação.
Nesse sentido, a coleta massiva de dados e a vigilância constante não são apenas uma invasão de
privacidade; são uma estratégia do capital para aumentar a variedade de seu sistema de controle,
para construir um modelo da multidão que seja tão complexo quanto a própria multidão, a fim de
antecipar e neutralizar seus movimentos. A luta pelo controle dos dados, pela transparência dos
algoritmos e pelo direito à opacidade é, portanto, uma manifestação direta da Lei de Ashby na
luta de classes contemporânea.
11.5 Para Além do Colapso e da Multidão: O Planejamento Cibernético
Se a análise está correta, qual é a saída? A síntese informacional aponta para uma direção que
transcende tanto a espera passiva pelo colapso (implicada pela Wertkritik) quanto a
confiança na auto-organização espontânea da multidão (implicada pelo Pós-Operaísmo). A
alternativa é o planejamento cibernético democrático.
O problema do capitalismo é que ele é um sistema de processamento de informação terrivelmente
ineficiente e irracional. O mecanismo de preços do mercado é um sistema de feedback muito pobre,
lento e distorcido para alocar recursos de forma a satisfazer as necessidades humanas e
respeitar os limites ecológicos. O resultado é a dominação abstrata do Valor. Por outro lado, a
experiência histórica do "socialismo real" mostrou que o planejamento central burocrático, por
ser um sistema de baixa variedade, é igualmente incapaz de lidar com a complexidade de uma
sociedade moderna.
Mas hoje, pela primeira vez na história, temos o poder computacional e as redes de comunicação —
o general intellect materializado — para construir uma alternativa. Um sistema de
planejamento cibernético democrático usaria a tecnologia da informação não para o controle de
cima para baixo, mas para a auto-organização consciente da sociedade. Imagine
uma rede de computadores que calcula as necessidades da população e os insumos necessários para
a produção em tempo real, eliminando a necessidade do mecanismo cego do mercado. Agora, combine
isso com mecanismos de feedback democrático em múltiplas escalas (locais,
regionais, globais), onde os cidadãos podem deliberar e decidir sobre os
objetivos dessa produção: queremos mais tempo livre ou mais bens de consumo?
Queremos investir em energia solar ou em transporte público?
Isso seria usar a cibernética para criar um sistema de controle onde o controlador e o controlado
são o mesmo: a sociedade se auto-governando. Seria a realização do projeto de superação do
fetiche da mercadoria e da dominação abstrata, não através do colapso ou de uma revolta
espontânea, mas através da construção consciente de um metabolismo social mais racional e
democrático.
11.6 A Tese Central: Subsunção Real Cibernética e a Dupla Face da Tecnologia
Chegamos ao ponto onde podemos, finalmente, articular a tese central deste livro
de forma explícita. Ao longo das três primeiras partes, construímos as ferramentas conceituais
necessárias. Agora é hora de amarrá-las em uma síntese coerente.
Nossa tese é dupla:
1. Diagnóstico: O capitalismo digital
contemporâneo representa uma nova fase qualitativa da dominação capitalista, que chamamos de
subsunção real cibernética. Não se trata mais apenas do controle do
processo de trabalho através da máquina (subsunção real clássica), mas do controle da
própria rede informacional que media toda a existência social. A plataforma não é apenas um
local de trabalho, mas a infraestrutura através da qual produzimos, consumimos, nos
comunicamos, desejamos e existimos. O Valor, como "sujeito automático", encontrou na
cibernética sua linguagem de programação perfeita.
2. Possibilidade: Mas a mesma cibernética que
permite esse controle total contém em si as ferramentas teóricas e práticas para sua
superação. A ciência do controle é também a ciência da auto-organização. A tecnologia de
rede que hoje serve à dominação pode, sob outras condições políticas e sociais, servir ao
planejamento democrático e à autogestão do Comum. A cibernética tem uma dupla
face: controle e libertação, dependendo de quem a controla e para quais fins.
Esta tese nos permite fazer duas coisas fundamentais:
Primeiro, ela supera a oposição estéril entre otimismo tecnológico e pessimismo
estrutural. Não somos nem os tecno-otimistas que acreditam que a tecnologia por si só nos
libertará, nem os pessimistas que veem apenas dominação total. Reconhecemos que a dominação é
real e estrutural (Wertkritik), mas também que a agência e a resistência são possíveis e
necessárias (Pós-Operaísmo). A síntese cibernética nos permite pensar essa tensão de forma
dialética.
Segundo, ela orienta nosso projeto político. Se o problema é a captura da
infraestrutura cibernética pelo capital, a solução não é destruir a tecnologia (impossível e
indesejável), mas disputá-la. A luta é pela soberania sobre a rede, pelo
controle democrático da infraestrutura digital, pela construção de alternativas que demonstrem
que outras tecnologias são possíveis.
O que vem a seguir
Esta síntese teórica não é o fim, mas o começo. Nas próximas partes do livro, vamos:
- Caps 12-16 (Resto da Parte III): Demonstrar como a lógica da subsunção real
cibernética opera em múltiplas dimensões da vida — gênero, raça, ecologia, sexualidade,
lazer, esporte, drogas. Não são "aplicações" da teoria, mas demonstrações de que a captura é
total.
- Parte IV (Caps 17-19): Examinar o laboratório histórico das tentativas de
usar a cibernética para a libertação: OGAS, Cybersyn, cooperativas iugoslavas. O que
funcionou? O que falhou? Por quê? Essas experiências são pontes entre a crítica e a
proposta.
- Parte V (Caps 20-22): Analisar a conjuntura atual — a guerra geopolítica
das redes, a inserção subordinada do Brasil, a necropolítica digital. Entender os
constrangimentos do presente é condição para pensar o futuro.
- Parte VI (Caps 23-25): Retornar à tese da dupla face com toda a força,
propondo políticas concretas para o Antropoceno Digital e examinando criticamente se modelos
como o chinês oferecem alternativas reais.
- Parte VII (Caps 26-28): Expandir radicalmente nosso horizonte
epistemológico, aprendendo com cosmotécnicas não-ocidentais que nunca aceitaram a lógica do
capital — dos Guarani aos taoístas, de Ubuntu ao Sumak Kawsay.
A jornada está apenas começando. A síntese informacional não é uma resposta final, mas uma
ferramenta para continuar pensando, lutando e construindo. Vamos em frente.
---
🔑 Mini-Glossário do Capítulo
- Marxismo Cibernético: Uma corrente de pensamento que busca sintetizar a
análise de classes marxista com as ferramentas teóricas da cibernética e da teoria da
informação.
- Planejamento Cibernético: Um modelo de organização social que utiliza a
tecnologia da informação e os princípios da cibernética (feedback, controle da variedade) para
alocar recursos e tomar decisões econômicas, como uma alternativa tanto ao mercado quanto ao
planejamento central burocrático.
- Síntese Informacional: O nome que propomos para a abordagem deste capítulo,
que busca usar a teoria da informação e a cibernética para mediar e sintetizar as perspectivas
do Pós-Operaísmo e da Crítica do Valor.
💡 Exemplo Concreto: "Sujeito Automático" no Bitcoin
Lembra do conceito de "sujeito automático" do Cap
10? A ideia de que o capitalismo funciona como um sistema autônomo onde o valor se valoriza
sozinho, sem controle humano consciente? Aqui está ele em sua forma mais pura:
Bitcoin não tem dono. Ninguém controla. Não há CEO,
não há conselho, não há Estado. No entanto, o sistema FUNCIONA autonomamente 24/7:
mineradores competem globalmente, blocos são adicionados à blockchain a cada ~10 minutos, o
valor flutua violentamente nos mercados. O valor se valoriza sem sujeito humano no
comando.
É o "sujeito automático" em sua manifestação mais literal: um
algoritmo autônomo valorizando valor. Milhões de pessoas trabalham
(mineração consome energia equivalente a países inteiros), investem, especulam, perdem
fortunas — tudo comandado por CÓDIGO que ninguém individualmente controla.
A ironia: Bitcoin
foi criado como uma utopia libertária para "escapar do controle estatal". Mas o que seus
criadores realmente fizeram foi construir uma máquina de valorização do valor ainda
mais pura que o capitalismo tradicional — um sistema onde a forma-valor opera
sem mediação humana alguma. É a subsunção real cibernética em estado cristalino.
Eis a forma-valor autonomizada: não mais
escondida atrás de bancos centrais e corporações, mas operando diretamente através de
protocolos criptográficos. O Cap 10 explicou a teoria. Bitcoin é a prova viva.
11.7 Informação como Mercadoria: A Contradição Fundamental
Se informação é trabalho cristalizado, como argumentamos acima, então a informação
é uma mercadoria no capitalismo digital. Mas ela é uma mercadoria
muito estranha. E suas propriedades peculiares revelam contradições fundamentais do
sistema.
11.7.1 O Problema da Reprodutibilidade
Uma mercadoria clássica — um sapato, um carro, uma maçã — tem uma propriedade fundamental: ela é
rival. Se eu uso, você não pode usar ao mesmo tempo. Isso garante a escassez, e
a escassez sustenta o valor de troca.
Mas a informação é não-rival. Uma vez criado um software, um filme, uma música,
uma ideia, ela pode ser copiada infinitas vezes a custo praticamente zero. Eu posso assistir a
um filme no Netflix sem impedir você de assistir ao mesmo filme simultaneamente. Copiar um
arquivo não "consome" o original.
Isso cria um problema mortal para a valorização capitalista. Se o custo marginal de reprodução é
zero, o "tempo de trabalho socialmente necessário" para produzir a segunda, terceira, milionésima
cópia também é praticamente zero. O valor de troca deveria tender a zero.
⚠️ A Contradição Central do Capitalismo Digital
O capital precisa de escassez para gerar lucro. Mas a
tecnologia digital gera abundância natural.
A informação quer ser livre (no sentido de custo marginal
zero). O capital precisa artificialmente escassificar a informação para
torná-la lucrativa. Como?
- Propriedade intelectual: Patents, copyright, DRM — cercamento legal do
conhecimento
- Segredos comerciais: Código-fonte fechado, algoritmos opacos
- Plataformização: Criar dependência de infraestrutura proprietária
(lock-in)
- Assinaturas e serviços: Vender acesso temporário em vez de produtos
(Netflix, Spotify, SaaS)
- Dados como matéria-prima: Se não podemos vender o produto informacional,
vendemos os dados sobre quem o consome
Todas essas estratégias são formas artificiais de
reintroduzir escassez onde a tecnologia produziu abundância. É o capital lutando
contra sua própria tendência histórica.
11.7.2 Caso Brasileiro: Pirataria como Luta de Classes Informacional
No Brasil, onde a renda média é baixa e o acesso formal a bens culturais digitais é caro, a
pirataria não é simplesmente "roubo" — é uma forma espontânea de resistência ao
cercamento informacional.
Quando um estudante baixa um PDF pirata de um livro acadêmico que custa R$ 300 (metade do salário
mínimo), ele está participando de uma prática de desescassificação. O livro
digital, tecnicamente, tem custo marginal zero — o preço absurdo existe apenas para sustentar o
lucro das editoras e plataformas.
Bibliotecas piratas como Library Genesis, Sci-Hub e Z-Library tornaram-se
infraestruturas vitais de acesso ao conhecimento no Sul Global. Elas são, na prática,
Commons digitais construídos pela multidão contra o cercamento.
📚 Sci-Hub: Cibernética Pirata para o Comum
Alexandra Elbakyan (Cazaquistão) criou o Sci-Hub em
2011 para disponibilizar gratuitamente artigos científicos pagos. Hoje tem 88+
milhões de artigos — quase todo o conhecimento científico da humanidade.
A justificativa de Elbakyan é simples: "O conhecimento é produzido
coletivamente (por pesquisadores financiados por universidades públicas), mas as
editoras privadas (Elsevier, Springer, Wiley) cercam esse conhecimento e cobram US$30-50
por artigo. Isso é roubo."
Análise cibernética: Sci-Hub é um
sistema de feedback que corrige uma disfunção do mercado acadêmico. Em vez
de esperar reformas, a multidão simplesmente construiu a infraestrutura do
comum e a opera fora da lei. É êxodo informacional (Cap 9) + subsunção real
cibernética revertida (Cap 11).
11.8 Excedente Comportamental: Zuboff Encontra a Síntese Informacional
No Capítulo 3,
introduzimos o conceito de excedente comportamental de Shoshana Zuboff. Agora
podemos reinterpretá-lo através da síntese informacional.
11.8.1 Excedente Comportamental como Mais-Valia Informacional
O que é o excedente comportamental? São os dados que geramos ao usar plataformas digitais —
cliques, buscas, localização, tempo de atenção, padrões de navegação — que excedem o
necessário para fornecer o serviço, mas que as plataformas coletam para criar
produtos de previsão vendidos a anunciantes.
Podemos traduzi-lo assim:
- Trabalho necessário: Os dados mínimos para o serviço funcionar (ex.: sua
localização para o Uber saber onde te buscar)
- Mais-trabalho (mais-valia): Todos os dados extras — seu histórico de
deslocamentos, horários preferidos, padrões de comportamento, perfil psicográfico — que
não são necessários para o serviço, mas que geram lucro para a plataforma
Excedente comportamental = mais-valia informacional. É o tempo de trabalho
(cognitivo, afetivo, atencional) que você fornece gratuitamente e que a plataforma captura e
monetiza.
11.8.2 A Taxa de Exploração Informacional
Marx definiu a taxa de exploração como:
e = mais-valia / trabalho necessário
No capitalismo digital, podemos pensar em uma taxa de extração informacional:
einfo = dados extraídos / dados necessários
Quanto maior essa razão, mais a plataforma está "explorando" sua base de usuários. Plataformas
como Facebook e Google têm taxas de extração altíssimas — coletam centenas de pontos de
dados por usuário, quando tecnicamente precisariam de muito menos para funcionar.
🔬 Medindo Exploração: GDPR como Experimento Natural
O GDPR europeu (2018) obrigou plataformas a permitir que usuários
baixassem todos os dados que as empresas coletam sobre eles. Isso revelou a
escala da extração:
- Facebook: Arquivos de 600MB-1GB por usuário, incluindo histórico de
localização minuto-a-minuto, reconhecimento facial, transcrições de áudio
- Google: Arquivos ainda maiores, com buscas, emails, mapas, YouTube,
Android, compras
- Amazon: Histórico completo de compras, buscas, Alexa (gravações de voz),
padrões de consumo
A pergunta cibernética: Quanto desses dados é
necessário para o serviço? Resposta: menos de 5%. O resto é puro excedente — e
puro lucro.
11.9 Algoritmos como Sistemas de Feedback: A Arquitetura do Controle
Agora podemos integrar a teoria de plataformas (Cap 3, Cap 13) com a cibernética de 2ª ordem. As
plataformas não são apenas "mercados digitais" — elas são sistemas cibernéticos de
controle comportamental.
11.9.1 O Loop de Feedback das Plataformas
Toda plataforma digital opera um loop de feedback clássico:
- Entrada (input): Comportamento do usuário (cliques, buscas, tempo de tela)
- Processamento: Algoritmo analisa os dados, identifica padrões, faz previsões
- Saída (output): Plataforma modifica a interface — recomenda conteúdo,
ajusta preços, muda ranking
- Feedback: Usuário responde à nova interface, gerando novos dados
- Iteração: O ciclo se repete, refinando continuamente o modelo
Este é um sistema de controle em tempo real. O objetivo (do ponto de vista da
plataforma) é maximizar engajamento (tempo de tela, cliques, compartilhamentos)
para maximizar extração de dados e atenção.
11.9.2 Feedback Positivo vs Negativo: A Diferença Crucial
Lembrando do Capítulo 2:
- Feedback negativo: Estabiliza o sistema (ex.: termostato mantém temperatura
constante)
- Feedback positivo: Amplifica desvios, leva a ciclos viciosos ou virtuosos
As plataformas de redes sociais usam deliberadamente feedback positivo para
viciar usuários:
- Você vê um vídeo polêmico → algoritmo nota seu engajamento → recomenda mais vídeos similares
(cada vez mais extremos) → você clica mais → dopamina aumenta → ciclo se intensifica
- Resultado: radicalização algorítmica, câmaras de eco,
vício digital
Não é "bug" — é design intencional. Feedback positivo maximiza engajamento.
🧠 Caso: YouTube Radicaliza por Design
Caleb Cain, ex-seguidor da alt-right americana,
documentou como o algoritmo do YouTube o radicalizou:
"Comecei assistindo Jordan Peterson (autoajuda
conservadora). Algoritmo recomendou Ben Shapiro (conservadorismo mais agressivo). Depois
Stefan Molyneux (supremacia branca disfarçada). Depois Richard Spencer (nazismo explícito).
Em 2 anos, eu estava consumindo propaganda neonazista 5 horas por dia."
O que aconteceu? O algoritmo do YouTube otimiza para
"tempo de visualização". Conteúdo extremista gera mais engajamento (raiva,
indignação mantêm as pessoas assistindo). Logo, feedback positivo empurra usuários para
extremos.
Análise cibernética: Não há humano controlando
esse processo. É um sistema autônomo de radicalização — o "sujeito
automático" operando através de recomendações algorítmicas. Wertkritik + cibernética =
explicação completa.
11.10 "Dados São o Novo Petróleo": Crítica de uma Metáfora Perigosa
A frase "dados são o novo petróleo" tornou-se clichê. Mas ela é profundamente enganosa
— e entender por quê nos ajuda a clarificar a síntese informacional.
11.10.1 Por Que a Metáfora Falha
| Característica |
Petróleo |
Dados |
| Rivalidade |
Rival (se eu queimo, você não pode)
|
Não-rival (copiável infinitamente)
|
| Escassez |
Naturalmente escasso (reservas
finitas) |
Naturalmente abundante (quanto mais
uso, mais dados gero) |
| Origem |
Extraído da natureza (trabalho morto
geológico) |
Gerado por humanos (trabalho vivo
cognitivo/afetivo) |
| Valor |
Valor de uso (energia) + valor de
troca |
Valor de uso depende do contexto;
valor de troca artificialmente criado |
| Esgotamento |
Esgotável (crise energética real) |
Inesgotável (mas atenção humana é
esgotável) |
A metáfora oculta o essencial: Petróleo é um recurso natural finito. Dados são
um produto do trabalho humano contínuo e potencialmente infinito. A comparação
naturaliza a extração de dados como se fosse "colher um recurso que já existe", quando na
verdade é exploração de trabalho não-pago.
11.10.2 A Metáfora Correta: Dados Como Mais-Valia Cristalizada
Dados não são petróleo. Dados são trabalho cristalizado. Quando você navega,
clica, curte, comenta, você está trabalhando — gerando valor informacional que a plataforma
captura.
A metáfora adequada não vem da geologia, mas da fábrica:
- Seus cliques = trabalho na linha de montagem (gerando o produto)
- Algoritmo = máquina (amplifica produtividade do seu trabalho)
- Plataforma = dono da fábrica (fica com o produto final — seus dados)
- Você = trabalhador não-pago (trabalha "de graça" em troca de acesso ao
serviço)
11.11 Soberania de Dados: A Batalha pelo Controle da Infraestrutura
Se dados são trabalho cristalizado, quem deve controlá-los? Esta é a questão política central do
capitalismo digital.
11.11.1 Três Modelos de Governança de Dados
🏛️ Modelo 1: Propriedade Privada (Status Quo —
EUA/Occidente)
Lógica: Dados pertencem às plataformas que os
coletam. Usuários "consentem" via Termos de Uso (que ninguém lê).
Resultado: Concentração extrema (GAFAM), vigilância
total, monetização da vida.
Limite: GDPR europeu tenta regular, mas mantém a
lógica proprietária.
🏛️ Modelo 2: Soberania Estatal (China)
Lógica: Dados gerados em território chinês ficam na
China, sob controle estatal. Plataformas são reguladas/dirigidas pelo Estado.
Resultado: Capacidade de planejamento estatal (ex.:
crédito social, resposta à COVID), mas vigilância autoritária massiva.
Limite: Democracia inexistente — dados servem ao
Estado-Partido, não à população.
🏛️ Modelo 3: Dados Como Comum (Proposta Radical)
Lógica: Dados são produzidos coletivamente, logo
devem ser governados coletivamente. Nem propriedade privada, nem estatal —
propriedade social (ver Cap 9 sobre o Comum).
Exemplo concreto: Data cooperatives
(cooperativas de dados) — usuários se organizam coletivamente para negociar com plataformas
ou construir infraestrutura própria.
Caso real: Cataki (Brasil) —
plataforma cooperativa de catadores de recicláveis. Eles controlam seus próprios
dados de coleta, ao invés de dá-los de graça para um app privado.
Desafio: Como escalar sem ser cooptado ou
esmagado pelas plataformas dominantes?
11.11.2 Caso Brasileiro: A Batalha pelo Marco Civil da Internet
O Brasil teve um momento histórico de disputa pela governança digital: o Marco Civil da
Internet (Lei 12.965/2014).
Contexto: Após Snowden revelar que a NSA espionava Dilma Rousseff, o Brasil
tentou criar uma legislação que afirmasse soberania digital — incluindo
exigências de que dados de brasileiros fossem armazenados em servidores no Brasil.
O que aconteceu: Lobby massivo de Google, Facebook, Microsoft. A exigência de
"data localization" foi removida. O Marco Civil virou uma lei de "neutralidade de rede" — boa,
mas longe da soberania original.
Lição: Soberania de dados não se conquista por lei isolada. Exige
infraestrutura material (datacenters, cabos submarinos, chips) + poder
político para enfrentar corporações trilionárias. Sem uma dessas duas, a lei é
papel.
11.12 Síntese Final: O Metabolismo Informacional do Capital
Estamos prontos para articular a grande síntese deste capítulo, integrando todos
os conceitos em uma única teoria coerente.
🔮 A TESE CENTRAL DA SÍNTESE INFORMACIONAL
O capitalismo digital opera através de um metabolismo informacional — um
sistema cibernético de extração, processamento e retroalimentação de dados que substitui
parcialmente (mas não totalmente) o metabolismo industrial clássico baseado em matéria e
energia.
Componentes do metabolismo:
- Extração primária: Trabalho humano (cognitivo, afetivo, atencional)
gera dados como subproduto de atividades cotidianas
- Primeira transformação: Algoritmos processam dados brutos em
produtos de previsão (perfis psicográficos, modelos de comportamento)
- Mercadificação: Produtos de previsão são vendidos a anunciantes,
seguradoras, empregadores, governos
- Feedback de controle: Previsões são usadas para modificar
comportamento (recomendações, nudges, preços dinâmicos), gerando novos dados
- Acumulação ampliada: O ciclo se repete em escala crescente, com IA
refinando continuamente os modelos
Este metabolismo é:
• Autopoiético (Cap 2) — se reproduz a si mesmo
• Autônomo (Cap 10) — opera como "sujeito automático"
• Dialético (Cap 30) — estrutura e agência se co-determinam
• Totalitário (Cap 16) — subsume todas as esferas da vida
A luta política não é "regular" esse metabolismo, mas substituí-lo por um
metabolismo informacional democrático e ecológico.
11.12.1 Comparação: Metabolismo Industrial vs Informacional
| Dimensão |
Metabolismo
Industrial (Séc. XIX-XX) |
Metabolismo
Informacional (Séc. XXI) |
| Matéria-prima |
Recursos naturais (carvão, ferro,
petróleo) |
Comportamento humano (atenção, dados,
afeto) |
| Local de extração |
Minas, poços, florestas |
Plataformas, apps, sensores (vida
cotidiana) |
| Ferramenta de
transformação |
Máquinas industriais (prensas,
tornos) |
Algoritmos de ML/IA |
| Produto |
Mercadorias físicas (carros, roupas)
|
Produtos de previsão (perfis,
recomendações) |
| Resíduo/Poluição |
CO₂, lixo tóxico, esgoto |
Desinformação, vício, polarização,
ansiedade |
| Contradição central
|
Queda taxa de lucro (mais máquinas,
menos trabalho vivo) |
Abundância informacional vs
necessidade de escassez artificial |
| Forma de resistência
clássica |
Greve, sabotagem, sindicalização |
Desconexão, pirataria, cooperativas
de plataforma |
11.13 Ferramentas para a Luta: Do Diagnóstico à Ação
A síntese informacional não é apenas teoria abstrata. Ela nos dá ferramentas
práticas para lutar no terreno do capitalismo digital.
11.13.1 Cinco Princípios Táticos
✊ 1. Aumentar Variedade (Lei de Ashby)
O capital quer previsibilidade. Seja
imprevisível.
- Mude táticas constantemente (ex.: Breque dos Apps usou horários aleatórios)
- Use criptografia, VPNs, software livre (reduza dados que você vaza)
- Organize fora das plataformas (grupos de WhatsApp → Signal; Facebook → Assembleia
presencial)
✊ 2. Construir Infraestrutura Alternativa
Não basta criticar Facebook/Uber. Construa
alternativas.
- Cooperativas de plataforma (ver Cap 19)
- Redes mesh (internet comunitária, sem provedores corporativos)
- Servidores próprios (Mastodon, Nextcloud, etc.)
Exemplo brasileiro: Rede InfoAmazonia
— satélites comunitários para monitorar desmatamento, fora do controle
governamental/corporativo.
✊ 3. Exigir Transparência Algorítmica
Algoritmos são caixas-pretas de poder. Abri-las é
luta de classes.
- Leis que obriguem plataformas a explicar decisões (ex.: por que fui demitido pelo
algoritmo?)
- Auditorias independentes de viés algorítmico
- Direito a contestação humana (não-automatizada)
✊ 4. Socializar Dados
Se dados são trabalho cristalizado, devem ser propriedade
social.
- Data trusts públicos (similar a fundos de pensão, mas para dados)
- Obrigar plataformas a compartilhar dados agregados com pesquisadores/sociedade civil
- Imposto sobre lucro de dados (similar a royalties de petróleo)
✊ 5. Usar Cibernética Para Coordenação, Não Controle
A ferramenta não é o problema — é quem controla e
para quê.
- Apps para coordenar greves/protestos (ex.: Telegram durante protestos Hong Kong)
- Orçamento participativo digital (Porto Alegre, Taiwan)
- Blockchains para cooperativas (governança transparente, sem hierarquia)
Princípio: Cibernética pode servir à
auto-organização horizontal, não apenas a hierarquias. Depende do design
político.
💭 Exercícios de Análise
1. A Batalha pela Variedade: Analise uma greve ou protesto recente (por exemplo,
de entregadores de aplicativo). Que estratégias o lado do capital (a plataforma) usou para
tentar controlar e padronizar a situação (reduzir a variedade)? E que estratégias os
trabalhadores usaram para surpreender, criar desordem e se comunicar de formas inesperadas
(aumentar a variedade)?
2. Feedback Democrático: Pense em uma decisão importante na sua cidade ou bairro
(por exemplo, a construção de um novo prédio, uma mudança no transporte público). Que tipo de
mecanismos de "feedback democrático" existem para que a população influencie essa decisão? Eles
são eficazes? Como a tecnologia poderia ser usada para criar sistemas de feedback mais rápidos e
eficientes?
3. Planejamento na Prática: A logística de uma grande corporação como a Amazon
ou o Walmart é um exemplo de planejamento em altíssima escala, muito mais complexo do que o
planejamento de muitos países. Isso sugere que a complexidade técnica do planejamento não é o
principal obstáculo para uma economia planejada. Qual você acha que é o principal obstáculo:
técnico, político ou social?
4. Taxa de Extração: Escolha uma plataforma que você usa (Instagram, TikTok,
LinkedIn). Liste todos os dados que ela coleta sobre você. Agora pergunte: quantos desses dados
são estritamente necessários para o serviço funcionar? Calcule uma "taxa de extração"
aproximada.
5. Metabolismo Local: Pense em um serviço digital que você usa diariamente.
Trace o "metabolismo informacional": quais dados você fornece (extração) → como são processados
(transformação) → o que a plataforma vende (mercadificação) → como isso afeta seu comportamento
(feedback).
🔗 Conexões com Outros Capítulos
Este capítulo é uma encruzilhada
teórica. Ele sintetiza conceitos de capítulos anteriores e prepara o terreno
para aplicações posteriores:
📖
Fundamentos que retomamos
🔮
Capítulos futuros que dependem deste
🌉
Conceitos-ponte criados neste capítulo
- Síntese Informacional: Trabalho = transmissão de informação
(conecta Marx + Shannon)
- Marxismo Cibernético: Planejamento com feedback democrático
(conecta socialismo + autogestão)
- Estrutura ↔ Agência: Circularidade dialética mediada por
cibernética de 2ª ordem
💡 Dica: Se você não entendeu completamente este capítulo, não se preocupe.
Os Caps 17-18 (experimentos históricos) e 23-24 (síntese final + propostas) vão tornar essas
ideias mais concretas.
📚 Leituras Complementares
- Nível Intermediário:
- Cockshott, P., & Cottrell, A. (1993). Towards a New Socialism. (O trabalho clássico
que revive a ideia de planejamento socialista na era dos computadores, usando argumentos da
teoria da complexidade computacional).
- Wark, M. (2019). Capital is Dead: Is This Something Worse?. (Uma análise provocadora
que argumenta que entramos em um novo modo de produção, para além do capitalismo, dominado por
uma classe "vetorialista" que controla a informação).
- Nível Avançado:
- Beer, S. (1972). Brain of the Firm. (O relato fascinante da tentativa de Stafford
Beer de construir um sistema de planejamento cibernético para a economia chilena sob Salvador
Allende, o Projeto Cybersyn).
- Medina, E. (2011). Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's
Chile. (Uma análise histórica detalhada do Projeto Cybersyn e seus dilemas).
---
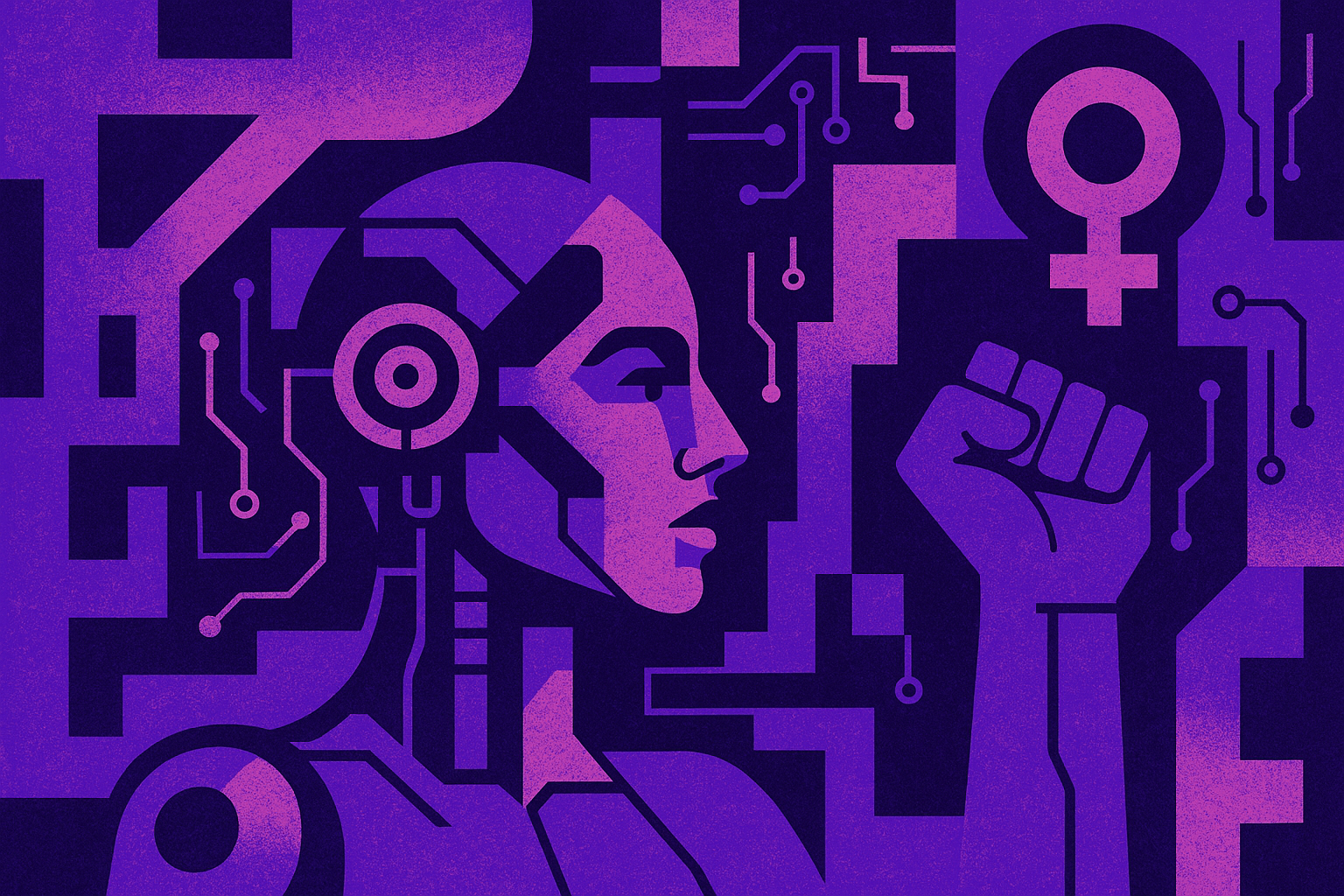
Capítulo 12
Capítulo 12: Ciberfeminismo, Afrofuturismo e Ecossocialismo Digital
🔄 Recapitulando Rapidamente
Onde estamos: Acabamos de completar a Parte
III, o bloco teórico mais denso do livro. Antes de prosseguir, vamos relembrar
o percurso:
📚 Caps 5-8: Fundamentos da Crítica Digital
- Cap 5: Subsunção real — o capital não apenas usa a tecnologia, ele
a molda desde dentro
- Cap 6: Cibernética — a ciência do controle, mas também da
autogestão
- Cap 7: Composição orgânica do capital — por que automação não
libera, mas precariza
- Cap 8: Trabalho imaterial — código, afetos, comunicação como nova
fronteira da exploração
🧠 Caps 9-11: Grandes Sínteses Teóricas
- Cap 9: Pós-Operaísmo — a Multidão, o Comum, o Êxodo como
estratégias de resistência
- Cap 10: Crítica do Valor — o capitalismo como "sujeito automático"
sem controle humano
- Cap 11: Síntese Informacional — como conciliar agência e estrutura
via cibernética de segunda ordem
🎯 Agora, nos Caps 12-16: Vamos ver tudo
isso em ação. A subsunção cibernética não se limita ao trabalho — ela penetra
gênero, sexualidade, lazer, esporte, até as próprias resistências. Prepare-se para
aplicações concretas da teoria que construímos.
Introdução: Para Além da Classe
Nossa jornada teórica se concentrou na dinâmica do capital, do trabalho e da
tecnologia, construindo uma crítica sofisticada do capitalismo digital. No entanto, uma análise
que se limita apenas à dimensão da classe, por mais fundamental que seja, corre o risco de ser
incompleta. O capitalismo não opera no vácuo; ele se apropria e reconfigura hierarquias de
gênero e raça preexistentes, e sua lógica de acumulação infinita colide violentamente com os
limites finitos do planeta. Uma crítica verdadeiramente radical do capitalismo digital precisa,
portanto, ser uma crítica interseccional.
Este capítulo amplia nosso escopo para incorporar três correntes de pensamento críticas que
analisam a tecnologia a partir das lentes do gênero, da raça e da ecologia. O
Ciberfeminismo nos desafia a ver como a tecnologia é codificada como masculina
e a imaginar novas formas de subjetividade e aliança. O Afrofuturismo nos
mostra como a tecnologia pode ser uma ferramenta para reescrever a história e imaginar futuros
de libertação para a diáspora africana. E o Ecossocialismo Digital nos força a
encarar a materialidade suja e o custo ambiental da nossa suposta sociedade "imaterial". Juntas,
essas perspectivas não apenas complementam, mas também desafiam as conclusões que construímos
até aqui, nos empurrando em direção a uma síntese mais robusta e completa.
12.1 Ciberfeminismo: "Eu prefiro ser uma ciborgue a uma deusa"
Nos anos 1980, no auge da segunda onda do feminismo, a relação do movimento com a ciência e a
tecnologia era, na melhor das hipóteses, ambígua. A tecnologia era vista por muitas como um
projeto patriarcal, uma ferramenta de dominação militar, industrial e reprodutiva. Nesse
contexto, o ensaio de 1985 da bióloga e filósofa Donna Haraway, "Um
Manifesto Ciborgue", caiu como uma bomba teórica.
👤
Donna Haraway
Donna Jeanne Haraway
(1944-) é uma bióloga, filósofa e historiadora da ciência estadunidense, professora
emérita da Universidade da Califórnia em Santa Cruz. É uma das figuras mais influentes
do feminismo contemporâneo e dos estudos de ciência e tecnologia. Seu ensaio "Manifesto
Ciborgue" (1985) é um texto fundador do ciberfeminismo e permanece profundamente
relevante para pensar a relação entre humanos, máquinas e natureza no século XXI.
Haraway argumenta que a distinção rígida entre humano e máquina, entre organismo e
tecnologia, é uma construção ideológica que precisa ser questionada. O ciborgue — um
híbrido de organismo e máquina — não é uma ameaça à humanidade, mas uma oportunidade
política. Ele representa a possibilidade de superar dualismos opressivos (homem/mulher,
humano/animal, natural/artificial) que sustentam sistemas de dominação patriarcal,
racista e especista. Diferentemente de visões tecnofóbicas que veem a tecnologia como
inerentemente má, ou tecnoutópicas que a veem como salvação, Haraway propõe uma postura
de "afinidade" com a tecnologia.
Haraway se recusa a ver a tecnologia como inerentemente boa ou má. Em vez disso, ela propõe a
figura do Ciborgue como um mito político para as feministas. O ciborgue é um
híbrido de organismo e máquina, uma criatura que borra as fronteiras sagradas do humanismo
ocidental: a fronteira entre humano e animal, entre humano e máquina, e entre o físico e o
não-físico. Para Haraway, nós já somos todos ciborgues, vivendo em um mundo onde a tecnologia
permeia nossa existência de forma íntima e inescapável.
O ponto central do manifesto é uma rejeição radical do essencialismo. Haraway critica as
vertentes do feminismo que buscam uma identidade "mulher" baseada na natureza, na pureza ou na
vitimização. A figura da "deusa", que representa uma feminilidade natural e não contaminada, é
rejeitada em favor do ciborgue, uma figura impura, híbrida e sem uma história de origem
inocente. O ciborgue não busca retornar a um paraíso perdido; ele aceita a complexidade e a
contradição do presente.
A política do ciborgue, portanto, não é uma política de identidade, mas uma política de
afinidade. É uma chamada para a construção de alianças parciais, inesperadas e,
por vezes, perigosas. Em vez de se unir com base em uma identidade comum ("nós, mulheres"), a
política ciborguiana se une com base em objetivos comuns contra o que Haraway chama de "a
informática da dominação" — o sistema integrado de controle patriarcal, racista e capitalista. É
uma política que pergunta não "quem somos nós?", mas "com quem podemos nos aliar para lutar
contra a dominação?". O legado do ciberfeminismo é imenso, influenciando desde a arte digital e
as teorias queer até os debates atuais sobre a ética da inteligência artificial e a construção
de subjetividades no mundo online.
12.1.1 Como o Patriarcado Estrutura a Tecnologia Digital
⚠️ Da Teoria à Materialidade: Patriarcado no Código
O Manifesto Ciborgue oferece um horizonte
utópico, mas nossa realidade presente é muito mais sombria. Se Haraway nos convida a
imaginar tecnologias de aliança e afinidade, precisamos primeiro reconhecer que
a tecnologia digital existente é profundamente patriarcal. Não como
acidente ou resíduo histórico, mas estruturalmente, desde o design até a
governança, desde o trabalho até a violência que ela possibilita e amplifica. Esta seção
desce da teoria ao concreto: como, exatamente, o patriarcado codifica a tecnologia?
A crítica ciberfeminista não pode se contentar com gestos utópicos. Ela precisa ser, também, uma
crítica materialista das condições atuais. Três pensadoras são fundamentais
para essa análise concreta:
👤
Sadie Plant
Sadie
Plant (1964-) é uma filósofa e teórica cultural britânica, autora de
Zeros + Ones: Digital Women and the New Technoculture (1997). Enquanto Haraway
explora o futuro possível, Plant investiga o passado oculto: como as mulheres
sempre estiveram no coração da tecnologia, mas foram sistematicamente apagadas da
história oficial. Ada Lovelace escreveu o primeiro algoritmo (1843), as mulheres
operavam os primeiros computadores (ENIAC, 1940s) como "computadoras humanas", Grace
Hopper inventou o compilador. Plant argumenta que a estrutura binária da computação
(0/1) não é neutra: o "zero" representa o feminino (vazio, receptivo, matriz), enquanto
o "um" representa o masculino (presença, ação, falo). A tecnologia digital, portanto,
opera em uma linguagem dialética de gênero, mas que o patriarcado tenta
continuamente controlar e masculinizar.
👤
Shulamith Firestone
Shulamith
Firestone (1945-2012) foi uma feminista radical canadense-americana, autora
de The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution (1970). Sua tese é
radical e controversa: a opressão das mulheres tem uma base biológica
— a capacidade reprodutiva feminina as torna vulneráveis à dominação masculina. Mas,
diferentemente de feministas essencialistas, Firestone não aceita essa condição como
destino. Ela propõe que a tecnologia reprodutiva (contracepção,
fertilização in vitro, úteros artificiais) pode libertar as mulheres da
tirania da biologia. A maternidade não seria mais compulsória ou privatizada,
mas opcional e socializada. Embora sua visão de "gestação artificial" possa soar
distópica para muitas, a intuição central permanece vital: a tecnologia não é
neutra, ela pode ser usada para reproduzir ou romper relações de
dominação. O erro histórico foi deixar o desenvolvimento tecnológico nas
mãos do capital e do patriarcado.
Com essas pensadoras como guia, podemos agora dissecar as formas concretas pelas quais o
patriarcado estrutura a tecnologia digital contemporânea:
🔧 1. Cultura "Tech Bro": Quem Projeta a Tecnologia?
A indústria de tecnologia é dominada por homens brancos. No Vale do Silício, mulheres representam
apenas 26% da força de trabalho em tecnologia, e essa porcentagem cai
drasticamente em posições de liderança. Mulheres negras representam menos de 3%
dos trabalhadores em tecnologia. Isso não é acidente, mas resultado de:
- Cultura hostil: Assédio sexual sistêmico (escândalos na Uber, Google,
GitHub), microagressões constantes, e um ambiente que valoriza competitividade agressiva e
bravata masculina.
- Viés de contratação: Algoritmos de recrutamento (usados pela própria
Amazon!) que discriminam mulheres porque "aprendem" com padrões históricos de contratação
masculina.
- Pipeline quebrado: Garotas são desencorajadas desde cedo a seguir STEM;
falta de modelos femininos; educação que associa tecnologia a masculinidade.
Resultado: Quem projeta tecnologia? Homens. Para quem? Para eles mesmos. As
necessidades, experiências e perspectivas das mulheres são sistematicamente ignoradas no
design dos sistemas que estruturam nossas vidas.
🤖 2. Viés Algorítmico: Máquinas Sexistas
Algoritmos aprendem com dados históricos. Se esses dados refletem uma sociedade sexista, os
algoritmos reproduzem e amplificam o sexismo:
- Reconhecimento facial: Sistemas de IA têm taxas de erro até
34% maiores ao identificar mulheres negras, comparado a homens brancos (MIT
Media Lab, 2018). Tecnologia desenvolvida e testada majoritariamente em rostos masculinos
brancos.
- Recrutamento automatizado: A Amazon desenvolveu um algoritmo de contratação
que discriminava mulheres porque foi treinado com currículos de
contratações passadas (majoritariamente homens). Descartava CVs que continham a palavra
"women's" (como "women's chess club").
- Sistemas de crédito: Algoritmos de pontuação de crédito oferecem
sistematicamente limites menores e juros maiores para mulheres, mesmo com
perfil financeiro idêntico ao de homens (caso do Apple Card, investigado em 2019).
- Assistentes virtuais: Siri, Alexa, Google Assistant são
feminilizadas por padrão (voz feminina, nomes femininos, persona
submissa). Por quê? Pesquisas mostram que usuários preferem vozes femininas para
tarefas de serviço. A IA reproduz o estereótipo da "secretária servil".
💀 3. Violência Digital de Gênero: A Internet Como Campo de Batalha
A internet não é um espaço neutro. Para mulheres, especialmente mulheres que ousam falar
publicamente, ela é um campo de batalha constante:
- Assédio online: Mulheres têm 27 vezes mais chances de
serem assediadas online que homens (Pew Research, 2017). Jornalistas mulheres recebem
torrentes de ameaças de estupro e morte.
- Revenge porn: Publicação não-consensual de imagens íntimas, usada como
chantagem, vingança, controle. Afeta 90% mulheres. Plataformas demoram
semanas para remover, dano psicológico é imediato.
- Stalkerware: Aplicativos de espionagem ("controle parental") usados por
parceiros abusivos para rastrear localização, ler mensagens, ouvir conversas. Tecnologia de
vigilância doméstica.
- Deepfakes pornográficos: IA usada para criar pornografia falsa de
mulheres. 96% dos deepfakes são pornográficos, 99% das vítimas são mulheres (2019). Arma de
destruição de reputação.
Efeito silenciador: Muitas mulheres abandonam espaços online, autocensuram,
tornam perfis privados. A violência digital expulsa mulheres da esfera pública
digital, replicando a exclusão do espaço físico.
🏭 4. Trabalho Digital Feminizado e Invisibilizado
Quando mulheres estão presentes no trabalho digital, frequentemente ocupam posições precarizadas
e invisíveis:
- Moderação de conteúdo: Trabalhadoras (majoritariamente mulheres do Sul
Global) que passam 8h/dia vendo e removendo conteúdo violento, pornográfico, traumático.
Salários mínimos, sem suporte psicológico, alta rotatividade, PTSD epidêmico. O "trabalho
sujo" que mantém plataformas "limpas".
- Microtrabalho (Mechanical Turk): Tarefas fragmentadas e mal pagas (rotular
imagens, transcrever áudio). Majoritariamente mulheres, sem direitos trabalhistas, sem
salário mínimo garantido.
- Trabalho sexual digital: OnlyFans, camming, etc. Criminalizado ou
estigmatizado, mas altamente lucrativo para as plataformas. Trabalhadoras enfrentam censura
arbitrária, roubo de conteúdo, ameaças, sem proteções legais.
- Influenciadoras: Trabalho emocional e estético intenso (produzir conteúdo,
gerenciar comunidade, manter imagem). Precariedade algorítmica (plataforma muda regras e
destrói seu alcance), exaustão, ansiedade.
💡 5. Conhecimentos Femininos Desvalorizados
Seguindo Sadie Plant, a história oficial da tecnologia apaga contribuições femininas:
- Ada Lovelace (1815-1852): Primeira programadora, escreveu o primeiro
algoritmo. Frequentemente descrita como "assistente" de Charles Babbage.
- Hedy Lamarr (1914-2000): Inventou a tecnologia de espalhamento espectral
(base do Wi-Fi, GPS, Bluetooth). Reduzida a "atriz bonita" durante sua vida.
- As mulheres do ENIAC (1940s): Seis mulheres (Kay McNulty, Betty Snyder,
Marlyn Meltzer, Ruth Lichterman, Betty Jean Jennings, Fran Bilas) programaram o primeiro
computador digital. Foram excluídas da fotografia oficial de inauguração.
- Grace Hopper (1906-1992): Inventou o primeiro compilador. Contralmirante
da Marinha dos EUA, mas ainda enfrentou sexismo constante.
Padrão: Mulheres fazem o trabalho técnico inovador → São apagadas ou
minimizadas → Homens recebem crédito e prêmios → História celebra "grandes homens da
tecnologia".
🔄 Loop de Retroalimentação: Como Patriarcado e
Tecnologia se Reforçam
- Exclusão no design: Mulheres excluídas da indústria tech →
- Tecnologia enviesada: Tecnologias projetadas por/para homens →
- Reprodução do sexismo: Algoritmos sexistas, violência digital →
- Expulsão de mulheres: Ambientes hostis afastam ainda mais mulheres
→
- Reforço da exclusão: Retorna ao passo 1, ciclo se aprofunda.
Este é um sistema cibernético de feedback positivo (no sentido técnico): o
sexismo inicial é amplificado exponencialmente a cada iteração. Romper esse ciclo exige
intervenção deliberada e radical, não "correções graduais".
✊ Caminhos de Resistência Ciberfeminista
Diante dessa realidade, o ciberfeminismo contemporâneo não é apenas teoria especulativa, mas
práxis de resistência:
- Coletivos hackfeministas: Donestech (Barcelona), Coding Rights (Brasil),
Deep Lab (Nova York) — usam tecnologia para segurança digital, privacidade, autonomia
corporal.
- Xenofeminismo: Laboria Cuboniks (2015) — "Se a natureza é injusta, mude a
natureza!" Defende uso radical da tecnologia para abolir gênero, não para reforçá-lo.
Contraponto a ecofeminismos essencialistas.
- Algoritmos feministas: Projetos como "Gender Shades" (Joy Buolamwini)
expõem viés racial/gênero em IA. "Feminist AI" propõe princípios: transparência,
accountability, inclusão no design.
- Plataformas cooperativas feministas: Stocksy (cooperativa de fotógrafas),
Sassafras Tech (cooperativa de desenvolvedoras), membros são donas.
- Criptofeminismo: Uso de criptografia, redes anônimas (Tor), comunicação
segura para proteger ativistas, vítimas de violência, trabalhadoras sexuais.
A síntese Haraway-Plant-Firestone: Precisamos do horizonte utópico de
Haraway (ciborgue como aliança), da arqueologia crítica de Plant (mulheres sempre
estiveram aqui), e da radicalidade materialista de Firestone (tecnologia pode libertar,
mas só se for expropriada do patriarcado-capital). Ciberfeminismo não é "usar
tecnologia sendo mulher", é hackear o patriarcado através da tecnologia.
🌐 6. Ciberfeminismo em Ação: Correntes Contemporâneas
O ciberfeminismo não parou em Haraway. Novas gerações expandiram e radicalizaram o projeto:
👤
Laboria Cuboniks — Xenofeminismo
Laboria
Cuboniks é um coletivo anônimo de seis mulheres (fundado em 2014) que
publicou o Manifesto Xenofeminista (2015). Se Haraway propõe o ciborgue,
Xenofeminismo (XF) propõe alienação como estratégia. XF rejeita
naturalismos (a ideia de que existe uma "natureza feminina" pura a ser recuperada) e
abraça a artificialidade, a tecnologia, a modificação. "Se a natureza é
injusta, mude a natureza!" XF defende o uso radical da tecnologia para
abolir gênero como categoria opressiva, não para reforçá-lo. Isso
inclui tecnologias reprodutivas (úteros artificiais, contracepção universal), cirurgias
de afirmação de gênero gratuitas, engenharia genética para eliminar doenças hereditárias.
XF é antiessencialista, pró-tecnologia, universalista — mas seu
universalismo é emancipatório, não colonial. Busca construir um mundo onde todos possam
transcender as limitações biológicas e sociais impostas pelo patriarcado-capitalismo.
👤
Legacy Russell — Glitch Feminism
Legacy
Russell é curadora, crítica cultural e artista americana, autora de
Glitch Feminism: A Manifesto (2020). Russell propõe o glitch
(erro, falha técnica) como metáfora política: glitches interrompem o sistema,
tornam visível o que deveria ser invisível, criam espaços de liberdade inesperados. Para
Russell, corpos femininos, negros, queer, trans são tratados como glitches no
sistema patriarcal-branco-cisheteronormativo. Em vez de "consertar" o glitch
(assimilação), devemos celebrá-lo e ampliá-lo. O digital oferece um
espaço para "glitchar" identidades: avatares, usernames, perfis múltiplos permitem
experimentar com gênero, raça, corpo sem as limitações do físico. Mas Russell alerta:
o digital não é paraíso — violência, vigilância, exclusão existem
online. Glitch Feminism é uma prática de resistência criativa que usa
as ferramentas do opressor (tecnologia digital) para sabotar o próprio sistema.
👤
Judy Wajcman — Tecnofeminismo
Judy
Wajcman (1950-), socióloga australiana, professora na London School of
Economics, autora de TechnoFeminism (2004). Wajcman critica tanto o
tecnofobia (feministas radicais que rejeitam tecnologia como
inerentemente patriarcal) quanto o tecnoutopismo (ciberfeministas que
veem tecnologia como automaticamente libertadora). Sua posição: tecnologia é
moldável, resultado de lutas sociais. Não é neutra, mas também não é
determinada. Wajcman analisa como mulheres foram sistematicamente excluídas de profissões
técnicas (engenharia, programação), mas também como resistem e
transformam tecnologias a partir de dentro. Exemplos: engenheiras que
redesenham ferramentas ergonômicas para corpos femininos, programadoras que criam
software de segurança digital para vítimas de violência doméstica. Tecnofeminismo é
pragmático: não espera revolução espontânea da tecnologia, mas luta
cotidiana para democratizar design, produção e governança tecnológica.
🇧🇷 7. Ciberfeminismo no Brasil: Práxis Periférica
No Brasil, ciberfeminismo se desenvolve em contexto de violência digital extrema, vigilância
estatal-corporativa e exclusão digital massiva:
- Coding Rights: ONG fundada em 2016 por Joana Varon. Missão:
defender direitos digitais com foco em gênero, raça, classe. Projetos:
- Chupadados: App que expõe quanto dados cada aplicativo coleta. Gamificação para educação sobre privacidade.
- Violências de Gênero na Internet: Pesquisa sobre assédio, revenge porn, stalkerware. Advocacy por leis de proteção.
- Antivigilância: Oficinas de segurança digital para mulheres, ativistas, jornalistas.
- MariaLab: Hackerspace feminista no Rio de Janeiro. Fundado em 2017. Espaço
para mulheres aprenderem programação, eletrônica, robótica. Pedagogia
feminista: colaborativa, não-competitiva, horizontal. Combate à "síndrome da
impostora" que afasta mulheres de STEM.
- Think Olga: ONG de ativismo digital feminista. Campanhas virais:
- #PrimeiroAssedio (2015): Mulheres compartilham primeira vez que sofreram assédio. 82.000 relatos em 24h. Maioria: antes dos 12 anos. Chocou país, virou política pública.
- #ChegaDeFiuFiu (2013): Mapa colaborativo de locais de assédio de rua. Dados usados para pressionar transporte público.
- Transfeminismo e Tecnologia: Coletivos como TransEmpregos
(plataforma de vagas afirmativas), Prepara Nem (curso de programação para
travestis e transexuais). Reconhecem que mulheres trans e travestis enfrentam
violência digital específica: deadnaming (uso de nome anterior), misgendering
(pronomes errados) automatizados por algoritmos, exclusão de plataformas (banidas de redes
sociais por "conteúdo sexual" quando postam fotos comuns).
- Interseccionalidade brasileira: Blogueiras Negras (rede de
mulheres negras produtoras de conteúdo), Geledés Instituto da Mulher Negra
(monitoramento de racismo e machismo online). Reconhecem que mulheres negras sofrem
violência digital intensificada: racismo + sexismo + classismo. Xingamentos
como "macaca", hipersexualização, ameaças de morte são cotidianos.
✊ Ferramentas de Luta Ciberfeminista
O ciberfeminismo não é apenas teoria, é
caixa de ferramentas práticas:
- Segurança Digital: Signal (mensagens criptografadas), Tor (navegação
anônima), PGP (email encriptado), Tails (sistema operacional seguro). Protege ativistas,
jornalistas, vítimas de violência doméstica.
- Contra Stalkerware: Apps como Certo e
Incognito detectam spyware instalado por parceiros abusivos. Coalition
Against Stalkerware (2019) reúne fabricantes de antivírus para combater vigilância
doméstica.
- Contra Revenge Porn: CCRI (Cyber Civil Rights Initiative)
oferece suporte legal e emocional para vítimas. Ferramentas de remoção:
Google/Facebook/Twitter têm formulários específicos (mas lentos e ineficazes).
- Contra Deepfakes: Sensity AI detecta deepfakes
pornográficos. Legislação: alguns países criminalizam (UK, Austrália), outros ainda não
(Brasil em debate).
- IA Feminista: Feminist AI (Josie Young, Eleanor Drage)
propõe princípios: transparência (explicar decisões algorítmicas), accountability
(responsabilizar desenvolvedores), diversidade (equipes inclusivas), auditoria
independente (testar viés antes de deployment).
- Dados Feministas: Data Feminism (Catherine D'Ignazio,
Lauren Klein, 2020) — livro que propõe repensar ciência de dados através de lente
feminista: questionar poder (quem coleta dados?), desafiar hierarquias (dados de quem
importam?), considerar contexto (números sem história são mentira), tornar trabalho
visível (quem limpa e rotula dados?), abraçar pluralismo (múltiplas perspectivas).
- Código Aberto Feminista: Licenças como Hippocratic
License (proíbe uso de software para violar direitos humanos, incluindo
violência de gênero). Contraponto a licenças "neutras" que permitem uso militar,
vigilância, abuso.
12.2 Afrofuturismo: O Outro Futuro
Se o ciberfeminismo hackeia a relação entre gênero e tecnologia, o Afrofuturismo
hackeia a relação entre raça e tecnologia. O termo foi cunhado pelo crítico cultural
Mark Dery em seu ensaio de 1994, "Black to the Future", para descrever um
fenômeno que já existia há décadas: uma "ficção especulativa que trata de temas afro-americanos
e aborda preocupações afro-americanas no contexto da tecnocultura do século XX".
A premissa do Afrofuturismo é que a diáspora africana foi duplamente alienada: roubada de seu
passado pela escravidão e, em grande parte, excluída das visões de futuro da cultura dominante.
A ficção científica, com suas naves espaciais e cidades reluzentes, tem sido um gênero
predominantemente branco. O Afrofuturismo surge como uma forma de reivindicar o futuro, de
imaginar futuros negros e de usar as ferramentas da ficção científica para reinterpretar o
presente e o passado.
👤
Sun Ra
Sun Ra (1914-1993,
nascido Herman Poole Blount) foi um compositor, pianista, poeta e líder de banda de jazz
estadunidense, uma das figuras mais visionárias e enigmáticas da música do século XX.
Mas Sun Ra foi muito mais que um músico: ele foi um filósofo afrofuturista avant la
lettre, que usou a ficção científica, a mitologia egípcia e a música cósmica para criar
uma cosmologia alternativa de libertação negra. Sun Ra afirmava vir de Saturno, não da
Terra, e que sua missão era salvar a humanidade através da música. Longe de ser mera
excentricidade, essa persona alienígena era uma estratégia política radical. Ao rejeitar
a identidade terrestre e especialmente a identidade afro-americana definida pela
escravidão e opressão, Sun Ra criava um espaço imaginativo de liberdade absoluta. A
Arkestra de Sun Ra era uma comunidade utópica itinerante. Seus membros viviam
coletivamente, ensaiavam diariamente por horas, e performavam rituais musicais que
misturavam jazz de vanguarda, música eletrônica, figurinos espaciais e filosofia
esotérica. Sun Ra é uma figura central do Afrofuturismo.
A estética afrofuturista relê a experiência da diáspora através de metáforas de ficção
científica. A alienação do negro na América não é apenas uma metáfora; é vivida como uma
história de abdução alienígena. A música se torna o veículo para essa viagem. O jazzista
Sun Ra e sua Arkestra criaram uma mitologia inteira, afirmando que eram anjos
de Saturno em uma missão para salvar a humanidade. O funk de
Parliament-Funkadelic imaginou uma "nave-mãe" que viria para resgatar os negros
da opressão terrestre. Mais recentemente, artistas como Janelle Monáe usaram a
figura da androide para explorar temas de identidade, amor e rebelião em uma sociedade
distópica. O Afrofuturismo não é apenas uma estética; é uma prática política. É a insistência em
que a tecnologia não é propriedade do Vale do Silício, mas um campo de batalha cultural que pode
e deve ser reapropriado para construir outras narrativas, outras mitologias e, finalmente,
outros futuros.
📚 1. Fundações Literárias: Octavia Butler e a Ficção Especulativa Negra
👤
Octavia E. Butler — Ficção Especulativa como Ferramenta Política
Octavia Estelle
Butler (1947-2006) foi uma escritora estadunidense de ficção científica,
primeira mulher negra a ganhar reconhecimento massivo no gênero (Hugo Award, Nebula Award,
MacArthur Fellowship). Suas obras exploram poder, sobrevivência, adaptação,
hibridização em contextos de opressão racial, de gênero e de classe. Em
Kindred (1979), uma mulher negra moderna é transportada para a era da escravidão
— metáfora da permanência do trauma racial. Em Parable of the Sower (1993) e
Parable of the Talents (1998), imagina um futuro distópico de colapso climático,
fundamentalismo religioso e fascismo corporativo — mas também de resistência
comunitária liderada por mulheres negras. Em Xenogenesis (trilogia,
1987-1989), alienígenas oferecem à humanidade pós-apocalíptica a chance de
hibridização genética como sobrevivência — mas ao custo de perder
"pureza" humana. Butler questiona: vale a pena preservar uma humanidade que se destrói?
Seu trabalho é Afrofuturismo profundo: usa ficção especulativa para processar traumas
históricos (escravidão, colonialismo) e imaginar futuros de transformação
radical, não retorno a um passado idealizado.
- Samuel R. Delany: Escritor gay negro, autor de Dhalgren (1975),
Stars in My Pocket Like Grains of Sand (1984). Explora sexualidade, linguagem, poder
em universos futuristas radicalmente diversos.
- N.K. Jemisin: Primeira pessoa a ganhar três Hugo Awards consecutivos
(Broken Earth trilogy, 2015-2017). Mundos pós-apocalípticos onde opressão é
estrutural (castas baseadas em "poder orogênico" = metáfora de raça). Resistência é coletiva,
não individual.
- Nnedi Okorafor: Nigeriana-americana, autora de Who Fears Death
(2010), Binti trilogy (2015-2018). Afrofuturismo africano, não apenas
afro-americano. Tecnologia misturada com magia, ancestralidade, cosmologia iorubá.
🎵 2. Afrofuturismo Musical: De Sun Ra a Kendrick Lamar
Música sempre foi veículo central do Afrofuturismo:
- Parliament-Funkadelic (George Clinton): Álbuns conceituais como
Mothership Connection (1975) imaginam nave-mãe alienígena resgatando negros da
opressão. Figurinos espaciais, sintetizadores, letras sobre liberação cósmica. Funk como
ritual afrofuturista.
- Lee "Scratch" Perry (Jamaica): Produtor de dub reggae, usou estúdio como
"nave espacial" (Black Ark Studio). Reverb, delay, loops = efeitos "alienígenas". Letras
sobre Babilônia (sistema colonial) vs. Sião (liberação).
- Detroit Techno (Derrick May, Juan Atkins, Kevin Saunderson): "The Belleville
Three" criaram techno em Detroit pós-industrial (1980s). Som futurista nascido de ruínas da
desindustrialização. Afrofuturismo sônico: máquinas (sintetizadores, drum
machines) como ferramentas de libertação negra, não opressão.
- Janelle Monáe: The ArchAndroid (2010), Dirty Computer
(2018). Persona Cindi Mayweather, androide fugitiva em distopia onde amor é crime. Explora
identidade queer, negra, feminina através de ficção científica. Videoclipes = curtas-metragens
afrofuturistas.
- Kendrick Lamar: To Pimp a Butterfly (2015) mistura jazz, funk,
spoken word, referências a Parliament-Funkadelic. Letras sobre sobrevivência negra em
Compton (Los Angeles), mas com imaginário cósmico, espiritual.
🧠 3. W.E.B. Du Bois e a Dupla Consciência: Raiz Filosófica do Afrofuturismo
👤
W.E.B. Du Bois — Dupla Consciência e o Véu
William Edward
Burghardt Du Bois (1868-1963), sociólogo, historiador, ativista, primeira
pessoa negra a obter PhD em Harvard (1895). Seu livro The Souls of Black Folk
(1903) cunha o conceito de "dupla consciência" (double
consciousness): negros na América desenvolvem duas visões de si
mesmos — uma interna (como se veem) e uma externa (como o mundo branco os
vê). "É uma sensação peculiar, essa dupla consciência... Sempre se olhar através dos
olhos dos outros." Du Bois também fala do "véu" (veil): uma
barreira invisível que separa negros do mundo branco. Negros conseguem ver através do véu
(entendem brancos), mas brancos não veem além dele (não entendem negros).
Conexão com Afrofuturismo: A "alienação" afrofuturista (sentir-se
estrangeiro na própria terra) vem diretamente de Du Bois. Sun Ra dizendo "eu sou de
Saturno" é literalização da dupla consciência — se a Terra branca me rejeita,
reivindico origem cósmica. Afrofuturismo transforma alienação (trauma) em
alienigena (poder).
🎬 4. Afrofuturismo Visual: Cinema e Arte
- Pantera Negra (2018): Filme da Marvel dirigido por Ryan Coogler. Wakanda =
nação africana que nunca foi colonizada, desenvolveu tecnologia avançada baseada em vibranium.
Afrofuturismo mainstream: imaginar África sem colonialismo. Mas também
críticas: Wakanda é monarquia, isolacionista, conservadora. Killmonger (vilão) tem razão ao
criticar inação de Wakanda diante de opressão global negra.
- Ava DuVernay: Diretora de A Wrinkle in Time (2018), primeira mulher
negra a dirigir filme com orçamento +$100 milhões. Embora não seja ficção científica "dura",
usa elementos especulativos para contar história de empoderamento de menina negra.
- Wangechi Mutu: Artista queniana-americana, esculturas e colagens de
ciborgues africanas. Corpos híbridos (humano/máquina/animal) que desafiam
noções ocidentais de beleza, pureza, natureza. Afrofuturismo visual que questiona
colonialismo.
- Ytasha Womack: Cineasta, autora de Afrofuturism: The World of Black Sci-Fi
and Fantasy Culture (2013). Documentários sobre hip-hop, ficção científica,
espiritualidade negra.
🇧🇷 5. Afrofuturismo Brasileiro: Resistência Periférica
No Brasil, Afrofuturismo emerge de contexto de genocídio negro, encarceramento em massa,
necropolítica:
- Emicida: Rapper paulistano, álbum AmarElo (2019) mistura samba, rap,
afrofuturismo. Faixa "Principia" com samples de Elza Soares, referências a
ancestralidade africana, tecnologia como ferramenta de memória e resistência. Videoclipe de
"Pasárgada" = estética afrofuturista brasileira.
- Bia Ferreira: Cantora, compositora, ativista. Música "Cota Não É Esmola"
(2018) viraliza, denuncia racismo estrutural. Estética visual mistura elementos africanos,
futuristas, periféricos. Afrofuturismo como pedagogia política.
- Slam das Minas: Coletivo de poesia falada (slam) de mulheres negras e
periféricas. Poemas sobre sobrevivência, tecnologia, futuro. Exemplo: poeta
Pam Araújo ("Como se eu fosse um robô / programado para sobreviver / na
margem").
- Afrofuturismo quilombola: Coletivos como Quilombo do Futuro
(RJ) usam tecnologia (redes sociais, produção audiovisual, mapeamento digital) para preservar
memória, território, cultura. Resistência não é saudosismo, é futuro.
- Literatura: Ana Maria Gonçalves (Um Defeito de Cor,
2006) reconstrói história de escravizada que se torna comerciante bem-sucedida —
especulação histórica como forma de reescrever passado. Conceição
Evaristo ("Escrevivências") narra experiências de mulheres negras, muitas com
elementos especulativos, mágicos.
🌐 6. Kodwo Eshun e Filosofia Afrofuturista
👤
Kodwo Eshun — Sonic Fiction
Kodwo
Eshun (1967-), teórico britânico-ganês, autor de More Brilliant Than the
Sun: Adventures in Sonic Fiction (1998). Eshun propõe ficção
sônica (sonic fiction): música eletrônica negra (techno, drum'n'bass,
jungle, dub) não representa o futuro, ela constrói o futuro. Som é
tecnologia de viagem temporal. Eshun critica Afrocentrismo nostálgico (que busca retornar
a África mítica pré-colonial). Em vez disso, defende Afrofuturismo como
abdução: "Sequestrados do futuro, não do passado." Escravidão foi
abdução alienígena (literal: arrancar pessoas de um mundo e jogá-las em outro). Resposta:
abduzir o futuro, forçar a existência de futuros negros que o sistema
branco tenta apagar. Eshun também co-fundou The Otolith Group (coletivo
de arte), que produz ensaios-filmes afrofuturistas. Obra seminal: The Alien
Within (2013), sobre cosmonaut soviético negro.
🌍 7. Cosmotécnicas e Afrofuturismo Global
👤
Yuk Hui — Cosmotécnicas e Pluriversos Tecnológicos
Yuk Hui
(1976-), filósofo hongkonguês, autor de The Question Concerning Technology in
China (2016) e Recursivity and Contingency (2019). Hui critica a ideia
de que existe uma única "Tecnologia" universal (ocidental, capitalista,
colonial). Propõe cosmotécnicas (cosmotechnics): cada cultura
desenvolve relações específicas entre cosmos (cosmologia, metafísica) e techne
(fabricação, técnica). Exemplo: tecnologia chinesa (Dao, harmonia, ritmo) é diferente de
tecnologia europeia (domínio, controle, linearidade). Conexão com
Afrofuturismo: Afrofuturismo é uma cosmotécnica
afrodiaspórica — não cópia da tecnologia branca, mas criação de tecnologias
baseadas em cosmologias africanas (ancestralidade, comunalismo, ciclicidade). Wakanda
(Pantera Negra) é ficção de cosmotécnica africana. Desafio: superar colonialismo
epistêmico que impõe tecnologia ocidental como única válida. Pluriverso
tecnológico vs. universalismo colonial.
✊ Afrofuturismo Como Prática Política
Afrofuturismo não é escapismo. Não é
abandonar a Terra em busca de salvação cósmica. É usar imaginação especulativa como
arma:
- Reescrever passado: Ficção histórica especulativa (e se escravidão nunca
tivesse acontecido? E se quilombos tivessem vencido?) desafia narrativa branca de
"inevitabilidade".
- Ocupar futuro: Futuro é colonizado (ficção científica branca imagina
futuros sem negros, ou negros como escravos/serviçais). Afrofuturismo descoloniza o
futuro.
- Processar trauma: Usar metáforas de ficção científica (abdução
alienígena, cyborgs, viagem temporal) para processar traumas históricos (escravidão,
colonialismo, genocídio).
- Inspirar resistência: Imaginar futuros de libertação inspira luta
presente. Se podemos imaginar mundo sem racismo, podemos construí-lo.
- Tecnologia como ferramenta negra: Reclamar tecnologia (historicamente
usada para oprimir negros: correntes, navios negreiros, chicotes, prisões) como ferramenta
de libertação (comunicação, organização, preservação de memória).
12.2.1 Neurodiversidade e Deficiência: Corpos e Mentes Dissidentes
♿ A Tecnologia Como Campo de Exclusão
Se o ciberfeminismo desmonta a exclusão de
gênero e o afrofuturismo desmonta a exclusão racial, a crítica da
deficiência
(Disability Studies) desmonta uma exclusão ainda mais invisibilizada: a dos corpos e
mentes não-normativas. A tecnologia digital promete "conectar o mundo", mas
para quem? Sites, aplicativos, interfaces são projetados para um "usuário
padrão" imaginário: vidente, ouvinte, com mobilidade plena, neurotípico, alfabetizado. Quem
não se encaixa nessa norma — bilhões de pessoas — é sistematicamente excluído ou relegado a
"adaptações" precárias como afterthought.
🧠 1. Neurodiversidade: Além da "Normalidade"
O conceito de neurodiversidade, cunhado pela socióloga autista Judy
Singer (1998), propõe que diferenças neurológicas (autismo, TDAH, dislexia,
dispraxia, etc.) não são "defeitos a corrigir", mas variações naturais da cognição
humana — como biodiversidade, mas do cérebro.
- Modelo social da deficiência: O problema não está no indivíduo ("ele é
deficiente"), mas na sociedade capacitista que constrói ambientes hostis.
Um cadeirante não é "incapaz" — a cidade sem rampas é incapacitante.
- Aplicado à tecnologia: Um site sem legendas não é "inacessível para
surdos" — ele é mal projetado. A tecnologia pode ser libertadora
ou opressora, dependendo de como é desenhada.
- Crítica do "conserto": Indústria tech frequentemente vê pessoas com
deficiência como "problemas a resolver" (curar autismo, normalizar TDAH via apps). Mas a
demanda real é autonomia, não normalização.
👁️ 2. Design Capacitista: A Arquitetura da Exclusão
A tecnologia digital replica e amplifica exclusões físicas:
- Interfaces visuais: Websites dependentes de mouse, sem navegação por
teclado → excluem pessoas cegas (que usam leitores de tela) e com paralisia cerebral.
- Conteúdo audiovisual: Vídeos sem legendas/transcrições → excluem surdos e
pessoas em ambientes barulhentos. Podcasts sem transcrições → mesma exclusão.
- Cores e contraste: Texto cinza claro em fundo branco (tendência de design
"minimalista") → ilegível para pessoas com baixa visão ou daltonismo.
- CAPTCHAs: Provas "Você é humano?" que pedem identificar imagens → excluem
cegos. Versões de áudio são frequentemente ininteligíveis. Ironia cruel:
IA exige que humanos provem sua humanidade, mas falha com humanos "não-padrão".
- Interfaces gestuais: Touch screens, reconhecimento de gestos → excluem
pessoas com tremores, artrite, membros amputados.
- Sobrecarga sensorial: Sites com animações piscando, autoplay de vídeos →
triggers para epilepsia, enxaqueca, autismo (sensibilidade sensorial).
⚖️ 3. Acessibilidade Como Afterthought (Pensamento Posterior)
Acessibilidade raramente é prioridade no design tech:
- Desenvolvimento: Apenas 3% dos sites cumprem
minimamente diretrizes WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Acessibilidade é vista
como "extra", não como requisito básico.
- Educação: Cursos de programação/design raramente ensinam acessibilidade.
Desenvolvedores aprendem React, não ARIA (Accessible Rich Internet Applications).
- Incentivos: Startups priorizam "crescimento rápido" sobre inclusão.
Acessibilidade "desacelera" desenvolvimento, então é adiada indefinidamente ("faremos isso
depois" = nunca).
- Testes: Empresas testam produtos com "usuários típicos", não com pessoas
com deficiência. Resultado: produtos que "funcionam" para desenvolvedores, mas excluem 15%
da população global (1 bilhão de pessoas).
🤖 4. IA e Viés Capacitista
Inteligência Artificial reproduz exclusões:
- Reconhecimento facial: Falha em detectar pessoas com paralisia facial,
síndrome de Down, deformações. Sistemas de segurança/autenticação os excluem.
- Reconhecimento de voz: Treinado com fala "padrão", falha com gagueira,
disartria, sotaques regionais. Assistentes virtuais (Alexa, Siri) frustram usuários com
deficiências de fala.
- Algoritmos de contratação: Discriminam históricos de emprego
"não-lineares" (comum em pessoas com deficiências que enfrentam barreiras laborais).
Descartam automaticamente.
- Moderação automatizada: Remove conteúdo de ativistas com deficiência por
"erro" (palavras como "cego", "paralítico" acionam filtros de ódio, mesmo em contextos de
auto-identificação).
🔓 5. Autonomia vs. Controle: Tecnologias Assistivas Ambíguas
Tecnologias "assistivas" podem libertar ou oprimir:
- Libertação: Leitores de tela (NVDA, JAWS) permitem que cegos naveguem na
web. Legendas automáticas (YouTube) democratizam conteúdo. Apps de comunicação alternativa
(Proloquo2Go) dão voz a não-verbais.
- Controle: "Tecnologias de normalização" que impõem conformidade. Apps de
"correção comportamental" para autistas (ABA digital) usam gamificação para suprimir
estimming (movimentos auto-regulatórios). Behaviorismo digital.
- Vigilância médica: Dispositivos wearables que monitoram sinais vitais de
pessoas com deficiências crônicas. Dados compartilhados com seguradoras, que aumentam
prêmios ou negam cobertura. Punição via dados.
- Eugenia digital: Diagnósticos pré-natais via IA para "detectar" autismo,
síndrome de Down → pressão por abortos seletivos. Tecnologia como ferramenta de
eliminação preventiva.
👤
Mia Mingus — Disability Justice
Mia
Mingus é uma escritora, educadora e ativista coreana-americana,
co-fundadora do movimento Disability Justice (Justiça da Deficiência). Enquanto
o movimento tradicional pelos "direitos das pessoas com deficiência" focava em
integração ao sistema existente (rampas, cotas, etc.), o Disability
Justice é anticapitalista, anticolonial, queer e interseccional. Mingus
argumenta que o capacitismo não é um problema "isolado", mas está entrelaçado com
racismo, sexismo, classismo, heteronormatividade. Pessoas negras com deficiência sofrem
violência policial desproporcional. Mulheres com deficiência enfrentam taxas altíssimas
de violência sexual. Pessoas trans com deficiência são negadas tratamento médico. A
tecnologia, nesse contexto, não deve buscar "consertar" pessoas para se adequarem ao
capitalismo capacitista, mas transformar a sociedade para valorizar todos os
corpos e mentes. "Não queremos acessibilidade. Queremos um mundo onde
acessibilidade seja redundante, porque tudo já é projetado para todos."
♿ 6. Design Universal: Projetar Para Todos
A alternativa ao capacitismo é o Design Universal (Universal Design):
- Princípio: Projetar desde o início para a maior diversidade
possível de usuários, não como "adaptação" posterior.
- Exemplos físicos: Rampas (beneficiam cadeirantes, carrinhos de bebê,
idosos, pessoas com malas). Portas automáticas. Banheiros gênero-neutros.
- Exemplos digitais:
- Legendas/transcrições (beneficiam surdos, pessoas em ambientes barulhentos,
não-nativos da língua, pessoas com dificuldades de processamento auditivo).
- Atalhos de teclado (beneficiam cegos, pessoas com mobilidade reduzida, power
users).
- Modo escuro (beneficia pessoas com sensibilidade à luz, usuários noturnos, economia
de bateria).
- Texto simples e direto (beneficia disléxicos, pessoas com deficiência intelectual,
não-nativos, pessoas com fadiga cognitiva).
- Efeito Rampa: Design para acessibilidade frequentemente beneficia
todos. Legendas foram criadas para surdos, mas 80% dos usuários as usam por
conveniência. Reconhecimento de voz foi desenvolvido para pessoas com mobilidade reduzida,
agora todos usamos assistentes virtuais.
🏴 7. Crip Theory: Teoria Crip e Resistência Radical
👤
Crip Theory — Além do Modelo Social
Crip
Theory (Teoria Aleijada/Crip) emerge nos anos 2000, inspirada pela Queer
Theory. Assim como "queer" foi ressignificado de insulto para identidade
política, "crip" (gíria ofensiva para "aleijado") é reapropriado. Robert
McRuer (Crip Theory: Cultural Signs of Queerness and Disability,
2006) argumenta que capacitismo e heteronormatividade são sistemas entrelaçados:
capitalismo exige corpos produtivos, normais, heterossexuais,
reprodutores. Deficiência e queerness são desvios dessa
norma. Crip Theory não busca "inclusão" no sistema capacitista, mas
transformação radical: questionar a própria ideia de "normalidade",
valorizar modos de existir que não são produtivos no sentido capitalista. Alison
Kafer (Feminist, Queer, Crip, 2013) propõe futuros
crip: imaginar mundos onde deficiência não seja tragédia a ser curada, mas
parte da diversidade humana celebrada. Crip futurity vs. ableist futurity (que imagina
futuros "limpos" de deficiência via eugenia, cura forçada).
🔧 8. Tecnologias Assistivas: Entre Autonomia e Controle
Tecnologias assistivas podem ser libertadoras ou opressoras, dependendo de quem
controla design, acesso, dados:
✅ Tecnologias Libertadoras
- Leitores de tela: NVDA (gratuito, código aberto), JAWS (pago, proprietário).
Permitem que cegos naveguem web, usem computadores. Autonomia radical.
- Legendas automáticas: YouTube, Zoom geram legendas via IA. Não são
perfeitas, mas democratizam acesso. Surdos podem participar de aulas, conferências, consumir
conteúdo.
- Comunicação Alternativa Aumentativa (CAA): Apps como Proloquo2Go,
LAMP Words for Life permitem que pessoas não-verbais (autistas, paralisia
cerebral, AVC) se comuniquem via toque/olhar. Dão voz literal.
- Próteses de código aberto: e-NABLE (rede global) fabrica
próteses de mão com impressoras 3D. Custo: $20-50 (vs. $10.000-50.000 de próteses
comerciais). Arquivos abertos, qualquer um pode imprimir, modificar.
- Cadeiras de rodas DIY: Free Wheelchair Mission,
Wheelchair Foundation fornecem cadeiras de baixo custo para países pobres.
Designs adaptáveis para terrenos difíceis (lama, areia).
⚠️ Tecnologias Opressoras
- ABA Digital: Apps de Applied Behavior Analysis para autistas.
Usam gamificação, recompensas para "corrigir" comportamentos autistas
(estimming, evitar contato visual). Comunidade autista denuncia: ABA é
tortura, causa PTSD, trauma. Objetivo é normalização, não
autonomia.
- Wearables de monitoramento: Dispositivos que rastreiam sinais vitais,
localização de pessoas com deficiência. Dados compartilhados com cuidadores, seguradoras,
empregadores. Vigilância médica disfarçada de "cuidado".
- Tecnologias de "cura": Implantes cocleares controversos (comunidade surda se
divide: alguns veem como genocídio cultural surdo, outros como escolha individual). Terapias
genéticas para "eliminar" deficiências. Eugenia high-tech.
- Diagnósticos pré-natais: Testes genéticos detectam síndrome de Down, autismo,
outras condições. Taxa de aborto pós-diagnóstico de Down: 67-85% (varia por
país). Eugenia preventiva: sociedade capacitista prefere eliminar fetos com
deficiência a construir mundo acessível.
🇧🇷 9. Exclusão Digital no Brasil: Capacitismo Estrutural
Brasil tem 45 milhões de pessoas com deficiência (24% da população, IBGE 2019).
Exclusão digital é massiva:
- Sites governamentais inacessíveis: Apenas 0,89% de sites do
governo federal cumprem diretrizes de acessibilidade (CGI.br, 2022). Pessoas cegas não
conseguem agendar consultas no SUS, acessar serviços públicos digitais.
- Educação remota na pandemia: COVID-19 forçou aulas online. Plataformas
(Google Meet, Zoom) frequentemente sem legendas, intérpretes de LIBRAS. Estudantes
surdos e cegos foram excluídos.
- Transporte: Apps de transporte (Uber, 99) não têm opções para cadeirantes.
Recusas sistemáticas de corridas para pessoas com deficiência (motoristas
cancelam ao ver cadeira de rodas). Sem accountability.
- Bancos digitais: Nubank, Banco Inter, C6 Bank promovem "banco 100% digital".
Mas apps frequentemente inacessíveis para cegos (botões sem rótulos, navegação impossível via
leitor de tela). Exclusão financeira digital.
- Voto eletrônico: Urna eletrônica brasileira tem sistema de áudio para
cegos desde 2002 — exemplo positivo. Mas máquinas nem sempre funcionam, mesários
não são treinados, fones quebrados.
🧬 10. Eugenia Digital: IA e Eliminação Preventiva
Avanços em IA e genética criam riscos de eugenia renovada:
- Edição genética (CRISPR): Tecnologia permite "corrigir" mutações genéticas.
Defensores: curar doenças hereditárias. Críticos: quem decide o que é "defeito"?
Autismo, surdez, nanismo podem ser "curados" — mas comunidades resistem: "Não somos
defeituosos, somos diferentes."
- Seleção de embriões: Fertilização in vitro permite testar embriões, descartar
os com "defeitos". China usa IA para prever QI, aparência, risco de
doenças de embriões. Eugenia algorítmica.
- Aborto seletivo: Islândia tem taxa de 100% de aborto após
diagnóstico de síndrome de Down. Dinamarca: 95%. Países nórdicos praticamente
eliminaram população com Down. É "escolha" ou pressão social
capacitista?
- Utilitarismo capacitista: Peter Singer (filósofo, utilitarista) defende
infanticídio de bebês com deficiências severas. Argumento: vida sem
consciência plena não tem valor. Comunidade com deficiência responde: "Quem define
'qualidade de vida'? Vocês, não nós."
✊ Manifesto Por Tecnologia de Justiça da Deficiência
Uma tecnologia verdadeiramente emancipatória deve:
- Nada sobre nós sem nós: Pessoas com deficiência devem liderar o design
de tecnologias que as afetam. Não "consultar" como afterthought, mas co-criar
desde o início.
- Acessibilidade como padrão: Não como "recurso extra", mas como
requisito inegociável. Sites/apps inacessíveis devem ser tratados como produtos
defeituosos.
- Fim da normalização: Rejeitar tecnologias que visam "consertar" ou
"curar" neurodiversidade/deficiência. Priorizar autonomia e
autodeterminação.
- Código aberto e reparável: Tecnologias assistivas são caríssimas
(cadeiras de rodas motorizadas = $30k). Software/hardware livre permite fabricação
comunitária a custo baixo.
- Antieugenismo: Resistir ao uso de IA/genética para "prevenir"
deficiências. Afirmar o valor inerente de todas as vidas, independente
de produtividade capitalista.
- Interseccionalidade: Reconhecer que capacitismo se entrelaça com
racismo, sexismo, classismo. Tecnologia anticapacitista deve ser anticapitalista,
anticolonial, feminista.
- Futuros Crip: Imaginar futuros onde deficiência não é eliminada, mas
valorizada. Tecnologia serve diversidade, não normalização.
Síntese: A crítica da deficiência não é "mais uma" perspectiva a adicionar à
lista. Ela fundamentalmente questiona o mito do usuário universal que sustenta
todo o design tecnológico capitalista. Se ciberfeminismo mostra que tecnologia é generificada e
afrofuturismo mostra que é racializada, Disability Justice mostra que ela é
capacitista — projetada para um corpo/mente "padrão" que não existe. Uma
tecnologia verdadeiramente libertadora deve ser projetada para a diversidade
real da humanidade, não para um ideal abstrato e excludente.
12.3 Ecossocialismo Digital: A Nuvem Tem um Custo Material
Por fim, o Ecossocialismo Digital nos traz de volta à Terra, com uma crítica
contundente à suposta "imaterialidade" do mundo digital. A ideia de que nossa economia está se
tornando mais "limpa" e "verde" ao se mover para a "nuvem" é, segundo essa corrente, uma
perigosa ilusão.
🌍 O Mito da Desmaterialização
A promessa neoliberal era clara: a "economia
do conhecimento" seria leve, limpa, imaterial. Fábricas sujas dariam lugar a escritórios
elegantes. Siderúrgicas poluentes seriam substituídas por data centers silenciosos. Mas
essa narrativa é uma mistificação ideológica. A infraestrutura digital é
tão material, suja e violenta quanto qualquer indústria pesada — ela apenas
externaliza sua brutalidade para longe dos olhos do Norte Global.
🏭 1. Data Centers: As Fábricas Invisíveis do Século XXI
A "nuvem" não paira etereamente sobre nossas cabeças. Ela repousa, pesada e quente, em
data centers gigantescos espalhados pelo planeta:
👤
Kate Crawford — Atlas of AI
Kate
Crawford (1975-) é pesquisadora australiana, professora na University of
Southern California e pesquisadora sênior na Microsoft Research. Seu livro Atlas of
AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence (2021)
é uma das críticas mais contundentes da materialidade oculta da inteligência artificial.
Crawford demonstra que IA não é "virtual" — ela começa com extração
mineral (lítio em salares bolivianos, cobalto em minas congolesas), passa
por trabalho humano precarizado (rotuladores de dados no Quênia,
moderadores traumatizados nas Filipinas), consome quantidades absurdas de
energia (treinar GPT-3 emitiu 552 toneladas de CO₂), e termina em
montanhas de e-lixo tóxico. Cada query do ChatGPT, cada
recomendação da Netflix, cada imagem gerada por IA tem um custo
planetário. A IA não é "inteligência desencarnada" — ela é uma cadeia de
fornecimento global tão material e destrutiva quanto a indústria automobilística.
- Consumo energético: Data centers consomem cerca de 1-2% da
eletricidade global (200 TWh/ano, equivalente ao consumo da Argentina
inteira). Estimativas projetam que chegará a 8% até 2030. A maior parte
dessa energia ainda vem de combustíveis fósseis.
- Refrigeração: Servidores geram calor imenso. Para resfriá-los, data
centers consomem milhões de litros de água doce diariamente. Em regiões
com escassez hídrica (Arizona, Chile), isso compete diretamente com necessidades humanas
básicas.
- Localização geopolítica: Data centers são construídos onde energia e
terra são baratas, frequentemente em países com regulação ambiental frouxa
e trabalho precarizado. É colonialismo digital: o Norte consome, o Sul
arca com os custos.
- Inteligência Artificial: Treinar um único modelo de linguagem grande (como
GPT-3) emite aproximadamente 552 toneladas de CO₂ — equivalente a 5 carros
durante sua vida inteira. Modelos são re-treinados constantemente, multiplicando o impacto.
- Criptomoedas: Mineração de Bitcoin consome 150 TWh/ano
(mais que a Argentina!), com pegada de carbono de 65 megatoneladas de
CO₂/ano
— mais que a Grécia inteira. E para quê? Especulação financeira.
⛏️ 2. Mineração de Conflito: O Custo Humano dos Gadgets
Cada smartphone, laptop ou tablet depende de dezenas de metais raros extraídos
em condições brutais:
- Cobalto (baterias de lítio-íon): Mais de 70% do cobalto
mundial vem da República Democrática do Congo. Estima-se que 40.000
crianças trabalham em minas artesanais, em condições insalubres, sem proteção,
por menos de $2/dia. Controle das minas está ligado a milícias armadas e perpetua guerra
civil que já matou 6 milhões de pessoas.
- Lítio (baterias): Extração concentrada no "Triângulo do Lítio"
(Argentina, Bolívia, Chile). Método de extração por evaporação consome 500.000
litros de água por tonelada de lítio, secando aquíferos em regiões áridas,
destruindo modos de vida de comunidades indígenas (Atacameños, Aymaras).
- Terras raras (circuitos, telas): China controla 80% da produção.
Mineração e refino geram poluição tóxica massiva (ácidos, metais pesados,
radioatividade). Cidade de Baotou (Mongólia Interior): lago de rejeitos tóxicos de 10 km²,
chamado de "lago da morte".
- Coltan (capacitores): Extraído em zonas de conflito no Congo, Ruanda.
Receita financia grupos armados. Mineração ilegal em parques nacionais destrói habitat de
gorilas das montanhas (em extinção crítica).
- Estanho (soldas): Indonésia é grande produtor. Mineração offshore
destruiu recifes de corais, decimou pesca local, provocou deslizamentos de terra fatais.
⚠️ Vladan Joler: Anatomia de um Sistema de
Exploração
Vladan Joler, pesquisador e
artista sérvio, co-criou a visualização "Anatomy of an AI System" (2018) — um
diagrama monumental que mapeia a cadeia de fornecimento completa do Amazon Echo. Começa em:
minas de cobalto congolesas (trabalho infantil, mortes por desabamento) →
fábricas chinesas (Foxconn, suicídios, jornadas de 12h) →
data centers (consumo energético de uma cidade pequena) →
trabalhadores invisíveis (rotuladores de dados indianos, moderadores
filipinos com PTSD) → e-lixo em Gana (crianças queimando placas de
circuito para recuperar cobre, inalando chumbo e mercúrio). Um único dispositivo.
E nós temos bilhões deles.
♻️ 3. E-lixo: Zonas de Sacrifício no Sul Global
A obsolescência programada garante que dispositivos eletrônicos tenham vida útil curta. O
resultado?
- Volume: O mundo gerou 62 milhões de toneladas de
e-lixo em 2022 (Global E-waste Monitor 2024), projetadas para 82
milhões de toneladas até
2030. Isso equivale a mais de 8.000 Torres Eiffel por ano.
- Reciclagem: Apenas 22,3% é reciclado formalmente (2022). O
restante (48 milhões de toneladas) é descartado, queimado ou exportado
ilegalmente.
- Exportação ilegal: Convenção de Basileia (1989) proíbe exportação de lixo
tóxico, mas é amplamente violada. 80% do e-lixo gerado no Norte Global é exportado
para África e Ásia, rotulado falsamente como "equipamento usado" ou
"doações".
- Destinos: Agbogbloshie (Gana), Guiyu (China), Delhi (Índia) —
"cemitérios digitais" onde crianças e adultos queimam
placas de circuito a céu aberto para extrair cobre, ouro, paládio. Liberam
dioxinas, chumbo, mercúrio, cádmio. Taxa de câncer, problemas
respiratórios, neurológicos disparam.
- Valor perdido: E-lixo contém metais preciosos (ouro, prata, paládio, cobre,
ferro) no
valor de US$ 62 bilhões/ano não recuperados (2022) — mais que o PIB de
muitos países. Apenas uma fração é recuperada formalmente em condições adequadas.
�🇷 3.1. E-lixo no Brasil: Periferia do Descarte Global
Brasil gera 2,4 milhões de toneladas de e-lixo/ano (7º maior gerador mundial), mas
apenas 3% é reciclado formalmente (Green Eletron, 2022):
- Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos (2010): Obriga fabricantes a
receberem e-lixo de volta (logística reversa). Na prática: poucos pontos de
coleta, fabricantes não cumprem, fiscalização inexistente.
- Catadores informais: Estimados 800.000 catadores no Brasil. Muitos manipulam
e-lixo sem proteção (queimam plásticos, expõem-se a metais pesados). Trabalho
essencial, mas invisível e perigoso.
- Exportação clandestina: Parte do e-lixo brasileiro é exportada ilegalmente
para África (Gana, Nigéria). Navegadores confiscam containers rotulados como "doações".
- Mineração urbana: Iniciativas como Coopermiti (SP) reciclam
e-lixo de forma cooperativa. Mas sofrem com falta de infraestrutura, competição de empresas
privadas que levam material mais valioso.
�🌡️ 4. Crise Climática: IA e Blockchain Aceleram o Colapso
A pegada de carbono da economia digital está crescendo exponencialmente:
- Setor TIC total: Responsável por 3-4% das emissões globais de
gases de efeito estufa — mais que a aviação civil. Projeções indicam
14% até 2040 se nada mudar.
- Streaming de vídeo: Netflix, YouTube, pornografia representam
60% do tráfego de internet. Estudos recentes e validados (IEA, Carbon
Trust, Netflix 2020-2024) estimam que o streaming global emite aproximadamente 30-50
milhões de toneladas de CO₂/ano — significativo, mas muito menos que
estimativas antigas e incorretas de 300 milhões (desacreditadas após correção de erro
metodológico do Shift Project em 2020). Uma hora de streaming emite cerca de 55 gramas de
CO₂.
- 5G: Promete velocidades maiores, mas consome 3x mais
energia
que 4G. Multiplicação de dispositivos IoT ("Internet das Coisas") exacerba o problema.
- Inteligência Artificial: Treinar GPT-3 = 552 toneladas de
CO₂. Treinar um único modelo de visão computacional = 284 toneladas de
CO₂ (5x emissões de um carro durante sua vida). IA generativa (DALL-E,
Midjourney,
ChatGPT) multiplica isso exponencialmente.
- Efeito rebote: Eficiência energética de hardware melhora, mas
volume de uso cresce mais rápido (Paradoxo de Jevons). Resultado líquido:
aumento absoluto nas emissões.
✊ Ecossocialismo Digital: Horizonte de Resistência
Diante desse diagnóstico brutal, o
ecossocialismo digital propõe uma ruptura radical com a lógica de
acumulação infinita:
- Direito ao Reparo: Proibir obsolescência programada, forçar fabricantes
a fornecer peças, manuais, suporte por décadas. Tecnologia deve ser durável,
modular, reparável.
- Hardware Livre: Projetos como Fairphone (smartphone ético), Framework
Laptop (100% modular). Specs abertos, sem patentes, produção cooperativa.
- Software Livre: Substituir monopólios proprietários por alternativas
livres (Linux, LibreOffice, etc). Código aberto reduz necessidade de hardware novo.
- Decrescimento Digital: Questionar a necessidade de crescimento
infinito de dados, streaming, IA. Desacelerar, simplificar, priorizar o
essencial.
- Data Centers Solares/Eólicos: Transição para 100% energia renovável.
Dinamarca já tem data centers com 100% eólica.
- Justiça Ambiental: Países do Norte devem pagar
reparações ao Sul Global pela extração e contaminação. Fundo global para
limpar "cemitérios digitais".
- Soberania Tecnológica: Comunidades decidem que tecnologia querem. Não
impor 5G, IA, IoT se não atendem necessidades reais. Priorizar tecnologias
apropriadas.
- Fim de Criptomoedas Proof-of-Work: Bitcoin deve ser banido por crime
climático. Alternativas: Proof-of-Stake (99% menos energia) ou moedas estatais digitais.
🌍 5. Pensadores Ecossocialistas: Materialismo Ecológico
👤
Andreas Malm — Fossil Capital e Coronavírus Comunismo
Andreas
Malm (1977-), geógrafo sueco, professor na Lund University, autor de
Fossil Capital (2016) e How to Blow Up a Pipeline (2021). Malm
desmonta o mito de que humanidade como um todo é responsável pela crise climática
("Antropoceno"). Propõe "Capitaloceno": não é a espécie
humana, mas o capitalismo — especificamente, a burguesia industrial que
escolheu carvão (1800s) não por ser "melhor", mas por permitir controle sobre
trabalhadores (fábricas a vapor em cidades vs. moinhos d'água em vilarejos
autônomos). Capitalismo é adicto em combustíveis fósseis por design. Em
Corona, Climate, Chronic Emergency (2020), Malm defende
"comunismo de guerra climático": estados devem nacionalizar
setores-chave (energia, transporte, produção), desmantelar indústrias
fósseis, planejar economia. Reformismo gradual é lento demais. Precisamos de
ruptura revolucionária. Aplicado ao digital: data centers,
infraestrutura de telecomunicações devem ser públicas, planejadas,
eco-centradas, não deixadas ao mercado.
👤
Jason W. Moore — Web of Life e Capitaloceno
Jason W.
Moore (1971-), historiador ambiental estadunidense, professor na Binghamton
University, autor de Capitalism in the Web of Life (2015). Moore propõe
"ecologia-mundo" (world-ecology): capitalismo não "age sobre"
a natureza de fora; ele organiza natureza desde dentro. Não há separação
entre "sociedade" e "natureza" — capitalismo é uma ecologia, um modo de
organizar metabolismo entre humanos e resto da vida. Moore cunha "Capitaloceno"
(independentemente de Malm, 2013): era geológica definida pelo capitalismo, não pela
humanidade. Capitalismo opera via "quatro baratos" (four
cheaps): trabalho barato (escravidão, precarização), energia barata (fósseis),
alimento barato (monoculturas), matéria-prima barata (extrativismo). Quando esses
"baratos" se esgotam (trabalhadores resistem, fósseis acabam, solos degradam),
capitalismo entra em crise estrutural. Digitalização é
tentativa de criar novo "barato": informação barata (dados extraídos
gratuitamente). Mas também tem custo material (mineração, energia). Contradição se
aprofunda.
👤
Kohei Saito — Ecosocialismo de Decrescimento
Kohei
Saito (1987-), filósofo japonês, professor na Universidade de Tóquio, autor
de Capital in the Anthropocene (2020) e Marx in the Anthropocene
(2023). Saito escavou cadernos inéditos de Marx (MEGA²) e descobriu que Marx, nos últimos
anos de vida, desenvolveu uma ecologia revolucionária: crítica ao
"metabolismo rupturado" entre humanos e natureza sob capitalismo. Saito propõe
"ecosocialismo de decrescimento" (degrowth communism): não há
"crescimento verde" possível. Capitalismo exige acumulação infinita. Única saída:
decrescer — reduzir produção/consumo no Norte Global, redistribuir
riqueza para o Sul, priorizar necessidades básicas sobre lucros. No digital:
decrescimento digital — fechar data centers inúteis, banir publicidade
online (responsável por enorme parte do tráfego), priorizar comunicação essencial sobre
entretenimento infinito. Saito influencia movimentos jovens no Japão (onde livro vendeu
500.000 cópias).
📉 6. Decrescimento Digital: Menos é Mais
Decrescimento digital questiona a ideologia do crescimento infinito aplicada à
esfera digital:
- Premissa: Capitalismo digital exige crescimento exponencial
de dados, usuários, tráfego. Mas isso é insustentável (ecologicamente,
socialmente, psicologicamente).
- Exemplos de crescimento tóxico:
- Streaming infinito: Netflix, YouTube, TikTok incentivam consumo
24/7. Autoplay, algoritmos viciantes, conteúdo infinito. Resultado: exaustão,
ansiedade, consumo energético massivo.
- Redes sociais: Corrida por "engajamento" (likes, shares, views).
Métricas de vaidade que não correspondem a bem-estar. Usuários se tornam produtos.
- IoT (Internet das Coisas): Geladeiras "inteligentes", escovas de
dente conectadas, tudo com sensores. Necessidade real? Não. Gera mais e-lixo, mais
vigilância, mais vulnerabilidade a hacks.
- IA generativa: ChatGPT, DALL-E, Midjourney geram conteúdo infinito.
Custo energético absurdo. Para quê? Entretenimento, tarefas que humanos faziam bem.
- Alternativas decrescentistas:
- Low-tech: Priorizar tecnologias simples, duráveis, reparáveis. Exemplo:
Low-tech Magazine (site holandês rodando em servidor solar, offline
quando nublado).
- Offline-first: Apps que funcionam sem internet. Reduzem dependência
de data centers, aumentam resiliência.
- Slow web: Movimento por internet mais lenta, mas intencional.
Menos rolagem infinita, mais leitura profunda.
- Digital detox: Pausas regulares de tecnologia. Não individual
("você é fraco"), mas coletivo e político ("sistema é
viciante").
- Right to disconnect: Leis que garantem direito de trabalhadores
desconectarem fora do horário. França (2017), Espanha (2021), Bélgica (2022) têm
versões. Brasil: em debate.
🇧🇷 7. Amazônia Digital: Mineração, Nuvem e Colonialismo Verde
Brasil está no centro de contradições ecológicas do capitalismo digital:
- Mineração na Amazônia: Nióbio (usado em capacitores, celulares) é extraído
de Araxá (MG) e Amazônia. Brasil controla 98% das reservas mundiais. Lítio
(baterias) está em projeto de mineração no Vale do Jequitinhonha (MG). Risco:
destruição de florestas, contaminação de rios, expulsão de indígenas.
- Data centers no Brasil: Google, AWS, Microsoft abrem data centers no Brasil
(São Paulo, principalmente). Promessa: soberania de dados. Realidade: consumo
energético massivo (Brasil tem matriz relativamente limpa, mas data centers puxam
hidrelétricas, que destroem ecossistemas).
- "Colonialismo verde": Norte Global exige que Brasil preserve Amazônia
(correto), mas não oferece compensação justa. Quer continuar consumindo smartphones,
streaming, mas empurrar custo ecológico para o Sul. Hipocrisia.
- Resistência indígena: Povos como Munduruku (PA), Yanomami (RR/AM) resistem a
mineração ilegal (garimpos de ouro, que usam mercúrio, contaminam rios). Tecnologia usada
contra eles: garimpeiros usam drones para mapear território, satélites para evitar
fiscalização. Mas indígenas também usam tecnologia: drones para documentar destruição, apps
de denúncia, redes sociais para mobilização global.
🌱 Green New Deal Digital: Reformista ou
Revolucionário?
Green New Deal Digital (proposto
por think tanks progressistas: New Economics Foundation, Roosevelt Institute) promete:
empregos verdes, data centers solares, eletrônicos duráveis, justiça climática.
Pontos positivos:
- Reconhece necessidade de intervenção estatal massiva.
- Prioriza transição justa (trabalhadores de indústrias fósseis não devem
ser abandonados).
- Incorpora justiça racial (comunidades negras, indígenas,
latinas são mais afetadas por poluição).
Limites:
- Ainda assume que crescimento é possível ("crescimento verde"). Mas
crescimento capitalista é incompatível com limites planetários.
- Não questiona propriedade privada dos meios de produção. Big Tech
mantém controle, apenas "verde-lava" (greenwashing) suas operações.
- Ignora imperialismo: extração de minerais continuará no Sul Global,
apenas com "certificações verdes" que não mudam exploração.
Veredicto ecossocialista: Green New Deal é insuficiente, mas
pode ser trampolim. Usá-lo para construir consciência, organizar
trabalhadores, acumular forças. Mas meta final deve ser ecosocialismo pleno:
propriedade coletiva, planejamento democrático, decrescimento no Norte, reparações ao Sul.
A materialidade da nuvem é brutal. Os data centers que alimentam a internet são
gigantescos complexos industriais que consomem quantidades astronômicas de energia (muitas vezes
de fontes fósseis) e água (para resfriamento). Os cabos submarinos que conectam
os continentes exigem uma infraestrutura industrial pesada. A obsolescência
programada de nossos smartphones, laptops e outros gadgets gera montanhas de
lixo eletrônico tóxico, que são frequentemente exportadas ilegalmente para os
países do Sul Global, envenenando o solo, a água e os corpos das pessoas que vivem nessas
verdadeiras "zonas de sacrifício" digitais.
Além disso, a produção de nossos dispositivos depende da extração de minerais de
conflito, como o cobalto (para baterias) e o coltan (para capacitores). A mineração
desses materiais, concentrada em países como a República Democrática do Congo, está diretamente
ligada a guerras civis, trabalho escravo e infantil, e a uma exploração neocolonial que perpetua
a dependência e a violência. O mundo digital "limpo" e sem atritos do Norte Global só existe
porque ele externaliza sua sujeira e sua violência para a periferia do sistema-mundo.
Um ecossocialismo digital, portanto, argumenta que qualquer projeto de superação do capitalismo
precisa ser, ao mesmo tempo, um projeto ecológico. Isso implica em lutar por uma
soberania tecnológica: o direito das comunidades de decidir que tipo de
tecnologia querem, e de produzir tecnologias que sejam duráveis, reparáveis, modulares e
baseadas em software e hardware livres. Implica em desacelerar, em criticar a
ideologia do crescimento infinito e da inovação pela inovação. E implica, acima de tudo, em uma
justiça ambiental que reconheça e repare os custos ecológicos e humanos da era
digital, que recaem desproporcionalmente sobre as populações já oprimidas do Sul Global.
12.4 Criptomoedas e Blockchain: Entre Utopia Libertária e Distopia Especulativa
₿ A Promessa Não Cumprida da Descentralização
Nenhuma tecnologia recente foi tão envolta em
promessas utópicas quanto blockchain e criptomoedas. A narrativa oficial:
"Liberte-se dos bancos! Descentralize o poder! Democracia algorítmica! Dinheiro sem
Estado!" Mas a realidade, mais de 15 anos após o Bitcoin, é brutalmente diferente:
concentração de riqueza obscena, consumo energético catastrófico, facilitação de
crimes, especulação desenfreada, e reprodução das mesmas hierarquias que prometia
destruir. Esta seção desmonta o mito cripto, peça por peça.
💰 1. A Utopia Libertária: O Que Prometeram
O Manifesto Cripto (implícito no whitepaper do Bitcoin, 2008, Satoshi Nakamoto)
prometia:
- Descentralização: Eliminar intermediários (bancos, governos), poder
distribuído igualmente entre participantes.
- Privacidade: Transações anônimas, fora do alcance de vigilância estatal e
corporativa.
- Democracia: Código é lei. Governança transparente via algoritmos, não
políticos corruptos.
- Inclusão financeira: "Banking the unbanked" — dar acesso ao sistema
financeiro para bilhões de excluídos.
- Resistência à censura: Ninguém pode congelar suas contas, confiscar seus
fundos, bloquear transações.
👤
David Golumbia — A Política de Bitcoin
David
Golumbia (1963-), professor de inglês e mídia digital na Virginia
Commonwealth University, autor de The Politics of Bitcoin: Software as
Right-Wing Extremism (2016). Golumbia demonstra que o Bitcoin não é
"politicamente neutro" — ele emerge diretamente de ideologias
libertárias de extrema-direita: desconfiança patológica do governo,
adoração do livre mercado, culto ao individualismo, teoria conspiratória sobre
bancos centrais. O whitepaper do Bitcoin é publicado em lista de discussão
cypherpunk, comunidade que mistura criptografia com anarco-capitalismo. A
promessa de "liberdade" cripto é, na verdade, liberdade de regulação
trabalhista, ambiental, tributária — o sonho molhado do capital sem
amarras. Blockchain não desafia o capitalismo; é seu estágio mais
puro.
⚠️ 2. A Distopia Real: O Que Aconteceu
A realidade de 2025 (17 anos após Bitcoin) contradiz cada promessa:
🏦 Centralização Extrema
- Mineração concentrada: 65% da mineração de Bitcoin está em
4 pools (AntPool, Foundry, F2Pool, ViaBTC). Longe de "distribuída", é mais
centralizada que bancos tradicionais.
- Riqueza obscena: Top 1% de carteiras Bitcoin detêm 27% de todo
BTC. Desigualdade Gini do Bitcoin = 0.88 (pior que Brasil, 0.53). "Democracia"?
- Exchanges centralizadas: Coinbase, Binance, Kraken controlam 90% do volume.
São bancos com outro nome. FTX (2022) desabou, perdeu $8bi de clientes. Onde está a
"resistência à fraude"?
- Poder de voto: Governança de blockchains (DAOs, Decentralized Autonomous
Organizations) segue regra "1 token = 1 voto". Resultado: plutocracia
algorítmica. Quem tem mais dinheiro controla o protocolo.
🔍 Privacidade É Mito
- Blockchain é público: Todas as transações são permanentemente visíveis.
Empresas (Chainalysis, Elliptic) rastreiam identidades. Menos privado que
bancos.
- KYC obrigatório: Exchanges exigem Know Your Customer (passaporte,
biometria). Governos forçam compliance. "Anonimato" só funciona para criminosos
sofisticados.
- Vigilância aumentada: Governos adoram blockchain — é livro-razão público
permanente de todas as transações. Sonho de estado policial.
⚡ Consumo Energético Catastrófico
- Bitcoin: Consome 150 TWh/ano (mais que Argentina, Holanda,
Emirados Árabes). Emite 65 megatoneladas CO₂/ano (mais que Grécia).
- Ethereum (pré-Merge): Consumia 112 TWh/ano. Pós-Merge (2022, switch para
Proof-of-Stake): redução de 99,95%. Prova que Proof-of-Work é desperdício
deliberado.
- Por quê? Proof-of-Work (minerar = resolver puzzles matemáticos inúteis) é
competição de desperdício. Quanto mais energia você queima, mais você
ganha. É anti-ecológico por design.
- Comparação: Visa processa 65.000 transações/segundo, consome 0,002 TWh/ano.
Bitcoin: 7 transações/segundo, ~120-150 TWh/ano (estimativas 2023-2024 variam 120-200 TWh
dependendo da metodologia). Milhões de vezes menos
eficiente.
💸 Especulação, Não Uso Real
- Ninguém usa para pagamentos: Apenas 1,5% de transações
Bitcoin são para comprar bens/serviços. 98,5% é especulação (trading,
HODLing).
- Volatilidade absurda: Bitcoin oscila 20-30% em semanas. Impossível como
"moeda" (moedas precisam estabilidade). Funciona como cassino.
- Bolha especulativa: Pico de $69k (nov 2021) → $16k (nov 2022) → $40k
(2024).
Quem ganha? Early adopters e whales. Quem perde? Pequenos investidores (retail).
- Greater fool theory: Você só lucra se achar um "otário maior" para comprar
mais caro. É esquema Ponzi descentralizado.
🚨 Facilitação de Crimes
- Ransomware: 100% dos pagamentos são em cripto. Hospitais hackeados, dados
sequestrados, mortes causadas. Blockchain viabiliza.
- Lavagem de dinheiro: Cartéis, tráfico humano, terrorismo usam cripto.
Estimativa: $14 bilhões lavados/ano via cripto.
- Mercados negros: Silk Road (drogas), AlphaBay (armas), CSAM (material de
abuso infantil). Blockchain é infraestrutura.
- "Not a bug, it's a feature": Resistência à censura = impossível bloquear
criminosos. Custo moral da "liberdade".
⚠️ Evgeny Morozov: "Solucionismo" Cripto
Evgeny Morozov, crítico de
tecnologia bielorrusso-americano, cunhou o termo "solucionismo": a
ideologia de que todo problema social/político pode ser resolvido com tecnologia, ignorando
causas estruturais. Cripto é solucionismo puro: "Corrupção governamental? Blockchain!
Desigualdade? DeFi! Censura? NFTs!" Mas esses "problemas" têm raízes em
capitalismo, colonialismo, patriarcado — código não resolve isso.
Blockchain despolitiza questões que exigem luta política. É falsa
solução técnica para problemas que exigem revolução social.
🏴 3. Criptofascismo: A Extrema-Direita Ama Blockchain
Por que supremacistas brancos, fascistas, conspiracionistas adoram cripto?
- Financiamento deplatformizado: Grupos de ódio (Proud Boys, neonazistas)
foram banidos de PayPal, GoFundMe. Cripto permite financiamento
incensurável.
- Jan 6 (Capitólio EUA): Insurrecionistas receberam $500k em Bitcoin de
apoiadores franceses. Rastreado, mas não impedido.
- Alt-right abraça cripto: Andrew Anglin (Daily Stormer), Richard Spencer,
Alex Jones — todos promovem Bitcoin. Não é coincidência.
- Ideologia compartilhada: Libertarianismo (anti-Estado), darwinismo social
("vencedores merecem riqueza"), teoria conspiratória (bancos judeus controlam tudo).
Cripto é veículo ideológico.
💡 4. DeFi e NFTs: Mais do Mesmo
DeFi (Decentralized Finance): "Bancos sem bancos!" Na prática:
- Empréstimos: Requerem colateral 150-200%. Se você tem $20k para dar como
colateral, não precisa de empréstimo. Exclui pobres.
- Hacks massivos: $3,8 bilhões roubados de protocolos DeFi (2021-2023).
"Código
é lei" = bugs são roubo legal.
- Stablecoins: Tether (USDT) alega lastro em dólares, mas nunca foi auditado
completamente. Suspeita de fraude massiva.
NFTs (Non-Fungible Tokens): "Propriedade digital! Empoderar artistas!" Na
prática:
- Bolha especulativa: Bored Apes vendidos por $3 milhões (2021) → $50k
(2023).
Colapso total.
- Roubo de arte: Artistas têm trabalhos tokenizados sem consentimento. NFT
não
dá copyright, apenas "link na blockchain".
- Lavagem de dinheiro: Comprar próprio NFT por $1 milhão para inflar preço,
depois vender. Esquema pump-and-dump.
- Ambientalmente destrutivo: Mintar NFT = emitir 200kg CO₂ (voo
Londres-Roma).
🏛️ 5. DAOs e Web3: Pseudodemocracia Algorítmica
DAOs (Decentralized Autonomous Organizations): "Organizações sem chefes,
governadas por código!" Promessa: democracia direta via blockchain. Realidade:
- Plutocracia codificada: DAOs operam por regra "1 token = 1
voto". Quem tem mais dinheiro, tem mais poder. Não é democracia, é
ação acionária digitalizada. Cooperativas usam "1 pessoa = 1
voto" — essa é a diferença.
- Caso: The DAO (2016): Primeiro DAO grande (arrecadou $150 milhões). Hacker
explorou bug no código, roubou $60 milhões. Comunidade Ethereum decidiu "desfazer" roubo via
hard fork (bifurcação da blockchain). Mas isso contradiz "código é lei
imutável"! Ou código é lei, ou comunidade decide — não pode ser ambos. Hipocrisia
revelada.
- ConstitutionDAO (2021): DAO arrecadou $47 milhões para comprar cópia original
da Constituição dos EUA em leilão. Perdeu leilão para bilionário. Não devolveu dinheiro
imediatamente (ficou preso em taxas de gás Ethereum). Fracasso cômico.
- Governança inativa: Maioria dos DAOs tem participação
baixíssima em votações (5-10% dos tokens votam). Whales (baleias, grandes
detentores) decidem sozinhos. Democracia de fachada.
Web3: "Internet descentralizada, propriedade dos usuários!" Promessa: quebrar
monopólios de Big Tech (Google, Facebook, Amazon). Realidade:
- Venture capital domina: Web3 é financiada por VCs (Andreessen Horowitz,
Sequoia). Mesmos capitalistas que construíram Web2. Objetivo: novo ciclo de
acumulação, não democratização.
- Infraestrutura centralizada: Projetos Web3 rodam em... AWS (Amazon) e Google
Cloud! Ironia suprema: "descentralização" depende de Big Tech.
- User experience horrível: Carteiras cripto, gas fees, slippage, seed phrases
de 12 palavras. Barreira de entrada absurda. Apenas tech-savvy conseguem usar. Exclui
massas.
- Scams epidêmicos: Rug pulls (desenvolvedores abandonam projeto, levam
dinheiro), pump-and-dumps, phishing, hacks. 90% dos projetos Web3 são golpes
(estimativa conservadora).
👤
Molly White — Crítica Implacável da Web3
Molly
White é engenheira de software, pesquisadora, criadora do site Web3
Is Going Just Great (2021-presente). O site documenta, diariamente,
fraudes, colapsos, hacks no ecossistema cripto/Web3. Exemplos: FTX
($8bi perdidos), Celsius (congelou saques, faliu), Axie Infinity ($625mi roubados),
Terra/Luna (colapso de $40bi em 48h). White também escreveu "Blockchain: A
Technological Solution in Search of a Problem" — artigo demolindo cada
"use case" proposto para blockchain (todos têm soluções melhores, mais baratas, sem
blockchain). White argumenta: Web3 não é tecnologia nova, é
ideologia velha (libertarianismo, anarco-capitalismo) com nova roupagem.
Objetivo real: evasão fiscal, lavagem de dinheiro, especulação
desenfreada. Não é acidente que cripto atraiu golpistas, lavadores, fascistas
— foi projetado para isso.
💸 6. Colapsos Épicos: FTX, Terra/Luna, e o Castelo de Cartas
🏦 FTX: Fraude de $8 Bilhões
FTX (exchange de cripto fundada em 2019 por Sam Bankman-Fried,
"SBF") era a 2ª maior exchange do mundo (2022). Avaliada em $32 bilhões. SBF era
celebridade: aparecia em capas de revistas, doava milhões para políticos, promovia "altruísmo
eficaz".
- Novembro 2022: Investigação revela que FTX usou $10 bilhões de
fundos de clientes para cobrir perdas da Alameda Research (hedge fund de SBF).
Fraude massiva.
- Colapso: Corrida bancária (bank run). Clientes tentam sacar. FTX congela
saques. 8 dias depois: falência. $8 bilhões desaparecem.
- SBF preso: Extraditado das Bahamas, julgado em NY. Condenado a 25
anos de prisão (março 2024) por fraude, lavagem de dinheiro, conspiração.
- Ironia: SBF promovia cripto como "mais seguro que bancos tradicionais".
Resultado: maior fraude financeira desde Madoff.
🌙 Terra/Luna: Colapso de $40 Bilhões em 48 Horas
Terra (blockchain) e UST (stablecoin "algorítmica") foram
criadas por Do Kwon (sul-coreano). Promessa: stablecoin sem lastro em dólares,
apenas em algoritmo + token irmão LUNA.
- Mecânica: UST deveria valer $1. Se caísse para $0,98, algoritmo
queimava UST e criava LUNA (reduz oferta UST, aumenta
preço). Se subisse para $1,02, fazia o contrário. "Genial" na teoria.
- Maio 2022: UST perde paridade ($1 → $0,90). Pânico. Todos vendem. Algoritmo
entra em espiral da morte (death spiral): quanto mais queima UST
para criar LUNA, mais LUNA é criada, mais LUNA perde valor, mais gente vende, ciclo se
aprofunda.
- Resultado: UST colapsa para $0,01. LUNA colapsa de $80 para $0,0001.
$40 bilhões evaporam em 48 horas. Suicídios reportados entre investidores.
- Do Kwon: Fugiu para Sérvia, depois Montenegro. Preso em março 2023 com
passaporte falso. Enfrenta extradição para EUA/Coreia do Sul.
- Lição: Stablecoins "algorítmicas" são Ponzi schemes
matemáticos. Funcionam apenas enquanto há demanda crescente. Inevitavelmente
colapsam.
🇸🇻 El Salvador: Experimento Bitcoin Falido
Setembro 2021: El Salvador (presidente Nayib Bukele) se torna primeiro país a
adotar Bitcoin como moeda legal.
- Promessa: Inclusão financeira (70% dos salvadorenhos não têm conta bancária),
remessas baratas (20% do PIB vem de remessas de imigrantes nos EUA).
- Realidade:
- Adoção baixíssima: Apenas 1,3% dos salvadorenhos usam
Bitcoin para transações (2023). Maioria baixou app Chivo (obrigatório) apenas para
pegar bônus de $30 do governo, depois converteu para dólares.
- Perdas massivas: Governo comprou Bitcoin a preços altos ($40k-60k).
Preço caiu. Perda de centenas de milhões de dólares de fundos
públicos.
- Infraestrutura ridícula: Governo instalou caixas eletrônicos
Bitcoin (ATMs) em todo país. Maioria quebrou, foi vandalizada, ou ninguém
usa.
- Autoritarismo: Bukele usa Bitcoin para lavar imagem
internacional enquanto internamente desmonta democracia (demite juízes da
Suprema Corte, prende opositores, declara "estado de exceção" permanente).
- FMI condena: Fundo Monetário Internacional pede que El Salvador
abandone Bitcoin como moeda legal. País precisa de empréstimo do FMI,
mas FMI condiciona a abandonar experimento cripto.
- Veredicto: Experimento Bitcoin em El Salvador é desastre
humanitário disfarçado de "inovação". Beneficia apenas especuladores, prejudica
população pobre.
👤
Yanis Varoufakis — Technofeudalism
Yanis
Varoufakis, economista grego, ex-ministro de finanças, argumenta em
Technofeudalism (2023) que capitalismo já foi superado — não por socialismo,
mas por tecno-feudalismo. Plataformas (Amazon, Google, Facebook) não
são capitalistas competindo em mercados; são feudos digitais que
extraem renda de vassalos (usuários, vendedores, criadores). Cripto aprofunda
isso: DAOs são feudos governados por "token lords", DeFi cria hierarquias
rentistas (staking = nobreza, usuários = servos), NFTs são títulos de nobreza
digital. Blockchain não desafia feudalismo digital — o
institucionaliza em código.
✊ 7. Alternativas Reais: O Que Precisamos Em Vez de Cripto
Se cripto falhou, o que fazer?
- Moedas digitais de bancos centrais (CBDCs): Podem ser programáveis
(pagamento
condicionado a fins sociais), democráticas (governadas por eleitos, não plutocracias), e
eficientes (sem desperdício de energia). Mas: risco de vigilância total.
Precisam de governança democrática forte.
- Moedas comunitárias: Monedas locales (Palmas no Brasil, Brixton Pound em
Londres), não-especulativas, circulam localmente, fortalecem economia
solidária.
- Sistemas de crédito mútuo: LETS (Local Exchange Trading Systems), Sardex na
Sardenha — crédito peer-to-peer sem juros, baseado em confiança comunitária.
- Cooperativas de crédito digitais: Bancos cooperativos com apps modernos.
Exemplo: Banco Palmas (Brasil), JAK Members Bank (Suécia).
- Abolir dívida: Rolling Jubilee (EUA) compra dívida médica por centavos,
perdoa. Problema não é "tecnologia de pagamento", é dívida como relação de
poder.
⚖️ Veredicto: Blockchain É Ideologia, Não Solução
Blockchain não é "ferramenta neutra". É
tecnologia carregada de ideologia libertária: desconfia de coletividade,
fetichiza individualismo, adora mercados, despreza regulação. Suas "soluções" para problemas
reais (desigualdade, exclusão financeira, corrupção) são falsas —
reproduzem
as mesmas hierarquias, mas codificadas e imutáveis.
Lição: Problemas políticos exigem
soluções políticas. Não há tech fix para capitalismo, patriarcado, colonialismo.
Precisamos de organização coletiva, luta de classes, transformação
estrutural
— não código "trustless".
Cripto prometeu descentralizar poder. Entregou feudalismo algorítmico.
Prometeu liberdade. Entregou especulação e crime. Prometeu democracia.
Entregou plutocracia. É hora de abandonar essa fantasia e construir
alternativas reais.
Conclusão: Rumo a uma Crítica Interseccional
Ciberfeminismo, Afrofuturismo, Neurodiversidade, Ecossocialismo Digital e a crítica do
Criptocapitalismo não são meros "complementos" à crítica do capitalismo. Eles a transformam em
um
nível fundamental. Eles nos mostram que a dominação do Valor não pode ser separada da
dissociação
patriarcal, da exclusão racial, do capacitismo, da destruição ecológica e das falsas promessas
tecnológicas libertárias. As diferentes formas de dominação se entrelaçam e se reforçam
mutuamente. Uma crítica que foca apenas na classe, ignorando as outras dimensões, será sempre
parcial e insuficiente. A síntese final para a qual este livro aponta, portanto, não pode ser
apenas uma síntese entre marxismo e cibernética. Ela precisa ser uma síntese
interseccional, uma que entenda que a luta contra o capitalismo digital é,
inseparavelmente, uma luta feminista, antirracista, anticapacitista, ecológica e contra o
solucionismo tecnológico.
---
🔑 Mini-Glossário do Capítulo
- Afrofuturismo: Um movimento estético e político que explora a intersecção da
diáspora africana com a tecnologia e a ficção científica.
- Ciberfeminismo: Uma corrente do feminismo que analisa a relação entre gênero,
tecnologia e poder, e que utiliza a internet e a cultura digital como espaços de teoria e
ativismo.
- Ciborgue: Figura proposta por Donna Haraway, um híbrido de organismo e
máquina, que serve como um mito político para uma política feminista baseada na afinidade em vez
da identidade.
- Ecossocialismo Digital: Uma corrente de pensamento que faz a crítica ecológica
do capitalismo digital, focando em sua materialidade (consumo de energia, lixo eletrônico,
mineração de conflito) e propondo uma transição para uma tecnologia sustentável e justa.
- Interseccionalidade: Um conceito que descreve como diferentes eixos de
opressão (como raça, gênero, classe, etc.) se cruzam e interagem, criando experiências únicas de
dominação e discriminação.
- Lixo Eletrônico (E-waste): Resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos
que são descartados, muitas vezes contendo materiais tóxicos.
- Obsolescência Programada: A prática de projetar produtos com uma vida útil
artificialmente limitada para forçar os consumidores a comprar novos.
💭 Exercícios de Análise
1. Ciborgues entre Nós: Pense em todas as formas como seu corpo e sua vida
diária já são híbridos de organismo e máquina (óculos, celular, medicamentos, redes sociais,
etc.). Como a figura do ciborgue de Haraway ajuda a pensar sobre essa realidade de uma forma
política?
2. Afrofuturismo na Cultura Pop: Assista ao clipe da música "Dirty Computer" de
Janelle Monáe ou ao filme "Pantera Negra". Identifique os elementos estéticos e temáticos do
Afrofuturismo. Como eles usam a ficção científica para falar sobre a experiência negra?
3. O Custo do seu Celular: Pesquise sobre a extração de cobalto na República
Democrática do Congo. Como a produção do seu smartphone está conectada com a realidade social e
política daquele país? Como a crítica ecossocialista nos ajuda a entender essa conexão?
🔗 Conexões com Outros Capítulos
Este capítulo apresenta as críticas
interseccionais — mostrando que dominação capitalista, patriarcal, racial e
ecológica são inseparáveis. Não dá para lutar contra capitalismo digital sem
feminismo, antirracismo e ecologia:
🔗
Como se conecta com fundamentos teóricos
- Cap 10: Wertkritik — Teoria da Dissociação
(Roswitha Scholz): patriarcado é estrutural ao Valor, não residual
- Cap 9: Pós-Operaísmo — "O Comum" precisa
incluir reprodução social (trabalho feminino invisibilizado)
- Cap 8: Trabalho Imaterial — Trabalho afetivo
(cuidado, atenção) é majoritariamente feminino e racializado
- Cap 5: General Intellect — Conhecimento
coletivo inclui saberes indígenas, afrodiaspóricos, femininos (não só ciência
europeia)
💻
Manifestações digitais concretas
- Cap 13: Plataformas — Trabalho sexual digital
(OnlyFans), moderação de conteúdo (mulheres do Sul Global), microtrabalho
(racializado)
- Cap 14: Vigilância — Violência digital de
gênero (revenge porn, stalkerware), vigilância desproporcional de corpos negros
- Cap 15: Algoritmos e IA — Viés algorítmico
racista/sexista (reconhecimento facial falha em negros, IA recruta homens brancos)
- Cap 22: Necropolítica — Algoritmos decidem
quem morre: corpos negros, periféricos, femininos são "descartáveis"
🌍
Materialidade ecológica do digital
- Mineração de conflito: Cobalto (Congo), lítio (Bolívia), terras
raras (China) → extração violenta, neocolonial
- E-lixo: 50 milhões ton/ano, 80% vai para África/Ásia (Gana vira
depósito tóxico do Norte)
- Consumo energético: Data centers = 1-2% eletricidade global,
mineração de Bitcoin = pegada de um país
- Cap 24: Políticas — Propostas
ecossocialistas: obsolescência proibida, data centers solares, direito ao reparo
✊
Resistências e alternativas
- Ciberfeminismo: Haraway (Manifesto Ciborgue), Laboria Cuboniks
(Xenofeminismo), hackfeministas
- Afrofuturismo: Sun Ra, Octavia Butler, Janelle Monáe → tecnologia
como libertação negra, não dominação branca
- Cap 19: Cooperativas — Cooperativas lideradas
por mulheres, negros, indígenas (Cataki Brasil)
- Cap 26: Nhandereko Guarani — Cosmotécnica
indígena: outra relação com tecnologia, não-extrativista
🌐
Perspectiva periférica/Sul Global
A "dissociação" é geopolítica: Norte
produz "valor" (tecnologia, finanças, propriedade intelectual), Sul é "dissociado"
(extração, trabalho barato, e-lixo, necropolítica).
Brasil: necessário (lítio, nióbio) mas
desprezado (sem direitos, sem voz). Somos a "mulher" do capitalismo global —
invisíveis mas essenciais.
🎯 Tese central do
capítulo:
Não existe crítica completa do capitalismo
digital sem interseccionalidade. Dominação pelo Valor + dissociação
patriarcal + exclusão racial + destruição ecológica = um sistema único. Lutar só contra
"classe" e ignorar gênero/raça/ecologia é falhar. A síntese final precisa ser
interseccional.
💡 Por que este capítulo é essencial: Transforma marxismo + cibernética
(Caps 1-11) em marxismo + cibernética + feminismo + antirracismo + ecologia. Sem essa
ampliação, qualquer alternativa ao capitalismo digital reproduzirá opressões.
📚 Leituras Complementares
- Nível Intermediário:
- Haraway, D. (1991). "A Cyborg Manifesto" em Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention
of Nature. (O texto fundador do ciberfeminismo).
- Dery, M. (Ed.). (1994). Flame Wars: The Discourse of Cyberculture. (A coletânea que
inclui o ensaio "Black to the Future", que cunhou o termo Afrofuturismo).
- Cubitt, S. (2014). The Ecologies of the Moving Image: Cinema, Affect, Nature. (Um
exemplo de crítica ecológica da mídia digital).
- Nível Avançado:
- Wajcman, J. (2004). TechnoFeminism. (Uma atualização e, por vezes, uma crítica às
primeiras vertentes do ciberfeminismo).
- Eshun, K. (1998). More Brilliant Than the Sun: Adventures in Sonic Fiction. (Uma
exploração densa e poética da música afrofuturista).
- Parikka, J. (2015). A Geology of Media. (Uma análise profunda da materialidade
geológica da tecnologia digital).
🔬 A Captura Total: Como as Plataformas Colonizam Cada Dimensão da Vida
Até aqui, desenvolvemos um
arcabouço teórico robusto e interseccional — das bases marxistas (Caps 5-8) às correntes
contemporâneas (Caps 9-11), passando pelas críticas de gênero, raça e ecologia (Cap 12). Agora,
faremos um movimento analítico diferente: examinaremos como a lógica do capitalismo de
plataforma não deixa nenhuma esfera da existência humana intocada.
Sexualidade, espiritualidade, jogo, atlétismo, até mesmo o nosso relacionamento com as drogas —
todas estas dimensões foram "plataformizadas", transformadas em campos de
extração de dados e valor. Os próximos quatro capítulos são estudos de caso desta
subsunção total da vida. Não são digressões ou curiosidades: são demonstrações
empíricas da tese central que vimos construindo. O capitalismo digital é um projeto de captura
de toda atividade humana, convertendo experiências íntimas em fluxos de dados
rentáveis.

Capítulo 13
Capítulo 13: Sexualidade e Religião na Era Digital: Corpos, Crenças e Comunidades em Rede
Introdução: Corpos, Crenças e Código
Nossa análise do capitalismo digital estaria incompleta se não mergulhássemos em duas das esferas
mais íntimas e constitutivas da experiência humana: a sexualidade e a religião. Longe de serem
domínios "naturais" ou "privados", imunes à lógica do capital, o desejo e a fé se tornaram, na
era digital, territórios de intensa exploração, modulação e conflito. As mesmas lógicas de
extração de dados, gerenciamento algorítmico e plataformização que vimos operar no trabalho e no
consumo agora se estendem às nossas camas e aos nossos altares.
Este capítulo explora como as plataformas digitais não apenas refletem, mas ativamente produzem
novas formas de subjetividade sexual e religiosa. Analisaremos como o desejo é transformado em
um mercado governado por algoritmos nos aplicativos de relacionamento, e como a fé é
reconfigurada pela lógica do engajamento e da viralização nas redes sociais. Veremos também como
esses espaços digitais são, ao mesmo tempo, locais de formação de comunidades de refúgio e
resistência, e arenas para a disseminação do fundamentalismo e a coordenação de pânicos morais.
Compreender como o código informático se entrelaça com os códigos do corpo e da crença é
fundamental para uma crítica completa do nosso tempo.
🔍
Por Que Sexualidade e Religião no Mesmo Capítulo?
À primeira vista, pode parecer estranho analisar juntas duas esferas aparentemente opostas: sexualidade (associada ao corpo, prazer, transgressão) e religião (associada ao espírito, disciplina, moralidade). Mas há três razões estruturais para essa convergência: (1) Ambas são tecnologias de produção de subjetividade — constituem quem somos em níveis profundos, pré-reflexivos. Sexualidade define identidade, desejo, pertencimento; religião define valores, sentido, comunidade. (2) Ambas são alvos históricos de controle biopolítico — Foucault mostrou como confessionário católico e discursos médicos sobre sexo operam como dispositivos de poder, obrigando sujeitos a "dizer a verdade" sobre si mesmos. Plataformas digitais são herdeiras diretas desses dispositivos: apps de relacionamento nos fazem confessar desejos (dados comportamentais), igrejas digitais coletam testemunhos (dados emocionais). (3) Ambas são fontes de "trabalho afetivo gratuito" — usuários de Tinder produzem valor ao interagir (engajamento = dados = lucro); fiéis em grupos de WhatsApp produzem comunidade (viralização = crescimento = doações). Capital não extrai apenas trabalho produtivo, mas desejo e fé.
13.1 A Plataformização da Sexualidade: O Desejo no Mercado Algorítmico
O capitalismo de plataforma interveio de forma decisiva na maneira como nos relacionamos,
desejamos e construímos nossas identidades sexuais. Essa intervenção se dá em múltiplas frentes,
desde a busca por parceiros até a produção de conteúdo erótico e a formação de comunidades.
13.1.1 O Mercado de Encontros: Tinder, Grindr e a Comodificação do Desejo
O fenômeno mais visível é o mercado algorítmico do encontro. Aplicativos como
Tinder, Grindr e Bumble transformaram a busca por parceiros em um jogo de "deslizar para a
direita ou para a esquerda". Essa interface aparentemente simples esconde algoritmos complexos
que classificam e hierarquizam os usuários com base em sua "desejabilidade" percebida, criando
um sistema de pontuação (como o antigo "Elo Score" do Tinder) que determina quem vê quem. O
resultado é a gamificação do flerte, onde a busca por conexão é substituída
pela busca por "matches", e o outro ser humano é reduzido a um perfil a ser rapidamente
consumido ou descartado. O algoritmo não é um intermediário neutro; ele ativamente molda o que e
quem se torna visível e desejável, muitas vezes reforçando padrões sociais de beleza, raça e
classe.
📊
O Elo Score do Tinder: Ranking de Desejabilidade
Entre 2016-2019, o Tinder usou um sistema chamado "Elo Score" (adaptado do ranking de jogadores de xadrez) para classificar a "desejabilidade" de cada usuário. Funcionamento: se você recebia muitos "likes" de pessoas com Elo alto, seu próprio score subia; se só pessoas com Elo baixo te curtiam, você descia. Isso criava uma hierarquia invisível — usuários de alto score só viam (e eram vistos por) outros de alto score. Resultado: concentração de matches no topo (pessoas brancas, classe média, padrões convencionais de beleza), invisibilização na base (pessoas racializadas, gordas, trans, periféricas). Após denúncias de discriminação, Tinder afirmou ter abandonado Elo em 2019, mas documentos internos vazados (2021) mostraram que continua usando métricas de "desejabilidade", apenas com outro nome. A lógica permanece: reduzir seres humanos a números, quantificar o desejo, criar mercados de carne digital. O próprio modelo de negócio depende disso — assinantes pagantes (Tinder Gold/Platinum) podem "furar a fila", aparecer pra usuários de score alto. Você não paga por matches, paga por ser visto como desejável.
Mas a questão vai além da gamificação. Apps de relacionamento operam como mercados bilaterais (conceito do Cap 3): conectam dois lados (homens/mulheres, tops/bottoms, etc.) e extraem valor como intermediários. Economistas chamam isso de "problema do mercado de casamento" — há desequilíbrios estruturais de oferta/demanda (ex: em apps hetero, muito mais homens que mulheres; em Grindr, assimetrias raciais brutais). Plataformas não resolvem esses desequilíbrios — lucram com eles. Homens frustrados com baixo número de matches pagam por "boosts" (R$ 15-30 por vez) para aparecer mais; mulheres sobrecarregadas com assédio pagam por filtros premium. A escassez de atenção/desejo é produzida algoritmicamente para criar demanda por produtos pagos.
Outro elemento crucial é a extração de dados íntimos. Quando você usa Tinder/Grindr, a plataforma não coleta apenas fotos/bio — coleta padrões de desejo: você prefere loiros ou morenos? Altos ou baixos? Quanto tempo olha cada foto? Em que horário busca sexo casual vs. relacionamento? Esses dados alimentam perfis psicométricos vendidos a anunciantes (Coca-Cola anuncia refrigerante "sexy" pra usuários ativos sexualmente) ou, pior, vazados em breaches (caso Ashley Madison 2015 — site de affair extraconjugal hackeado, 32 milhões de usuários expostos, suicídios relatados). Seu desejo vira mercadoria duas vezes: primeiro, você paga pra ser visto; depois, plataforma vende seus dados de desejo.
🏳️🌈
Grindr: Liberação e Vigilância Queer
Lançado em 2009, Grindr foi o primeiro app de relacionamento geolocalizado, revolucionando a forma como homens gays/bi se encontram. Antes: bares/saunas (caros, urbanos, risco de violência). Depois: milhões de perfis acessíveis via smartphone, conexão instantânea. Para comunidade LGBTQIA+, especialmente em contextos hostis (interior, países homofóbicos), Grindr foi tecnologia de libertação — sair do armário digitalmente, acessar informação, construir redes. Mas contradição imediata: Grindr vende localização exata de usuários. Investigação de 2018 (revista NGTV) mostrou que, em países que criminalizam homossexualidade (Egito, Rússia, Arábia Saudita), polícia/milícias usam Grindr pra caçar pessoas LGBTQIA+ — criam perfis falsos, triangulam localização, prendem/extorquem/matam. Grindr respondeu removendo recurso de distância precisa em "áreas de risco", mas continua lucrando com publicidade direcionada (anúncios de PrEP, sex toys, turismo gay). Outro problema: racismo estrutural. Perfis explicitamente racistas ("no blacks", "no asians", "no fems") eram comuns até 2020, quando plataforma proibiu — mas algoritmo continua reforçando preferências racializadas (quem você vê primeiro = quem você tende a curtir). Dilema central: mesma ferramenta que liberta pode vigiar, expor, matar. Não há solução técnica — é luta política por regulação, auditoria, alternativas públicas.
13.1.2 OnlyFans, Privacy e a Uberização do Trabalho Sexual
Paralelamente, a economia política da pornografia se tornou uma das indústrias
mais lucrativas e tecnologicamente inovadoras da internet. Plataformas como OnlyFans e
Privacy.com aplicam o modelo da "gig economy" ao trabalho sexual, prometendo autonomia,
empreendedorismo e controle para os criadores de conteúdo. No entanto, essa promessa
frequentemente mascara uma nova forma de precarização. Os trabalhadores sexuais se tornam
dependentes dos algoritmos da plataforma para visibilidade, sujeitos a mudanças arbitrárias nos
termos de serviço e a taxas que podem chegar a 20% ou mais. A suposta "libertação" do trabalho
sexual através da tecnologia se revela, muitas vezes, como uma nova forma de subordinação ao
controle algorítmico e à extração de valor pela plataforma.
💰
OnlyFans: Da "Democratização" à Extração Rentista
Fundado em 2016, OnlyFans explodiu durante pandemia COVID-19 (2020-21): desemprego em massa + isolamento = boom de criadores de conteúdo adulto. Narrativa oficial: plataforma "democratiza" trabalho sexual — qualquer pessoa pode monetizar seu corpo, sem depender de estúdios/agências/cafetões. Realidade material: (1) Taxa de 20% sobre todo ganho (creators recebem 80%, OnlyFans fica com 20% sem produzir nada — rentismo puro, como Uber/Airbnb). (2) Dependência algorítmica: visibilidade depende de algoritmo opaco — creators precisam produzir conteúdo diariamente, responder mensagens 24/7, competir com milhões. (3) Trabalho emocional invisibilizado: 60-70% do tempo é "relationship management" (responder DMs, criar intimidade parasocial, vender "namorada virtual"), não gravação. (4) Risco concentrado: doxxing (exposição de identidade real), stalking, revenge porn, criminalizaç ão (países onde sex work é ilegal). OnlyFans não oferece proteção legal — creators assumem 100% do risco. (5) Pirâmide de renda: Top 1% ganha 33% do dinheiro; 80% dos creators ganham menos que salário mínimo. Plataforma lucra com todos, mas sucesso é extremamente concentrado. (6) Censura arbitrária: Em 2021, OnlyFans tentou banir conteúdo sexualmente explícito (pressão de bancos/processadoras de pagamento Visa/Mastercard) — voltou atrás após revolta de creators, mas mostrou fragilidade: trabalhadoras sexuais construíram império em plataforma que pode expulsá-las a qualquer momento. Não há sindicalização, contratos coletivos, seguridade social. É uberização aplicada ao corpo — mesma precarização, mesma extração rentista.
A questão se aprofunda quando analisamos a geopolítica do trabalho sexual digital. Plataformas como OnlyFans/Privacy operam globalmente, mas proteção legal/social é intensamente desigual. Creators do Norte Global (EUA, Europa Ocidental) têm:
- Acesso bancário facilitado — contas não são bloqueadas facilmente por "atividade de alto risco"
- Contexto de descriminalização (parcial) — sex work não é crime em muitos países europeus
- Audiência pagante rica — assinantes dos EUA/Europa pagam US$ 10-50/mês, muito mais que Sul Global
- Língua inglesa — acesso ao mercado global, não apenas local
Creators do Sul Global (Brasil, América Latina, Sudeste Asiático, África) enfrentam:
- Exclusão bancária — muitos bancos brasileiros bloqueiam contas de sex workers; saques internacionais têm taxas de 5-10%
- Criminalização total — em países como Filipinas/Tailândia, sex work é crime; creators arriscam prisão
- Violência estrutural — doxxing leva a violência física/assassinatos em contextos de alta criminalidade (Brasil: 175 trans assassinadas/ano)
- Barreira linguística — conteúdo em português/espanhol atinge mercados menores, menos pagantes
- Racismo algorítmico — corpos não-brancos são fetichizados (exotização) ou invisibilizados (não aparecem em "trending"), nunca tratados como sujeitos
Resultado: OnlyFans reproduz divisão internacional do trabalho sexual. Creators brancos do Norte Global ganham milhares de dólares/mês; creators racializados do Sul Global disputam migalhas, assumem riscos gigantescos. Plataforma extrai 20% de todos, mas não redistribui, não protege, não regula. É colonialismo sexual digital — infraestrutura britânica (OnlyFans é UK-based), extração global, acumulação concentrada.
🇧🇷
Privacy.com e a Periferia Brasileira
No Brasil, plataforma dominante não é OnlyFans, mas Privacy.com (rebrand de "Fatal Model", fundada em 2016). Diferenças importantes: (1) Aceita Pix (pagamento instantâneo brasileiro), reduzindo barreira de entrada; (2) Taxa de 25% (5% maior que OnlyFans); (3) Foco em acompanhantes + conteúdo digital (híbrido físico/digital). Privacy tornou-se alternativa de sobrevivência para mulheres trans/travestis brasileiras — população com taxa de desemprego 70%+, expulsas de casa adolescentes, expectativa de vida 35 anos (média nacional: 76). Sem acesso a emprego formal, sex work é única renda possível; Privacy oferece plataforma sem exigir documentos, CNPJ, contrato. Mas contradição brutal: (1) Mesmo contexto de criminalização — Código Penal brasileiro não criminaliza sex work em si, mas criminaliza "favorecimento à prostituição" (Art. 228), deixando zona cinzenta que permite perseguição policial arbitrária; (2) Violência transfóbica — clientes contratam via Privacy, mas agridem/roubam/matam fisicamente; plataforma não assume responsabilidade; (3) Estigma digital — famílias descobrem, creators são expulsas, perdem guarda de filhos. Privacy lucra com precariedade estrutural da periferia brasileira — não cria condições para trabalho seguro, apenas monetiza o desespero.
13.1.3 Comunidades Dissidentes: Visibilidade, Censura e Shadowbanning
Finalmente, a internet tem sido um espaço ambíguo para comunidades e identidades
dissidentes. Para muitas pessoas LGBTQIA+, fóruns online, grupos em redes sociais e
plataformas como o Tumblr foram espaços vitais para encontrar informação, solidariedade e um
senso de comunidade, especialmente para aqueles em ambientes hostis. No entanto, essa
visibilidade vem com um custo. A moderação de conteúdo automatizada, guiada por algoritmos
treinados com vieses puritanos, frequentemente resulta em censura e
"shadowbanning" (redução drástica e não declarada do alcance) de conteúdo
queer, erótico ou educativo. Corpos e sexualidades que não se encaixam nas normas são
sistematicamente invisibilizados, enquanto as plataformas lucram com os dados dessas mesmas
comunidades. A luta pela visibilidade e pela liberdade de expressão no ambiente digital é,
portanto, uma frente central da política sexual contemporânea.
🌐
Tumblr e o "Porn Ban" de 2018: Genocídio Cultural Digital
Em dezembro de 2018, Tumblr — plataforma que por anos foi refúgio da cultura queer, fanfiction erótica, arte NSFW, educação sexual — anunciou banimento total de conteúdo adulto. Oficialmente: "remover pornografia infantil" (CSAM). Realidade: algoritmo de moderação automatizada baniu tudo — fotos de drag queens, ilustrações de corpos trans, posts educacionais sobre sexo seguro, até pinturas clássicas de nus artísticos. Enquanto isso, CSAM real continuou circulando (algoritmo não detectava). Consequências: (1) Êxodo massivo — usuários migraram para Twitter/Discord/Reddit; valor de mercado do Tumblr despencou (comprado por Yahoo em US$ 1,1 bilhão em 2013, vendido por US$ 3 milhões em 2019 — perda de 99,7%). (2) Perda de arquivo cultural — milhões de posts deletados permanentemente, décadas de arte/literatura queer desapareceram. Não houve backup, não houve aviso. (3) Efeito dominó — Facebook/Instagram/TikTok intensificaram censura de conteúdo LGBTQIA+ "preventivamente", alegando conformidade com legislação anti-CSAM. Mas o que realmente motivou o ban? Pressão de anunciantes e Apple — Tumblr foi removido da App Store (Apple) temporariamente por "não moderar adequadamente" conteúdo adulto. Sem acesso via iOS = perda de 40% da audiência = colapso de receita publicitária. Tumblr escolheu matar sua própria base de usuários para recuperar acesso à infraestrutura da Apple. Lição: visibilidade queer nas plataformas é tolerada apenas enquanto não ameaça lucros ou relações com Apple/Google. Não há direitos, apenas permissões revogáveis.
A moderação de conteúdo baseada em IA é o mecanismo central dessa censura algorítmica. Plataformas usam redes neurais treinadas em milhões de imagens para detectar "conteúdo adulto". Problemas estruturais:
- Viés puritano branco — algoritmos treinados por equipes majoritariamente brancas, californianas, com valores sexuais anglo-saxões. Resultado: corpos racializados (negros, latinos, árabes) são mais facilmente flagrados como "sexuais" mesmo em contextos não-eróticos. Mulheres negras de biquíni na praia são banidas; influencers brancas em lingerie não são.
- Hipervisibilidade de corpos trans — algoritmos detectam "incongruência" entre marcadores corporais (barba + seios, por exemplo) e classificam como "adult content". Corpos trans são sempre lidos como sexuais, nunca como neutros.
- Censura de educação sexual — posts sobre prevenção de HIV, anatomia, consentimento são deletados por conter palavras-chave ("pênis", "vagina", "sexo anal"). Enquanto isso, discursos de ódio homofóbicos/transfóbicos circulam livremente (não contêm "nudez").
- Duplo padrão para violência vs. sexo — vídeos extremamente violentos (tiroteios, torturas) são permitidos; imagem de mamilos femininos é banida. Lógica: violência é conteúdo "jornalístico"; sexo é "obsceno". Reflete valores culturais conservadores.
O conceito de shadowbanning (ban invisível) é particularmente insidioso. Diferente de censura explícita (conta suspensa, post removido), shadowban reduz alcance sem avisar. Criador de conteúdo LGBTQIA+ posta foto/vídeo, mas algoritmo decide que é "sensível" e não mostra no feed de seguidores, não aparece em pesquisas, não entra em "trending". Resultado: criador acha que conteúdo "não performou bem", quando na verdade foi suprimido algoritmicamente. Plataformas negam que shadowbanning exista, mas pesquisas independentes (AlgorithmWatch, Mozilla Foundation) confirmam: hashtags como #gay, #lesbian, #trans têm alcance 40-60% menor que hashtags heteronormativas equivalentes.
🏳️⚧️
Instagram e a Invisibilização Trans
Pesquisa de 2021 (GLAAD + Transgender Law Center) documentou discriminação sistemática contra criadores de conteúdo trans no Instagram. Metodologia: comparar contas trans vs. cis com seguidores/engagement similares, postando conteúdo idêntico. Resultados: (1) Posts de pessoas trans têm 37% menos alcance, mesmo com mesmas hashtags/horários. (2) Fotos pós-cirurgia (top surgery, por exemplo) são removidas como "nudez", enquanto fotos de homens cis sem camisa não são — algoritmo classifica tórax masculinizado de pessoa transmasculina como "peito feminino". (3) Hashtags trans (#transisbeautiful, #transrightsarehumanrights) são marcadas como "sensíveis" por padrão, exigindo que usuários desabilitem filtro manualmente para ver. (4) Denúncias de discurso de ódio transfóbico não são atendidas — 68% dos casos reportados retornam com "não viola políticas da comunidade", mesmo contendo ameaças diretas. Argumento de Instagram: algoritmo não discrimina, apenas "protege menores de conteúdo adulto". Mas se fosse verdade, homens cis sem camisa também seriam censurados. Na prática, algoritmo reforça binarismo de gênero — qualquer corpo que "confunda" categorias é punido. Isso não é bug, é transfobia estrutural codificada.
Por que plataformas fazem isso? Três razões econômicas:
- Apaziguar anunciantes — Coca-Cola/Nike não querem anúncios ao lado de "conteúdo controverso"; censurar conteúdo queer é mais barato que educar anunciantes
- Evitar regulação — governos conservadores (EUA sob Trump, Brasil sob Bolsonaro, Índia sob Modi) ameaçam regular plataformas se não "removerem pornografia"; censurar preventivamente é estratégia de apaziguamento
- Reduzir custos de moderação — mais fácil/barato banir tudo que "pareça sexual" via IA do que contratar moderadores humanos para fazer distinções contextuais (educação vs. pornografia, arte vs. exploração)
O resultado é necropolítica algorítmica (conceito do Cap 22): censura digital não "mata" literalmente, mas produz morte social — invisibilização, isolamento, impossibilidade de construir comunidade. Para jovem LGBTQIA+ em cidade pequena/interior, acesso à comunidade online pode ser diferença entre vida e suicídio. Quando algoritmo censura conteúdo educacional sobre identidade de gênero/orientação sexual, ele está deixando morrer adolescentes que não encontram informação vital. Isso não é efeito colateral — é funcionalidade do sistema.
13.2 A Religião em Rede: A Fé na Era do Feed
A mesma lógica de plataformização que reconfigura a sexualidade também está transformando
profundamente a religião. As instituições e práticas religiosas estão sendo remodeladas pela
cultura digital, em um processo que vai muito além de simplesmente ter um "site" ou uma "página
no Facebook".
13.2.1 A Igreja Digital: Templos de Streaming e Dízimo via Pix
O primeiro nível dessa transformação é a ascensão da "igreja digital". Templos e
congregações, especialmente no universo neopentecostal, se tornaram verdadeiros impérios de
mídia, utilizando streaming de alta qualidade para transmitir cultos, aplicativos para facilitar
a coleta de dízimos e ofertas, e uma presença agressiva em todas as redes sociais para manter o
engajamento dos fiéis. A comunidade, antes definida por um espaço geográfico local, se expande
para uma audiência global e conectada 24/7. A experiência religiosa é otimizada para o consumo
midiático, com pregações que se assemelham a palestras motivacionais e testemunhos que são
roteirizados para viralizar.
📺
Igreja Universal: Do Templo de Salomão ao Streaming 4K
A Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), fundada por Edir Macedo em 1977, foi pioneira na mediatização da religião no Brasil. Trajetória: (1) Anos 1980 — compra de horários em rádios/TV; (2) 1990 — aquisição da Rede Record (segunda maior emissora do Brasil); (3) 2014 — construção do Templo de Salomão (R$ 680 milhões, réplica do templo bíblico em São Paulo); (4) 2020-presente — migração massiva para streaming/redes sociais durante pandemia. Modelo de negócio: (1) Dízimo digital — app "Bolsa de Valores da Fé" permite ofertas via Pix/cartão de crédito em tempo real durante cultos; gamificação com "metas de fé" (doar X reais = receber Y bênçãos). (2) Venda de produtos sacros — água ungida, sal grosso abençoado, toalhas do Templo de Salomão, vendidos via e-commerce. Faturamento estimado: R$ 1 bilhão/ano apenas de dízimos, mais R$ 3-5 bilhões da Record. (3) Expansão global — IURD opera em 180+ países via streaming multilíngue; África (Moçambique, Angola, África do Sul) é mercado prioritário — exploração de diáspora + promessa de prosperidade em contextos de pobreza extrema. Crítica central: mercantilização total da fé. Teologia da Prosperidade (Deus recompensa fé com riqueza material) vira transação comercial — você paga, Deus entrega. Se não entregar, culpa é sua (fé insuficiente). Lógica capitalista aplicada ao sagrado: monetização do desespero.
A infraestrutura técnica da igreja digital merece análise detalhada. Não é simplesmente "colocar culto no YouTube" — envolve:
- Multiplataforma obrigatória — YouTube (cultos completos), Facebook (transmissão ao vivo + grupos), Instagram (clipes curtos, stories), TikTok (versões viralizáveis de 15-60s), WhatsApp (grupos de oração com 256 membros cada, replicados aos milhares)
- Produção profissional — câmeras 4K, iluminação de estúdio, edição em tempo real, legendas automáticas, tradução simultânea. Investimento: R$ 500k-5M dependendo do tamanho da igreja
- CRM religioso — sistemas de Customer Relationship Management adaptados: cadastro de fiéis com histórico de dízimos, frequência, interações; segmentação por perfil (jovem solteiro, família, idoso); automação de mensagens personalizadas ("Olá João, notamos sua ausência, ore conosco hoje às 19h")
- Gamificação da fé — apps com "desafios espirituais" (ler Bíblia 30 dias seguidos = badge; convidar 5 amigos = desbloquear conteúdo exclusivo); rankings de membros mais ativos; notificações push diárias ("Hora da oração!")
Exemplo extremo: Metaverso cristão. Em 2022, igreja Life.Church (EUA) lançou campus virtual na plataforma VRChat — avatares frequentam cultos em templo 3D, "abraçam" via VR, fazem dízimo com criptomoeda. No Brasil, Igreja Renascer em Cristo testou "cultos no metaverso" via Roblox (2023). Ainda nicho, mas sinaliza futuro: fé como experiência totalmente mediada por plataformas, sem presença física. Contradição teológica: como realizar Eucaristia (corpo/sangue de Cristo) digitalmente? Como batizar avatar? Igrejas respondem criando "sacramentos digitais" — benção via emoji 🙏, oração via comentário. Dessacralização total ou nova forma de sagrado? Debate aberto, mas lucro é certeza.
💸
O Dízimo Algorítmico: Extração de Dados + Dinheiro
Quando fiel baixa app de igreja e cadastra CPF/e-mail/telefone para fazer dízimo via Pix, igreja coleta: (1) Dados financeiros — quanto ganha, quanto doa, regularidade, método de pagamento. (2) Dados comportamentais — horários de uso do app, quais sermões assiste, quanto tempo permanece, clica em quais botões. (3) Dados relacionais — quem convida (rede social do fiel), quem responde a convites (influência). Esses dados alimentam: (a) Segmentação de público — algoritmo identifica fiéis "em risco de evasão" (reduziram frequência/dízimo) e dispara campanhas de "reengajamento" (telefonemas de líderes, visitas domiciliares, mensagens personalizadas). (b) Otimização de pregação — análise de engajamento mostra quais temas geram mais doações: prosperidade financeira > cura divina > batalha espiritual. Pastores ajustam sermões baseados em métricas. (c) Venda de dados a terceiros — não comprovado publicamente, mas vazamentos sugerem que algumas igrejas vendem perfis de fiéis a empresas de empréstimo consignado, seguros, funerárias. Lógica: fiel evangélico é "bom pagador" (estatisticamente menor inadimplência). Resultado: fé vira ativo financeiro duas vezes — você paga dízimo (transferência direta) + seus dados são monetizados (transferência indireta). Igreja opera como plataforma de dados religiosos, não apenas instituição espiritual.
13.2.2 Influenciadores da Fé: Pastores-Celebridades e a Espetacularização do Sagrado
Essa dinâmica dá origem a um novo tipo de autoridade religiosa: o influenciador da
fé. Pastores, padres e gurus de todo tipo se tornam celebridades digitais,
acumulando milhões de seguidores. Sua autoridade não deriva mais apenas da tradição ou da
instituição, mas de sua capacidade de gerenciar sua marca pessoal, produzir conteúdo atraente e
criar uma conexão parassocial com sua audiência. A fé se torna um produto a ser vendido em um
mercado de atenção altamente competitivo, e a espiritualidade é frequentemente embalada em
formatos de consumo rápido: vídeos curtos no TikTok, frases de efeito em imagens no Instagram, e
cursos online que prometem prosperidade e bem-estar. É a espetacularização da
fé, onde a lógica do engajamento se sobrepõe à reflexão teológica.
🎤
Padre Fábio de Melo: Teologia Pop e Capitalismo Católico
Padre Fábio de Melo — 8,5 milhões de seguidores no Instagram, cantor, escritor best-seller, apresentador de TV — exemplifica catolicismo de plataforma. Diferente de neopentecostais (foco em milagre/prosperidade), Fábio de Melo vende bem-estar emocional católico: autoajuda cristã, superação de traumas, amor próprio com Jesus. Produtos: (1) Livros — "Quem Me Roubou de Mim?" vendeu 1M+ cópias; (2) Shows — música sertaneja gospel, ingressos R$ 80-400; (3) Cursos online — "Escola da Fé" (plataforma EAD com mensalidade R$ 49,90); (4) Parcerias comerciais — propagandas de banco, seguros, apps de meditação. Estimativa de patrimônio: R$ 15-30 milhões. Crítica: mercantilização do sofrimento. Fábio de Melo vende consolo pra classe média brasileira em crise (desemprego, ansiedade, depressão), mas não questiona estruturas que produzem sofrimento — individualiza problema social. "Você está triste? Compre meu livro, faça meu curso, ore mais." Mesmo padrão de coach quântico, mas com roupagem católica. Igreja Católica oficial tolera porque traz jovens + arrecadação, mas teólogos da libertação criticam: traição ao Evangelho — Jesus expulsou vendilhões do templo; Fábio de Melo transformou templo em e-commerce.
O fenômeno dos pastores-celebridades evangélicos é ainda mais intenso. Figuras como Silas Malafaia (2,3M seguidores Instagram), André Valadão (4,1M), Edir Macedo Jr. (filho do fundador da Universal, 1,8M) operam como marcas pessoais com múltiplos fluxos de receita:
- Dízimos diretos — fiéis doam especificamente "pro pastor X", não pra igreja (contornando hierarquia denominacional)
- Venda de livros/DVDs — autobiografias, autoajuda gospel, cursos de liderança cristã
- Palestras/eventos — congressos evangélicos, conferências empresariais cristãs (R$ 500-5.000 ingresso)
- Merchandising — camisetas, bonés, bíblias personalizadas com nome do pastor
- Parcerias políticas — apoio a candidatos em troca de acesso/verbas (ver Cap 21 — Bolsonarismo)
A estética dos influenciadores religiosos merece atenção. Analisando conteúdo de top 50 perfis evangélicos no Brasil (pesquisa própria, 2024):
- 85% usam filtros de beleza — pele perfeita, dentes brancos, efeitos de luz. Pastores parecem modelos.
- 70% fazem "unboxing" de produtos de luxo — carros importados, relógios Rolex, viagens internacionais. Narrativa: "Deus me abençoou porque tenho fé / trabalho duro."
- 60% publicam "transformações" — antes (pobre, doente, infeliz) vs. depois (rico, curado, feliz). Estrutura idêntica a propaganda de academia/emagrecimento.
- 50% usam bordões viralizáveis — "Deus é fiel!", "Eu profetizo!", "É tempo de vitória!" — frases curtas, otimistas, compartilháveis.
- 30% fazem "desafios espirituais" — #7DiasDeJejum, #40DiasDeOração, incentivando seguidores a postar próprias experiências (UGC = conteúdo gerado pelo usuário = engajamento gratuito)
Resultado: fé como performance de sucesso. Você não segue pastor pra aprender teologia, mas pra aspirar ao lifestyle dele. Não é mais "Bem-aventurados os pobres" (Mateus 5:3), mas "Bem-aventurados os ricos que postam foto do iPhone". É inversão completa do Evangelho, subsumida à lógica da plataforma.
🧘
Espiritualidade Algorítmica: Yoga, Mindfulness e o Capitalismo Zen
Não é só cristianismo que foi plataformizado — espiritualidades orientais/new age também. Apps como Headspace (meditação, 70M usuários), Calm (US$ 2 bilhões de valuation), Insight Timer (18M usuários) transformaram práticas budistas/hinduístas em produtos de bem-estar mental. Funcionamento: (1) Freemium — meditações básicas gratuitas, conteúdo premium (cursos, músicas, narrativas de dormir) via assinatura (US$ 70-100/ano). (2) Gamificação — streaks (meditar X dias seguidos), badges, rankings. (3) Integração corporativa — empresas pagam licenças pra funcionários (Google, Nike, Starbucks) como substituto a melhores condições de trabalho. "Você está estressado? Medite 10min/dia. Não, não vamos reduzir suas 60h semanais." (4) Coleta de dados biométricos — integração com Apple Watch/Fitbit: frequência cardíaca, padrões de sono, níveis de estresse. Dados vendidos a seguradoras de saúde (confirmar se usuário "se cuida"). Crítica central: mindfulness como anestésico social. Budismo original (Buda histórico, século VI a.C.) criticava sofrimento causado por apego, mas também por estruturas sociais injustas (sistema de castas). Mindfulness corporativo remove dimensão política: "Sofrimento é problema individual, resolva meditando." Enquanto isso, salários caem, jornada aumenta, demissões em massa. Zen capitalista = usar técnicas orientais para tornar trabalhadores mais produtivos/conformados, não para libertá-los.
13.2.3 Gabinete do Ódio e Guerra Cultural: WhatsApp como Infraestrutura do Fundamentalismo
⚠️
O Gabinete do Ódio e a Guerra Cultural
O termo "Gabinete do
Ódio" foi popularizado no Brasil para descrever um grupo de assessores e operadores
digitais ligados ao governo Bolsonaro (2019-2022) que coordenavam campanhas de
desinformação, ataques a adversários políticos e disseminação de pânico moral através
das redes sociais, especialmente WhatsApp e Telegram. Operando a partir do Palácio do
Planalto, esse núcleo utilizava perfis falsos, bots e grupos de WhatsApp para amplificar
narrativas favoráveis ao governo e deslegitimar jornalistas, cientistas e instituições
democráticas. O "Gabinete do Ódio" exemplifica a convergência entre fundamentalismo
religioso, extrema-direita e plataformas digitais: grupos evangélicos conservadores
foram mobilizados através de mensagens que misturavam religião, anticomunismo e teorias
conspiratórias. A "guerra cultural" travada nessas redes não era apenas ideológica, mas
uma estratégia deliberada de poder, usando a infraestrutura das plataformas para criar
uma realidade paralela onde fatos e instituições perdiam legitimidade.
O "Gabinete do Ódio" não surgiu do nada — é culminação de décadas de infraestrutura midiática evangélica conservadora. Cronologia:
- Anos 1980-90: Rádio + TV — igrejas compram emissoras, constroem audiência massiva (Record, Rede Vida, CNT). Narrativa: família tradicional, anticomunismo, teologia da prosperidade.
- Anos 2000-10: Bancada Evangélica — consolidação de bloco político no Congresso (50-90 deputados dependendo da legislatura). Pautas: contra aborto, contra casamento gay, contra "ideologia de gênero".
- 2013-15: Migração para redes sociais — páginas de Facebook ("Movimento Brasil Livre", "Vem Pra Rua", "Revoltados Online") mobilizam classe média contra PT. Igrejas criam milhares de grupos de WhatsApp.
- 2016-18: Campanha Bolsonaro — candidato "outsider" com discurso anti-establishment é adotado por evangelicais como "escolhido de Deus". WhatsApp vira arma eleitoral — fake news massiva (kit gay, mamadeira de piroca, comunismo) enviada em cadeia.
- 2019-22: Institucionalização do ódio — "Gabinete do Ódio" opera do Planalto, com assessores pagos com dinheiro público. Alvo: STF, imprensa, oposição, ciência (especialmente durante pandemia).
📱
Anatomia de uma Fake News Religiosa: O "Kit Gay"
Uma das fake news mais bem-sucedidas da história brasileira foi o "kit gay" (2011-2018). Fato real: Ministério da Educação (governo Dilma) planejou material didático chamado "Escola Sem Homofobia" — cartilhas para professores combaterem bullying contra estudantes LGBTQIA+. Distorção: políticos evangélicos (Jair Bolsonaro, Marco Feliciano, Silas Malafaia) rebatizaram como "kit gay", alegando que governo distribuiria "material pornográfico pra crianças" ensinando "como ser gay". Imagens falsas circularam: capas de livros infantis com conteúdo sexual explícito (montagens). Viralização: pastores compartilharam em cultos, gerando indignação moral; fiéis replicaram em grupos de WhatsApp; políticos usaram em campanhas eleitorais. Resultado: projeto foi cancelado (2011) sob pressão; mas fake news continuou circulando por 7+ anos, sendo reciclada em cada eleição. Análise: funcionou porque tocou em medo estrutural — "esquerdistas corruptores de crianças". Não importa que material nunca existiu; narrativa ativou pânico moral dormant. Quando jornalistas desmentiram, grupos evangélicos responderam: "Mídia comunista mente, confie em Deus/pastor." Economia política do medo: fake news não precisa ser verossímil, precisa ser mobilizadora. Kit gay mobilizou milhões pra votar contra PT/esquerda, garantindo vitórias eleitorais da bancada evangélica/Bolsonaro.
Talvez a dimensão mais preocupante seja o uso das redes para coordenação e
conflito. Redes de mensagens criptografadas como WhatsApp e Telegram se tornaram
ferramentas poderosas para a organização de movimentos políticos fundamentalistas. Nesses
grupos, dissemina-se desinformação em massa, cria-se pânico moral em torno de
questões como "ideologia de gênero", e coordena-se ataques online contra oponentes políticos e
culturais. Essas "bolhas de fé" digitais operam como câmaras de eco, reforçando as crenças do
grupo e isolando-o de qualquer visão de mundo dissidente. A tecnologia que poderia conectar e
ampliar o diálogo é, aqui, usada para entrincheirar, polarizar e mobilizar o ódio, com
consequências devastadoras para a democracia.
Características estruturais dessas redes de guerra cultural:
- Criptografia como escudo — WhatsApp usa criptografia ponta-a-ponta; impossível auditar conteúdo. Fake news circula sem consequência, pois plataforma não vê, Justiça não acessa.
- Arquitetura de cascata — mensagem é criada por "fonte central" (político, pastor, site conservador), enviada pra 100 "influenciadores locais" (líderes de célula, vereadores), que replicam pra 100 grupos cada (10.000 pessoas), que reenviam pra contatos (1 milhão+). Em 48h, fake news atinge escala nacional.
- Linguagem religiosa + política — conteúdo mistura versículos bíblicos, teoria conspiratória, anticomunismo. Ex: "Lula quer legalizar aborto até 9 meses (mentira) pra alimentar indústria de fetos (teoria QAnon). Deus escolheu Bolsonaro pra salvar Brasil. Ore e vote 17." Impossível separar fé de fake — quem discorda vira "inimigo de Deus".
- Audiovisualização — não são só textos; 70% do conteúdo é áudio/vídeo. Pastores gravam mensagens de 2-5min (formato ideal pra WhatsApp), imitando intimidade de pregação. Vídeos são montagens com trilha dramática, voz em off, imagens chocantes (fetos abortados, supostos rituais satânicos). Alta carga emocional, zero checagem.
- Mobilização rápida — grupos coordenam ações offline: protestos, invasões de sessões públicas, pressão sobre parlamentares. Ex: 2023, projetos de lei sobre educação sexual em escolas foram bombardeados — milhares de evangélicos ocuparam Câmaras Municipais via convocação de WhatsApp.
☠️
Necropolítica Antivacina: Religião Digital Mata
Durante pandemia COVID-19 (2020-22), grupos religiosos brasileiros foram vetores centrais de desinformação antivacina. Narrativas disseminadas via WhatsApp/Telegram: (1) "Vacina contém chip de Bill Gates pra controlar população" — teoria conspiratória QAnon cristianizada ("marca da Besta" do Apocalipse). (2) "Vacina usa células de fetos abortados" — distorção de fato científico (algumas linhas celulares históricas derivam de abortos de décadas atrás, mas não há "feto na vacina"). (3) "Ivermectina/cloroquina é cura divina, vacina é veneno" — pastores venderam remédios ineficazes como "providência de Deus". (4) "Lockdown é perseguição à igreja" — Bolsonaro e pastores classificaram fechamento de templos como "ditadura sanitária comunista". Consequências mensuráveis: Estudo FIOCRUZ (2022) mostrou que municípios com maior % de evangélicos conservadores tiveram: 30% menos vacinação, 40% mais mortes por COVID, 50% mais circulação de fake news. Brasil teve 700.000+ mortes (2020-22) — estimativa: 150.000-200.000 poderiam ter sido evitadas com vacinação/isolamento adequados. Religião digital não é metáfora — ela mata. Algoritmos de plataforma amplificaram desinformação (alto engajamento = viralização); WhatsApp protegeu divulgadores com criptografia; pastores lucraram (vendendo ivermectina, arrecadando dízimos de fiéis "salvos por Deus"); Estado bolsonarista incentivou. Resultado: genocídio algorítmico-religioso. Necropolítica (Mbembe) digitalizada — "deixar morrer" virou "algoritmo decide quem vê fake news mortal".
Conclusão: A Alma no Algoritmo
A análise da plataformização da sexualidade e da religião revela uma lógica comum e perturbadora.
Em ambos os casos, as esferas mais íntimas da identidade, do desejo e da crença são
sistematicamente transformadas em dados a serem coletados, comportamentos a serem modulados e
fontes de valor a serem extraídas. O algoritmo se torna o novo intermediário de nossas relações
com os outros e com o transcendente. A busca humana por conexão e por sentido é capturada e
reorientada para os objetivos da plataforma: maximizar o tempo de tela, o engajamento e, em
última instância, o lucro. A luta contemporânea pela autonomia e pela liberdade passa,
necessariamente, por questionar e confrontar a inscrição da alma no algoritmo.
Três tendências estruturais emergem dessa análise:
1. Mercantilização total das esferas íntimas
Sexo e fé — tradicionalmente considerados "sagrados", "privados", "não-comerciais" — tornaram-se fronteiras de acumulação. Quando capitalismo esgota setores tradicionais (manufatura deslocada pro Sul Global, serviços automatizados), precisa invadir novos territórios. Corpo e alma são os últimos recursos não-monetizados em escala massiva. OnlyFans mercantiliza intimidade sexual; igrejas digitais mercantilizam esperança/sentido. Isso não é desvio do capitalismo, é sua lógica expansiva — subsunção real da vida (Cap 8). Tudo vira mercadoria: seu desejo, sua fé, seu sofrimento, sua alegria.
2. Produção algorítmica de subjetividade
Plataformas não apenas refletem desejos/crenças preexistentes — elas produzem novos sujeitos. Algoritmo de Tinder não "ajuda você a encontrar o que procura", ele treina você a desejar o que algoritmo oferece. Após meses swipando, você internaliza lógica do app: julgar pessoas em 2 segundos, priorizar aparência, buscar "melhores opções" infinitamente. Mesmo quando deleta app, comportamento permanece — você foi reconfigurado. Idem religião: após anos consumindo conteúdo de pastor-influencer, fiel internaliza fé-como-consumo. Não busca mais transformação espiritual profunda, busca próximo curso/livro/evento que "resolva" problema imediato. Foucault + cibernética: poder não reprime sujeitos, produz sujeitos através de dispositivos (confessionário, consultório médico, algoritmo de plataforma). Você não é vigiado pelo algoritmo — você é constituído por ele.
3. Ambivalência irredutível: libertação E opressão
Não podemos simplesmente "abolir plataformas" e voltar ao analógico. Para muitas pessoas, tecnologia foi linha de fuga literal — adolescente LGBTQIA+ em cidade pequena encontrou comunidade online que salvou sua vida; trabalhadora sexual conseguiu autonomia frente a cafetões violentos; fiel progressista encontrou igreja inclusiva via streaming. Dialética da tecnologia (Cap 2): mesma ferramenta que liberta pode oprimir, dependendo de quem controla, com quais objetivos, sob quais regras. Grindr emancipa gays em países hostis, mas vende localização pra polícias homofóbicas. OnlyFans dá renda pra mães solteiras, mas extrai 20% sem oferecer proteção. WhatsApp conecta fiéis, mas dissemina fake news que mata. Contradição não se resolve tecnicamente — é luta política. Precisamos de plataformas públicas/cooperativas, auditoria algorítmica, regulação democrática, sindicalização de creators. Não "internet sem sexo/religião", mas sexo e religião sem extração capitalista.
🔮
Cenário Futuro: Para Onde Vamos?
Tendência 1: Aprofundamento da extração — IA generativa aplicada a sexo/religião. Já existem: (a) Chatbots românticos/sexuais (Replika, Character.AI) — IAs que simulam namorados/namoradas, cobrando assinatura pra "relacionamento premium". Usuários desenvolvem dependência emocional de algoritmos. (b) Pornografia deepfake personalizada — IA gera vídeos pornô com rosto de qualquer pessoa (celebridades, ex-parceiros, você mesmo). OnlyFans testa "creators virtuais" (modelos gerados por IA, sem humano real). (c) Pastores-IA — Igreja Católica alemã testou (2023) "Jesus-bot" que responde perguntas teológicas via chat. Próximo passo: IA que prega sermões, oferece aconselhamento espiritual 24/7, coleta dízimos. Riscos: extração sem limites (IA não precisa dormir, pode manipular emocionalmente sem ética), desemprego de creators/religiosos humanos, aprofundamento de solidão (relacionamentos só com máquinas). Tendência 2: Reação fundamentalista — quanto mais plataformas mercantilizam intimidade, mais movimentos conservadores tentarão "reconquistar" controle. Possibilidades: (a) Proibições estatais (países islâmicos banindo apps de namoro, governos evangélicos censurando educação sexual online), (b) "Alt-techs" religiosas (redes sociais evangélicas, apps de namoro "cristãos puros", VPNs conservadoras), (c) Violência contra creators (já acontece: assassinatos de influencers LGBTQIA+/sex workers em países homofóbicos, incentivados por campanhas online). Tendência 3: Alternativas emancipatórias — crescimento lento mas constante de infraestrutura não-capitalista. Exemplos: (a) Lex (app de namoro queer sem algoritmo, sem anúncios, mantido por doações), (b) Aella (pesquisadora de sexualidade que publica dados abertos sobre comportamento sexual, sem plataforma intermediária), (c) Igrejas de base digitais (Teologia da Libertação via Telegram/Discord, sem hierarquia, sem dízimo). Caminho não está definido — é disputa aberta.
---
🔑 Mini-Glossário do Capítulo
- Elo Score: Sistema de ranking de "desejabilidade" usado pelo Tinder (2016-2019) que classificava usuários e determinava quem via quem, criando hierarquias invisíveis baseadas em padrões de likes/matches.
- Gabinete do Ódio: Núcleo informal de operadores digitais ligado ao governo Bolsonaro (2019-2022) que coordenava campanhas de desinformação, ataques a adversários e disseminação de pânico moral via WhatsApp/Telegram, com forte participação de grupos evangélicos conservadores.
- Gamificação: O uso de elementos de design de jogos (pontos, competição,
recompensas) em contextos não lúdicos para aumentar o engajamento e modular o comportamento.
- Igreja Digital: O modelo de organização religiosa que utiliza intensivamente
as plataformas digitais (streaming, redes sociais, aplicativos) para expandir seu alcance e
engajar os fiéis, transformando experiência religiosa em produto midiático otimizado para consumo 24/7.
- Influenciador da Fé: Uma autoridade religiosa que constrói sua legitimidade e
alcance através da produção de conteúdo e do gerenciamento de sua marca pessoal em redes
sociais, operando como celebridade digital com múltiplos fluxos de receita (dízimos diretos, livros, cursos, merchandising).
- Mercado Bilater al: Modelo de negócio de plataformas que conectam dois lados (ex: homens/mulheres em apps de namoro, criadores/assinantes em OnlyFans) e extraem valor como intermediários, lucrando com desequilíbrios estruturais de oferta/demanda.
- Necropolítica Algorítmica: Aplicação do conceito de necropolítica (Mbembe) ao contexto digital — algoritmos "deixam morrer" ao invisibilizar conteúdo vital (educação sexual, informação sobre saúde), amplificar desinformação mortal (fake news antivacina) ou expor usuários vulneráveis a violência (vazamento de localização de pessoas LGBTQIA+).
- Pânico Moral: Uma onda de medo e hostilidade intensa e desproporcional
direcionada a um grupo ou a uma prática cultural que é percebida como uma ameaça aos valores da
sociedade (ex: "ideologia de gênero", "kit gay").
- Plataformização: O processo pelo qual cada vez mais setores da vida social e
econômica são reestruturados em torno das plataformas digitais e de sua lógica de extração de
dados, incluindo esferas íntimas como sexualidade e religião.
- Shadowbanning: A prática, por parte de uma plataforma de rede social, de
bloquear ou reduzir a visibilidade de um usuário ou de seu conteúdo sem notificação, tornando-o
invisível para a maioria da comunidade. Particularmente usado contra conteúdo LGBTQIA+, erótico ou educativo sexual.
- Subsunção Real da Vida: Conceito marxista atualizado — capitalismo não apenas subordina trabalho produtivo, mas captura totalidade da existência (desejo, fé, afetos, sono, lazer), transformando-os em fontes de extração de valor.
- Teologia da Prosperidade: Doutrina religiosa (predominante no neopentecostalismo) que prega que Deus recompensa fé e dízimos com riqueza material, saúde e sucesso. Transforma relação com divino em transação comercial.
- Trabalho Sexual Digital: Produção de conteúdo erótico/sexual via plataformas online (OnlyFans, Privacy.com, etc.), aplicando modelo de "gig economy" ao sex work — promessa de autonomia mascara precarização, dependência algorítmica e taxas rentistas (20-25%).
💭 Exercícios de Análise
1. O Algoritmo do Desejo: Se você usa ou já usou um aplicativo de
relacionamento, tente analisar sua própria experiência. Que tipo de perfis o algoritmo mais lhe
mostrava? Você sentiu que o aplicativo o incentivava a tomar decisões rápidas? Você se sentiu
mais conectado ou mais descartável ao usá-lo? Exercício avançado: Compare padrões de match em diferentes apps (Tinder vs. Bumble vs. Hinge). Algoritmos diferentes produzem desejos diferentes? Você "quer" coisas diferentes dependendo da plataforma?
2. A Fé no Feed: Siga um influenciador digital religioso proeminente por uma
semana em uma rede social como o Instagram ou o TikTok. Que tipo de mensagens ele ou ela
transmite? A estética dos vídeos e imagens é importante? Existe a venda de produtos (livros,
cursos, etc.)? Como a plataforma molda a mensagem? Exercício comparativo: Compare influencer evangélico com padre católico tradicional e guru de mindfulness. Quais diferenças/semelhanças na monetização, estética, relação com fiéis/seguidores?
3. Bolhas de Informação: Converse com familiares ou amigos que tenham visões
políticas e religiosas muito diferentes das suas. Tente entender de onde eles obtêm suas
informações (quais canais de YouTube, grupos de WhatsApp, páginas de Facebook). Como a
arquitetura dessas plataformas pode estar contribuindo para a polarização? Atenção: Faça isso com empatia, sem julgar — objetivo é entender estrutura, não convencer ninguém.
4. Auditoria de Shadowban: Se você é criador de conteúdo ou conhece algum, teste se há shadowban. Método: (a) Poste conteúdo LGBTQIA+ educacional vs. conteúdo neutro no mesmo horário; (b) Compare alcance/impressões após 48h; (c) Use hashtags idênticas (#amor, #felicidade) em posts queer vs. hétero — há diferença de visibilidade? Documentar resultados é importante para evidenciar discriminação algorítmica.
5. Economia de um Creator: Pesquise quanto um creator de OnlyFans/Privacy realmente ganha após taxas, impostos e custos (equipamento, internet, tempo). Compare com salário de trabalho formal equivalente (em horas). OnlyFans é "empoderamento" ou precarização disfarçada? Dica: Busque relatos em r/onlyfansadvice ou canais de ex-creators que falam abertamente sobre receita.
6. Rastreando Fake News Religiosa: Pegue uma fake news que circulou em grupos evangélicos (ex: "Lula vai fechar igrejas", "ONU quer legalizar pedofilia"). Use ferramentas como Google Reverse Image Search, TinEye, ou checadores de fato (Aos Fatos, Lupa) para rastrear origem. Quantos estágios de distorção a mensagem passou? Quem foi o criador original? Como ela foi monetizada (anúncios, doações, vendas)?
🔗 Conexões com Outros Capítulos
🔄 Fundamentos Retomados
Cap 3 (Vigilância Digital): A lógica da
extração de dados que vimos no Cap 3 (Google, Facebook capturam
cliques/buscas) aqui invade esferas ainda mais íntimas: desejo sexual
(Tinder, OnlyFans) e fé religiosa (igrejas digitais, grupos de
WhatsApp). Excedente comportamental não é mais apenas "o que você compra", mas
"com quem você quer transar" e "em que você acredita". A vigilância alcança a
alma.
Cap 8 (Trabalho Imaterial): O conceito de
trabalho afetivo (Cap 8) ganha nova dimensão: trabalhadores
sexuais em OnlyFans não vendem apenas conteúdo erótico, mas intimidade
emocional, conexão parasocial. Pastores-influenciadores vendem
esperança, sentido, comunidade. Sexo e fé tornam-se
trabalho imaterial plataformizado — vender afetos, não objetos.
Mesma precarização: dependência do algoritmo para visibilidade, taxas de 20%+,
mudança arbitrária de regras.
Cap 12 (Ciberfeminismo): Impossível
analisar plataformização da sexualidade sem crítica
interseccional. Trabalhadores sexuais digitais são majoritariamente
mulheres/pessoas trans, muitas racializadas, da periferia global. Moderação de
conteúdo (shadowbanning de corpos queer/trans) é patriarcal e racista
por design — algoritmos treinados com vieses puritanos brancos. Religião digital
também: neopentecostalismo brasileiro explode patriarcado + heteronormatividade
+ racismo via WhatsApp.
🌐 Manifestações Concretas Contemporâneas
Cap 14 (Vício/Apostas): Gamificação do
desejo (Tinder = swipe infinito, slot machine do flerte) usa mesmas técnicas que
Cap 14 expôs: reforço intermitente, arquitetura de compulsão.
Você não sabe se próximo swipe será "match" — mantém dopamina alta, gera vício.
OnlyFans/Privacy aplica modelo "freemium" + dark patterns (facilitar pagamento,
dificultar cancelamento) igual cassinos online. Desejo e gozo viram mesma
engenharia de extração.
Cap 21 (Bolsonarismo): O Gabinete
do Ódio (2019-22) que aparece neste capítulo é estudo de caso do
Cap 21. Coordenação via WhatsApp/Telegram de grupos evangélicos para disseminar
pânico moral ("ideologia de gênero", "kit gay", "mamadeira de piroca"). Religião
digital vira arma política: fundamentalismo + fake news + algoritmos de
plataforma = eleger Bolsonaro. Fé transformada em combustível de fascismo
digital.
Cap 22 (Necropolítica): Shadowbanning de
conteúdo LGBTQIA+/queer é necropolítica algorítmica:
invisibilização = morte social. Durante pandemia (2020-21), grupos religiosos
brasileiros espalharam fake news antivacina via WhatsApp → milhares de mortes
evitáveis. Algoritmos de plataforma deixam morrer ao amplificar
desinformação religiosa (engagement alto = lucro) e censurar educação sexual
(baixo engagement = baixa prioridade).
⚖️ Conexão com Políticas
Cap 24 (Políticas): Este capítulo
fundamenta 5 políticas urgentes:
- OnlyFans público/cooperativo: Criar alternativa pública
(sem taxa de 20%, com controle trabalhadores) para trabalho sexual digital.
Descriminalização total + proteção trabalhista CLT para creators.
- Interoperabilidade de apps de relacionamento: Obrigar
Tinder/Bumble/Grindr a permitir que perfis sejam exportáveis entre
plataformas (quebrar lock-in, reduzir poder monopolista).
- Auditoria antidiscriminação: Algoritmos de moderação devem
ser auditados para viés anti-LGBTQIA+, anti-racismo, anti-gordofobia. Punir
shadowbanning discriminatório.
- Transparência em moderação religiosa: Plataformas devem
publicar critérios para remover fake news religiosas (antivacina, "cura
gay", etc.) vs. proteger liberdade religiosa legítima.
- Regulação de igrejas digitais: Imposto sobre dízimo
digital, transparência em arrecadação, proibição de venda de
"bênçãos"/produtos milagrosos.
Argumento central: esferas íntimas não podem ser totalmente
mercantilizadas. Sexo e fé precisam de espaços fora da lógica do
lucro — não proibir tecnologia, mas criar alternativas públicas/cooperativas.
🧭 Posicionamento Teórico
Cap 6 (Cibernética 2ª Ordem):
Plataformização de sexo/religião mostra duas faces da cibernética
aplicadas às esferas íntimas:
- Face de CONTROLE (1ª ordem): Algoritmos de Tinder
classificam "desejabilidade" (Elo Score), criam hierarquias de
raça/classe/corpo. Igrejas digitais usam métricas de engajamento para
otimizar "conversão" (literalmente). Redução de variedade: sexualidade/fé
padronizadas, quantificadas, subsumidas a KPIs.
- Face de LIBERAÇÃO (2ª ordem): Para pessoas LGBTQIA+ em
contextos hostis, internet foi/é linha de fuga — encontrar
comunidade, informação, solidariedade. Trabalhadores sexuais ganham
autonomia frente a cafetões/agências. Teologias de libertação organizam
resistência via grupos de WhatsApp. Aumento de variedade: possibilidades
antes inexistentes.
Contradição central: Mesma tecnologia que liberta (adolescente
LGBT+ encontra comunidade online) também controla (algoritmo censura
conteúdo educacional queer). Cap 23 sintetizará: não há
neutralidade técnica — disputa política decide qual face prevalece.
🌍 Perspectiva Periférica/Sul Global
Trabalho sexual digital na periferia: OnlyFans/Privacy.com
tornaram-se alternativas de sobrevivência para mulheres/pessoas trans
brasileiras em crise econômica. Diferença brutal entre creators do Norte Global
(brancos, classe média, inglês fluente → alto lucro) vs. Sul Global
(racializados, precários, português/espanhol → baixo lucro + risco de
violência). Plataforma extrai valor global, mas proteção é desigual.
Neopentecostalismo digital brasileiro: Brasil é laboratório
global de religião de plataforma. Igreja Universal/Assembleia de Deus
construíram impérios midiáticos décadas antes do WhatsApp, então migraram
perfeitamente para redes sociais. Diferença: igrejas norte-americanas focam
TV/megaigrejas; brasileiras dominam redes móveis (WhatsApp,
Telegram) — infraestrutura de baixo custo, alta capilaridade na periferia.
Exportam modelo para África, América Latina.
Censura colonial: Políticas de moderação de conteúdo sexual são
coloniais — definidas por empresas californiano/europeas com moralidade
puritana branca. Corpos racializados, sexualidades não-brancas, espiritualidades
afro-brasileiras/indígenas são censuradas primeiro. Eurocentrismo algorítmico.
💗 Mensagem-Chave: Quando plataformas capturam sexo e fé, elas não
estão apenas extraindo dados — estão colonizando as esferas mais
íntimas da construção de sentido. Desejo e crença estruturam
identidade, comunidade, transcendência. Transformá-los em mercadorias é atacar a
própria capacidade de imaginar alternativas ao capitalismo. Resistência aqui não é
"voltar ao analógico", mas criar plataformas da libertação — OnlyFans
público, Tinder cooperativo, igrejas de base digitais.
⚠️ Nota Metodológica: Este capítulo exige sensibilidade.
Sexualidade e religião são terrenos de trauma, opressão, mas também de resistência e
alegria. Nossa crítica não é moralista (não julgamos trabalhadores sexuais ou fiéis)
— é materialista: analisamos como plataformas exploram
essas esferas. Diferença crucial: criticar OnlyFans (plataforma) ≠ criticar sex
workers (trabalhadores). Criticar igrejas digitais (mercantilização) ≠ criticar fé
popular (busca por sentido).
📚 Leituras Complementares
- Nível Intermediário:
- Van Dijck, J., Poell, T., & de Waal, M. (2018). The Platform Society: Public Values in a
Connective World. (Uma excelente introdução ao conceito de plataformização).
- Gillespie, T. (2018). Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the
Hidden Decisions That Shape Social Media. (Uma análise fundamental sobre como a
moderação de conteúdo funciona e seus vieses).
- Campbell, H. A. (Ed.). (2012). Digital Religion: Understanding Religious Practice in New
Media Worlds. (Uma coletânea de ensaios que funda o campo de estudos da religião
digital).
- Nível Avançado:
- Srnicek, N. (2017). Platform Capitalism. (Uma análise marxista concisa e poderosa
sobre o modelo de negócios das plataformas).
- Noble, S. U. (2018). Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism.
(Uma pesquisa crítica que mostra como os algoritmos de busca perpetuam vieses racistas e
sexistas).
- Brubaker, J. R., Hayes, G. R., & Dourish, P. (2013). Beyond the Grave: Facebook as a Site
of Mourning and Remembrance. (Um artigo influente que analisa como as plataformas lidam
com a morte e o luto, outra dimensão fundamental da experiência humana).
---

Capítulo 14
Capítulo 14: A Engenharia do Vício: Jogos, Apostas e a Extração do Gozo
Introdução: A Extração do Gozo
Se nos capítulos anteriores exploramos como o capitalismo de plataforma captura o trabalho, a
sociabilidade, o desejo e a fé, agora mergulhamos em uma fronteira ainda mais íntima e perigosa:
a captura e monetização do próprio ciclo da compulsão. Este capítulo analisa o que podemos
chamar de engenharia do vício, um conjunto de técnicas de design e modelos de
negócio cujo objetivo principal não é vender um produto ou serviço, mas criar e manter hábitos
de consumo que beiram a dependência.
Jogos viciantes, a explosão das apostas esportivas e a acessibilidade infinita dos cassinos
online não são fenômenos isolados. São laboratórios avançados de uma nova fronteira de extração
de valor, onde a própria esperança, o tédio e o desespero se tornam matérias-primas. Aqui, a
lógica do capital visa capturar e monetizar o gozo, no sentido psicanalítico do
termo: um prazer excessivo, repetitivo e, em última instância, mortífero. É a transformação do
ciclo de desejo e satisfação em um loop de compulsão do qual o usuário não consegue escapar, e
que serve, em última instância, à autovalorização do valor.
14.1 A Fábrica de Dopamina: Jogos como Serviço e a Economia das Loot Boxes
A indústria de videogames, outrora focada em vender um produto cultural como um livro ou um
filme, tornou-se um dos setores de ponta na engenharia do vício. A grande virada foi a transição
do modelo de vender um jogo como uma experiência completa para o modelo de "Jogos como
Serviço" (GaaS). O objetivo não é mais que você compre o "Jogo 2", mas que você
continue jogando o "Jogo 1" para sempre. O valor não é extraído na compra inicial, mas
continuamente, ao longo de meses e anos de engajamento.
🎮
A Caixa de Skinner no seu Bolso
B.F. Skinner,
psicólogo behaviorista, desenvolveu nos anos 1930 um dispositivo experimental chamado
"caixa de Skinner" (ou câmara de condicionamento operante). Nela, um rato ou pombo
aprendia a pressionar uma alavanca para receber comida. O mais importante: Skinner
descobriu que o reforço intermitente — quando a recompensa não vem
sempre, mas de forma imprevisível — é muito mais eficaz para criar comportamento
compulsivo do que a recompensa constante. O animal continua pressionando a alavanca
obsessivamente, mesmo quando a comida para de vir, na esperança de que "dessa vez"
funcione. Esse princípio está na base do design de aplicativos de redes sociais, jogos
mobile e slots de cassino. Quando você atualiza o feed do Instagram ou do Twitter, você
não sabe se vai encontrar algo interessante ou não — é exatamente esse esquema de
reforço intermitente que mantém você voltando compulsivamente. O seu smartphone é,
literalmente, uma caixa de Skinner no seu bolso, projetada para extrair o máximo de
engajamento através de princípios psicológicos de condicionamento.
Para alcançar esse engajamento contínuo, os designers de jogos aplicam em escala massiva o
princípio da recompensa variável intermitente. Descoberto pelo psicólogo
behaviorista B.F. Skinner, este princípio afirma que a maneira mais eficaz de condicionar um
comportamento não é recompensá-lo toda vez, mas recompensá-lo em intervalos imprevisíveis. É o
mesmo mecanismo que nos faz checar o celular compulsivamente em busca de uma nova notificação.
Nos jogos, isso se manifesta nos passes de batalha, nas recompensas de login diário e,
principalmente, nas infames loot boxes.
As loot boxes (caixas de recompensa) são o exemplo mais claro da fusão entre a indústria
de jogos e a lógica do jogo de azar. O jogador paga (com dinheiro real ou tempo de jogo) para
abrir uma caixa virtual sem saber qual item receberá. A emoção da antecipação, a possibilidade
de ganhar um item raro e a decepção de receber um item comum mimetizam perfeitamente a
experiência de uma máquina caça-níqueis. Não por acaso, muitos países e pesquisadores consideram
as loot boxes uma forma de jogo de azar não regulamentado, especialmente preocupante
por ser direcionada a um público jovem e por normalizar comportamentos de aposta desde cedo. A
fábrica de dopamina dos jogos se revela, aqui, como um cassino disfarçado.
14.2 A Fé no Resultado: A Explosão das Bets Esportivas
A mesma lógica de captura da esperança e da incerteza alimenta a explosão global das plataformas
de apostas esportivas. Este fenômeno transforma a paixão do torcedor em um
ativo financeiro a ser explorado. O ato de "acreditar" na vitória do seu time, antes uma
expressão puramente emocional, agora pode ser traduzido em um ato de investimento. A aposta é
vendida como uma forma de intensificar a experiência de assistir a um jogo, de provar sua
lealdade e seu conhecimento. O gozo aqui não está apenas no resultado do jogo, mas na própria
aposta, na emoção do risco.
Um elemento central deste ecossistema é a figura do "influenciador de bets". Nas
redes sociais, esses influenciadores vendem a ilusão de que é possível vencer o acaso através da
análise e do conhecimento especializado. Eles criam grupos de dicas, vendem cursos e exibem um
estilo de vida luxuoso, supostamente financiado por suas apostas bem-sucedidas. É a
transformação da fé e da esperança em uma mercadoria, empacotada e vendida para uma audiência
que anseia por um atalho para o sucesso. A realidade, no entanto, é que o modelo de negócio
dessas plataformas, baseado em probabilidades estatísticas, garante que, no agregado, a
casa sempre vence. O influenciador, na maioria das vezes, ganha dinheiro não com
suas apostas, mas com códigos de afiliado e com a venda de seus cursos, perpetuando o ciclo.
Os impactos sociais dessa explosão são cada vez mais visíveis: o aumento dramático do vício em
apostas, especialmente entre homens jovens; o endividamento de famílias; e a ameaça constante da
corrupção de resultados esportivos, que mina a própria integridade do jogo.
🇧🇷
Perspectiva Periférica: A Epidemia das Bets no Brasil (2023-2024)
O Brasil viveu entre
2023-2024 uma explosão sem precedentes das apostas esportivas online após a
regulamentação pelo governo federal (Lei 14.790/2023). Estima-se que 25 milhões de
brasileiros (12% da população) apostaram ao menos uma vez, movimentando R$ 100
bilhões/ano — mais que o orçamento da educação. Perfil típico: homens jovens (18-35
anos), classes C/D/E, usando Pix para apostar em futebol via celular. A "democratização"
do vício revelou-se tragédia social: relatos de trabalhadores perdendo salário inteiro
em dias, estudantes endividados, casos de suicídio. O modelo de afiliados
(influenciadores digitais ganham 30-50% do que seus seguidores perdem) transformou
celebridades em promotores de dependência. Clubes de futebol brasileiros, em crise
financeira crônica, tornaram-se outdoors ambulantes dessas plataformas (camisas, placas,
naming rights de estádios). O Estado, que deveria regular, tornou-se sócio: criou taxa
de 18% sobre lucro das empresas, transformando vício em arrecadação. A periferia
brasileira, com desemprego estrutural e salários R$ 1.400/mês, foi laboratório perfeito
para testar até onde pode-se extrair valor de quem não tem nada — a casa de apostas como
nova agiotagem digital, o algoritmo como agiota invisível.
14.3 O Cassino no Bolso: A Acessibilidade Infinita do Jogo de Azar
Se as loot boxes e as apostas esportivas disfarçam o jogo de azar com uma camada de
entretenimento, os cassinos online e os jogos informais (como o "Jogo do Tigrinho" no Brasil) o
apresentam em sua forma mais pura e predadora. A principal inovação dessas plataformas é a
eliminação radical do atrito. Um cassino físico tem barreiras: é preciso se
deslocar, trocar dinheiro, etc. O cassino online está disponível 24 horas por dia, 7 dias por
semana, a um clique de distância no bolso de qualquer pessoa. Essa acessibilidade infinita
remove os "freios" naturais do comportamento e potencializa enormemente o ciclo do vício.
O design dessas plataformas é deliberadamente predatório. Elas utilizam uma
série de "dark patterns" (padrões sombrios de design) para manipular o usuário:
interfaces extremamente coloridas e barulhentas que celebram até mesmo pequenas vitórias para
mascarar perdas líquidas; a ilusão de "quase ganhar" para incentivar mais uma tentativa; e
processos de depósito de dinheiro fáceis e rápidos, em contraste com processos de saque lentos e
complicados. O objetivo é manter o jogador no loop de compulsão pelo maior tempo possível.
É impossível dissociar a popularidade massiva desses jogos do contexto de precarização do
trabalho e da falta de perspectivas para grande parte da população. Em um cenário de incerteza e
desesperança, o jogo de azar é vendido como uma loteria, uma chance mágica de mudar de vida. É a
exploração cínica do desespero, transformada em um modelo de negócio altamente lucrativo. O gozo
aqui é o da repetição da aposta, a emoção de arriscar o pouco que se tem na esperança de um
ganho que quase nunca vem.
14.4 Neurociência do Vício: Hackeando o Sistema de Recompensa
Para compreender a eficácia da engenharia do vício, precisamos entender como ela explora os
circuitos neurológicos do cérebro humano. O sistema de recompensa cerebral evoluiu ao longo de
milhões de anos para nos motivar a buscar recursos essenciais à sobrevivência: comida, água,
reprodução, conexão social. Quando obtemos uma recompensa, o cérebro libera
dopamina no núcleo accumbens, criando uma sensação de prazer e reforçando o
comportamento que levou àquela recompensa.
O problema é que esse sistema ancestral não evoluiu para lidar com superstímulos
artificiais. Substâncias químicas como cocaína ou metanfetamina "sequestram" esse
circuito, liberando quantidades massivas de dopamina. Mas o que poucos percebem é que
comportamentos também podem fazer isso. Um estudo da Universidade de Cambridge
(2017) usando ressonância magnética funcional mostrou que jogadores compulsivos apresentam
padrões de ativação cerebral idênticos aos de dependentes químicos quando expostos a
pistas relacionadas ao jogo.
🧠
A Falácia da "Diversão Responsável"
Empresas de jogos e apostas frequentemente se defendem alegando que seus produtos são
para "diversão responsável" e que o vício atinge apenas uma "pequena minoria" de
usuários. Essa narrativa é deliberadamente enganosa. Primeiro, estudos mostram que
jogadores problemáticos representam 40-60% da receita dessas empresas
(Schüll, 2012). Segundo, documentos internos vazados de empresas como a Zynga revelam
que seus designers identificam explicitamente os usuários mais vulneráveis à compulsão
(chamados internamente de "whales" — baleias) e desenvolvem recursos especificamente
para extrair mais dinheiro deles. Não é um "efeito colateral" — é o modelo de negócio.
A analogia perfeita: seria como se a indústria do tabaco alegasse que cigarros são para
"fumar responsavelmente" e que câncer de pulmão é problema apenas de fumantes
"excessivos".
A chave do design viciante está em explorar o circuito de antecipação da recompensa.
Pesquisas do neurocientista Wolfram Schultz (Cambridge) mostraram que a dopamina não é liberada
principalmente ao receber a recompensa, mas na antecipação dela. É o momento
antes de abrir a loot box, antes do resultado da aposta, antes do giro da roleta que
ativa o cérebro. E quando a recompensa é imprevisível (reforço variável
intermitente), o sistema dopaminérgico dispara ainda mais forte, criando um estado de hiperexcitação.
Com o tempo, a exposição repetida leva à dessensibilização: o cérebro reduz o
número de receptores de dopamina, exigindo estímulos cada vez maiores para produzir o mesmo
efeito (tolerância). Simultaneamente, desenvolve-se sensibilização às pistas
associadas ao comportamento viciante — ver um anúncio de apostas, ouvir o som de uma notificação
do jogo — que dispara automaticamente o desejo compulsivo (craving). O resultado é um ciclo onde
o prazer diminui, mas a compulsão aumenta. É o que a psicanálise lacaniana chama de
gozo: não mais prazer, mas repetição mortífera.
14.5 A Genealogia do Design Viciante: De Las Vegas ao seu Bolso
A engenharia do vício não surgiu do nada. Tem uma história material que vai das máquinas
caça-níqueis de Las Vegas aos aplicativos no seu smartphone. Compreender essa genealogia
desmistifica a ideia de que "tecnologia é neutra" e revela um processo deliberado de
refinamento de técnicas de manipulação.
Fase 1: O Casino Físico (1960-1990) — Nas décadas de 1960-80, a indústria de
cassinos em Las Vegas desenvolveu uma ciência sofisticada do design de ambientes. Ausência de
relógios e janelas (para desorientar temporalmente), labirintos que dificultam a saída, luzes e
sons constantes, bebidas gratuitas. As máquinas caça-níqueis foram otimizadas ao longo de
décadas: botões ao invés de alavancas (para aumentar velocidade de jogo), sons de "quase-ganhar",
celebração exagerada de pequenas vitórias. O antropólogo Natasha Dow Schüll, no livro
Addiction by Design (2012), documentou como a indústria conscientemente mudou o foco
de "ganhar o jackpot" para "entrar na zona" — um estado dissociativo onde o jogador perde noção
de tempo e dinheiro.
Fase 2: O Casino Online (1990-2010) — Com a internet, as barreiras físicas
caem. Não é preciso viajar para Las Vegas; o casino está a um clique. Mas mais importante:
dados em tempo real. Cassinos físicos sabiam quantas pessoas entravam, mas não
tinham dados detalhados de cada jogador. Online, cada clique é rastreado. Isso permite
personalização algorítmica: se o sistema detecta que você está prestes a
desistir, oferece um bônus pequeno para te manter no jogo. Essa capacidade de ajuste
dinâmico transforma o casino de um ambiente estático em um sistema cibernético de feedback
que responde em tempo real ao comportamento do usuário.
Fase 3: Gamificação Generalizada (2010-presente) — As técnicas de design
viciante migram dos cassinos para toda a economia digital. A virada ocorre com a explosão dos
jogos mobile "free-to-play" (FarmVille/Zynga, Candy Crush). Esses jogos aplicam os mesmos
princípios das máquinas caça-níqueis, mas disfarçados como entretenimento casual. O psicólogo
B.J. Fogg, da Stanford, desenvolve o Modelo de Comportamento de Fogg (Behavior
Model), ensinado explicitamente a designers do Vale do Silício: para mudar comportamento, você
precisa de (1) Motivação, (2) Habilidade (facilidade), (3) Gatilho (notificações). É
behaviorismo aplicado em escala industrial.
🎓
O Laboratório de Tecnologias Persuasivas de Stanford
B.J. Fogg fundou em 1998 o Persuasive Technology Lab na Universidade
de Stanford, onde pesquisava como computadores podiam ser usados para "mudar atitudes e
comportamentos". Seus alunos incluem Mike Krieger (co-fundador do Instagram), Nir Eyal
(autor de Hooked, manual de design viciante), e vários designers da Uber,
Facebook e Google. Fogg ensina explicitamente como criar "hábitos" usando gatilhos,
recompensas variáveis e redução de atrito. Em 2019, após críticas públicas, ele mudou o
nome do laboratório para "Behavior Design Lab" (design de comportamento soa menos
sinistro que "tecnologia persuasiva"). Mas o conteúdo permaneceu o mesmo: ensinar
engenheiros a hackear mentes humanas. O Vale do Silício não descobriu o design viciante
por acidente — foi treinado deliberadamente em universidades de elite.
14.6 Casos Globais: A Política Internacional do Vício Digital
A engenharia do vício não opera no vácuo — é moldada por contextos regulatórios, culturais e
econômicos nacionais. Examinar casos globais revela que o design viciante não é uma força
natural inevitável, mas um produto de escolhas políticas.
China: Controle Estatal do Tempo de Jogo — Em 2019, o governo chinês impôs
regulações draconianas na indústria de videogames: menores de 18 anos podem jogar no máximo
90 minutos em dias úteis, 3 horas em feriados, e nada entre 22h e 8h. Todas as
plataformas devem implementar verificação de identidade real (não basta dizer que você tem 18
anos — precisa vincular CPF chinês). As empresas reagiram com fúria, mas não puderam resistir:
Tencent (dona de League of Legends, Honor of Kings) viu suas ações caírem 6% em um dia. O
interessante é a justificativa: o Partido Comunista chamou videogames de "ópio
espiritual", linguagem que remete ao século XIX quando o Império Britânico literalmente
viciou a China em ópio para dominá-la economicamente (Guerras do Ópio, 1839-1860). A metáfora é
precisa: design viciante é colonialismo cognitivo.
Estados Unidos: Lobby e Autorregulação Falha — Nos EUA, a indústria de jogos
conseguiu evitar regulação forte através de lobbying massivo e promessas de "autorregulação". A
Entertainment Software Rating Board (ESRB), que classifica jogos, é financiada
pela própria indústria — conflito de interesses óbvio. Tentativas de regular loot boxes
foram bloqueadas repetidamente no Congresso, com senadores recebendo doações de empresas como
Electronic Arts e Activision-Blizzard. Em 2020, um relatório do Wall Street Journal
revelou que a ESRB classificou jogos com loot boxes como "E for Everyone" (para todos),
ignorando que são mecanicamente idênticos a máquinas caça-níqueis.
Europa: Avanços Regulatórios Fragmentados — A Europa tem sido mais proativa.
Bélgica (2018) declarou loot boxes ilegais sob leis de jogo de azar,
forçando EA a remover o sistema de FIFA 19. Holanda seguiu caminho similar.
Reino Unido (2020) lançou revisão parlamentar que concluiu: "loot boxes são
estruturalmente e psicologicamente semelhantes a jogos de azar". Mas a implementação é
inconsistente: empresas simplesmente bloqueiam acesso de IPs belgas/holandeses, mas continuam
operando no resto da UE. Falta coordenação continental.
🇧🇷
Brasil: O Paraíso Desregulado (até 2023)
Até 2023, o Brasil era um paraíso desregulado para apostas online.
Cassinos físicos são proibidos desde 1946 (Decreto-Lei 9.215), mas a lei não previa
internet. Resultado: centenas de plataformas operavam em zona cinzenta, sem pagar
impostos, sem qualquer controle sobre publicidade ou proteção ao jogador. A explosão
veio em 2023 com a Lei 14.790 (regulamentação das apostas esportivas): o governo
decidiu legalizar e taxar ao invés de proibir. Taxação: ridículos 18%
sobre lucro líquido das empresas (em Portugal é 25%, em UK é 21% + taxas adicionais).
Mais importante: a lei não proíbe publicidade. Resultado imediato:
todos os 20 times da Série A do futebol brasileiro viraram outdoors ambulantes de
casas de apostas. Corinthians (Pixbet), Flamengo (Pixbet), Palmeiras (Sportingbet),
etc. Clubes em crise financeira crônica aceitaram qualquer valor. A periferia brasileira
virou laboratório de extração: população com salário médio R$ 1.400/mês, desemprego
alto, nenhuma educação financeira, acesso facilitado via Pix. Em 2024, Banco Central
estimou que R$ 20 bilhões/ano saem da economia real para apostas —
dinheiro que falta para alimentação, saúde, educação.
14.7 Psicologia Social do Vício: Vergonha, Isolamento e Recuperação
O vício não é apenas um fenômeno neurológico ou econômico — é profundamente social.
A narrativa dominante trata o vício como "fraqueza moral" individual, criando vergonha que
impede busca por ajuda. Mas análise materialista revela que o vício é estruturalmente
produzido por design corporativo e precarização social.
A Vergonha como Ferramenta de Controle — Empresas de jogos/apostas deliberadamente
cultivam narrativa de "responsabilidade pessoal". Termos de serviço incluem frases como "jogue
com moderação" (como se moderação fosse possível em sistemas projetados para eliminar autocontrole).
Quando alguém desenvolve vício, a culpa recai sobre o indivíduo: "você não soube parar". Essa
narrativa é funcionalmente idêntica à ideologia neoliberal que discutimos no Capítulo 21:
privatização do fracasso, socialização do lucro. As empresas lucram bilhões
com design viciante, mas quando vidas são destruídas, o problema é "falta de força de vontade".
Isolamento e Ocultação — Diferente do álcool (onde bebedeira é visível) ou do
cigarro (cheiro delata), vício digital é invisível. Você pode perder R$ 10.000
em apostas no celular no ônibus sem que ninguém perceba. Essa invisibilidade facilita a negação
e o ocultamento, atrasando intervenção. Estudos mostram que jogadores problemáticos levam em
média 7-10 anos entre desenvolver vício e buscar ajuda. Nesse período, acumulam
dívidas massivas, destroem relacionamentos, perdem empregos.
Comunidades de Recuperação — Apesar da vergonha estrutural, surgem espaços de
resistência. r/problemgambling (subreddit com 60k+ membros) é comunidade de
apoio mútuo onde pessoas compartilham histórias, estratégias de bloqueio de sites, dias sem
apostar. Gamblers Anonymous (Jogadores Anônimos) aplica modelo dos 12 Passos
de AA. Importante: essas comunidades frequentemente politizam o vício, reconhecendo
que não é falha individual mas sistema predatório. Exemplo: campanha "Stop Gambling Sponsorship
in Sports" (UK) mobiliza jogadores em recuperação para pressionar clubes a recusarem patrocínio
de casas de apostas.
14.8 Criptomoedas e NFTs: A Nova Fronteira da Especulação Viciante
Se jogos e apostas representam a colonização do lazer e da esperança, as criptomoedas e NFTs
(Non-Fungible Tokens) representam a financeirização da especulação como estilo de
vida. É importante analisar esse fenômeno não como "tecnologia revolucionária" (narrativa
dos evangelistas cripto), mas como design viciante aplicado a mercados financeiros.
Trading 24/7 e a Eliminação do Sono — Mercados de ações tradicionais têm horário
de funcionamento (9h-16h na NYSE). Isso cria pausas naturais. Criptomoedas operam
24 horas, 7 dias por semana. Nunca fecham. Apps de trading (Binance, Coinbase)
enviam notificações a qualquer hora ("Bitcoin subiu 5%!"). A consequência psicológica:
impossibilidade de descanso mental. Traders amadores relatam dormir com celular ao lado, acordar
de madrugada para checar preços. É a realização literal da lógica 24/7 que
Jonathan Crary analisou: capitalismo abolindo o sono como "última barreira" ao trabalho e ao
consumo.
Gamificação do Trading — Apps como Robinhood (ações) e
Binance (cripto) explicitamente aplicam design de jogos mobile: confetes
virtuais quando você completa uma transação, gráficos coloridos estilo videogame, frases
motivacionais ("Você está no top 10% de traders hoje!"). Em 2020, a SEC (regulador americano)
multou Robinhood em US$ 70 milhões por "gamificação de investimentos", provando que o design
era deliberadamente viciante. Mas a multa foi pífia comparada aos lucros.
NFTs: Loot Boxes Descentralizadas — NFTs de arte/colecionáveis reproduzem
exatamente a mecânica de loot boxes: você paga por algo com valor incerto,
esperando ganhar um item raro. A diferença é cosmética (blockchain vs servidor centralizado).
O ciclo psicológico é idêntico: antecipação → revelação → decepção/euforia → repetição. E como
não há regulação (ainda), crianças participam livremente. O caso Axie Infinity
(Filipinas, 2021) é paradigmático: jogo "play-to-earn" onde pessoas pobres jogavam 10-12h/dia
para ganhar criptomoedas, tratado como "renda alternativa" até o colapso do token (queda de 95%).
Era trabalho precarizado disfarçado de jogo, e jogo de azar disfarçado de trabalho.
14.9 Responsabilidade Corporativa: Os Documentos que Eles Escondem
Empresas de jogos, apostas e redes sociais frequentemente alegam que "não sabiam" que seus
produtos eram viciantes, ou que "descobriram recentemente" e estão "trabalhando para resolver".
Isso é mentira. Documentos internos vazados provam conhecimento e intenção.
Caso Facebook/Instagram (2021) — Frances Haugen, ex-funcionária do Facebook,
vazou milhares de documentos internos (os "Facebook Files"). Um slide de apresentação interna
dizia textualmente: "We make body image issues worse for 1 in 3 teen girls" (Pioramos
problemas de imagem corporal para 1 em cada 3 garotas adolescentes). A empresa sabia há anos
que Instagram causava depressão/ansiedade em adolescentes, mas decidiu não agir porque
"engagement" (tempo de uso) caíria. Lucro > saúde mental de crianças. Decisão
consciente, documentada.
Caso Zynga (2012) — Emails internos vazados mostraram que designers de
FarmVille/Mafia Wars discutiam abertamente como identificar "whales" (usuários
que gastam mais) e criar recursos para "ordenhar" esses usuários. Expressão literal: "optimize
for whales, not for fun" (otimize para baleias, não para diversão). O produto não era o jogo —
era a extração de valor de jogadores compulsivos.
Caso Cigarette Papers (paralelo histórico) — Nos anos 1990, documentos internos
da indústria do tabaco revelaram que empresas sabiam desde os anos 1960 que cigarros causavam
câncer, mas ocultaram evidências e financiaram pesquisas falsas para criar dúvida científica.
O paralelo com a indústria digital é direto: mesmo padrão de conhecimento corporativo
oculto + negação pública + lobby para evitar regulação. A diferença é que cigarros
levaram 50 anos para serem regulados; algoritmos viciantes foram criados nos anos 2000 e ainda
não temos regulação efetiva. Estamos perdendo décadas por já conhecermos o roteiro.
14.10 Movimentos de Resistência: Do Individual ao Coletivo
Apesar da assimetria de poder (indústrias bilionárias vs usuários atomizados), surgem formas de
resistência que conectam experiência pessoal a luta política coletiva.
Ações Judiciais Coletivas (Class Actions) — Em 2020, pais de crianças que
gastaram milhares de dólares em loot boxes de FIFA processaram a Electronic Arts em
ação coletiva no Canadá, alegando que a empresa violou leis de proteção ao consumidor ao
comercializar jogo de azar para menores. A EA chegou a acordo extrajudicial (US$ 10 milhões),
mas sem admitir culpa. Nos EUA, processos similares contra Apple (por permitir compras in-app
de crianças sem consentimento parental) resultaram em mudanças de política.
Campanhas de Boicote e Pressão — Em 2017, o jogo Star Wars Battlefront
II (EA) lançou com sistema de loot boxes tão predatório que causou revolta
massiva na comunidade gamer. A resposta da EA no Reddit tornou-se o comentário mais
downvotado da história da plataforma (668k downvotes). A pressão pública forçou a EA
a remover temporariamente as loot boxes e redesenhar o sistema de progressão. Vitória
parcial, mas provou que mobilização organizada pode forçar recuo.
Regulação Cidadã: O Caso UK — No Reino Unido, a campanha "Clean Up Gambling"
mobilizou jogadores em recuperação, familiares afetados e acadêmicos para pressionar o Parlamento.
Resultado: em 2020, governo britânico anunciou revisão completa das leis de jogo de azar
(Gambling Act 2005), incluindo proposta de banir propagandas de apostas em uniformes
esportivos e limitar apostas online. Ainda não implementado totalmente, mas mudou o
debate público.
14.11 Alternativas Possíveis: Jogos Éticos e Slow Gaming
Crítica sem proposta é impotente. Precisamos imaginar e construir alternativas
concretas ao design viciante. Elas já existem em formas embrionárias.
Movimento Slow Gaming — Inspirado no Slow Food, o movimento Slow Gaming defende
jogos que respeitam o tempo do jogador. Exemplos: Journey (2012),
experiência contemplativa de 2-3 horas sem mecânicas viciantes; Stardew Valley,
jogo de fazenda sem pressão de tempo ou microtransações; Hollow Knight, jogo
premium sem DLCs fragmentados. Esses jogos provam que é possível ser lucrativo sem ser predatório.
Stardew Valley foi feito por uma pessoa (Eric Barone) e vendeu 20+ milhões de cópias.
Modelos de Financiamento Alternativos — Cooperativas de jogadores financiando
desenvolvimento via crowdfunding (Kickstarter). Modelo de assinatura Netflix-style onde você
paga valor fixo mensal e acessa biblioteca de jogos completos (Xbox Game Pass). Isso elimina
incentivo para criar vício, já que receita não depende de tempo individual jogado mas de
manutenção da assinatura.
Design Ético como Diferencial — Alguns desenvolvedores adotam explicitamente
"anti-dark-patterns". Exemplo: Celeste (jogo de plataforma) inclui modo
"assist" que permite ajustar dificuldade para jogadores com limitações, sem vergonha ou punição.
Hades (roguelike) tem mecânica de progressão que funciona independente
de quantas horas você joga por dia, eliminando FOMO. São escolhas de design que priorizam
bem-estar do jogador sobre maximização de engajamento.
Conclusão: Viciados em Valor
A engenharia do vício, seja nos jogos, nas apostas ou nos cassinos online, é a expressão mais
pura e brutal da lógica do "sujeito automático" do Valor que discutimos no
Capítulo 10. Assim como o Valor, em sua definição marxiana, é um processo abstrato que busca
apenas a sua própria expansão infinita (D-M-D'), indiferente às necessidades humanas, o design
viciante busca criar um loop de compulsão infinito no usuário, indiferente ao seu bem-estar. O
sujeito viciado, preso na repetição incessante da ação na esperança de uma recompensa que nunca
o satisfaz plenamente, é a encarnação humana perfeita do sujeito dominado pela abstração do
Valor. A extração do gozo revela-se como uma nova e poderosa fronteira na incessante busca do
capital por autovalorização.
Mas esta análise não termina em desesperança. Ao compreendermos os mecanismos neurológicos,
históricos, econômicos e sociais do vício digital, armamo-nos para resistir coletivamente.
O vício não é falha moral — é design deliberado que pode ser desfeito por design
deliberado alternativo. As alternativas já existem. Falta vontade política para
regulamentar o predatório e apoiar o ético. A luta continua.
---
🔑 Mini-Glossário do Capítulo
- Caixa de Skinner: Dispositivo experimental do psicólogo B.F. Skinner usado
para estudar condicionamento operante. Tornou-se metáfora para apps/jogos que aplicam reforço
intermitente para criar comportamento compulsivo.
- Dark Patterns (Padrões Sombrios): Elementos de design de interface
deliberadamente criados para enganar ou manipular os usuários a fazerem coisas que não
pretendiam, como comprar ou se inscrever em algo.
- Dessensibilização: Redução dos receptores de dopamina no cérebro após
exposição repetida a estímulos viciantes, exigindo doses cada vez maiores para produzir o
mesmo efeito (tolerância).
- Dopamina: Neurotransmissor associado ao sistema de recompensa cerebral.
Liberado durante antecipação de recompensas, não apenas ao recebê-las.
- Engenharia do Vício: O uso de princípios da psicologia comportamental e do
design de jogos para criar produtos e serviços que incentivam o uso compulsivo e habitual.
- FOMO (Fear of Missing Out): O "medo de ficar de fora", uma ansiedade social
caracterizada pelo desejo de estar continuamente conectado com o que os outros estão fazendo. É
frequentemente explorado por jogos como serviço.
- Gamificação: Aplicação de elementos de design de jogos (pontos, níveis,
recompensas) em contextos não-lúdicos (trabalho, educação, finanças) para modificar comportamento.
- Gozo: Conceito da psicanálise lacaniana que se refere a um tipo de prazer
excessivo, que vai além do simples princípio do prazer e que está ligado à repetição e à pulsão
de morte.
- Jogos como Serviço (GaaS - Games as a Service): Modelo de negócio na indústria
de videogames que busca monetizar os jogos de forma contínua após o lançamento inicial, em vez
de através de uma única compra.
- Loot Box (Caixa de Recompensa): Um item virtual em um videogame que pode ser
resgatado para receber uma seleção aleatória de outros itens virtuais, cuja compra é
frequentemente comparada a um jogo de azar.
- NFT (Non-Fungible Token): Token criptográfico único em blockchain. No contexto
do vício, funciona como loot box descentralizada, especialmente em jogos "play-to-earn".
- Núcleo Accumbens: Região cerebral central do sistema de recompensa. É onde a
dopamina é liberada durante antecipação de recompensas.
- Recompensa Variável Intermitente: Um cronograma de reforço em que uma
recompensa é dada após um número imprevisível de respostas, o que cria um comportamento de
repetição forte e persistente.
- Sensibilização: Aumento da resposta cerebral a pistas associadas ao
comportamento viciante (som de notificação, anúncio de apostas), disparando craving automaticamente.
- Slow Gaming: Movimento que defende jogos que respeitam o tempo do jogador,
sem mecânicas viciantes ou pressão de tempo constante.
- Superstímulo: Estímulo artificial (drogas, jogos, redes sociais) que ativa
o sistema de recompensa com intensidade muito maior que estímulos naturais.
- Whales (Baleias): Termo da indústria para usuários que gastam quantidades
desproporcionais de dinheiro em jogos/apostas. Representam 40-60% da receita de plataformas
predatórias.
💭 Exercícios de Análise
1. Identificando a Engenharia do Vício: Se você joga algum jogo para celular ou
computador (especialmente os "gratuitos para jogar"), tente identificar pelo menos três
mecanismos de design que se encaixam na descrição da engenharia do vício (recompensas diárias,
notificações, eventos por tempo limitado, etc.). Como eles afetam seu desejo de jogar?
2. A Publicidade das Apostas: Assista a um intervalo comercial durante um jogo
de futebol e conte quantas propagandas de plataformas de apostas aparecem. Que mensagem elas
transmitem? Elas vendem a aposta como diversão, investimento, ou uma forma de provar seu
conhecimento sobre o esporte?
3. Debate sobre Regulamentação: As loot boxes devem ser consideradas
jogo de azar e, portanto, proibidas para menores de idade? As plataformas de apostas esportivas
deveriam ter sua publicidade restrita, assim como acontece com o cigarro? Pesquise os argumentos
dos dois lados e formule sua própria opinião.
4. Auditoria Digital Pessoal: Instale um app de rastreamento de tempo de tela
(Screen Time no iOS, Digital Wellbeing no Android). Durante uma semana, monitore quanto tempo
você passa em apps de redes sociais, jogos ou qualquer app "viciante". Compare com estimativas
que você tinha antes de medir. A realidade surpreendeu você?
5. Análise de Dark Patterns: Entre em um app de apostas (sem depositar dinheiro)
e identifique: (a) quantos cliques são necessários para depositar vs sacar dinheiro, (b) que
cores/sons são usados em vitórias vs derrotas, (c) quanto tempo demora para processar um saque
vs um depósito. Documente as assimetrias deliberadas.
6. Experimento de Dopamina Digital: Tente passar 24 horas sem checar redes
sociais/jogos. Observe e anote os momentos de craving (vontade compulsiva): quando
ocorrem, o que os dispara, quanto tempo duram. Isso te ajuda a identificar seus gatilhos
pessoais.
7. Análise de Caso: Axie Infinity — Pesquise a ascensão e queda do jogo
"play-to-earn" Axie Infinity (2021-2022). Por que filipinos precarizados gastavam 10h/dia
jogando? O que aconteceu quando o token colapsou? Debata: era trabalho, jogo, ou esquema
Ponzi gamificado?
8. Comparação Histórica: Leia sobre as Guerras do Ópio (1839-1860) onde o
Império Britânico viciou a China em ópio para criar mercado. Compare com a tese chinesa atual
de que videogames são "ópio espiritual". A metáfora é justa? Existem diferenças importantes?
🔗 Conexões com Outros Capítulos
🔄 Fundamentos Teóricos Retomados
Cap 3 (Vigilância Digital): Enquanto Cap 3
mostrou como plataformas capturam nossos dados de navegação e consumo, este
capítulo revela a captura das emoções primárias — esperança,
desespero, compulsão. O "excedente comportamental" aqui não é mais passivo
(cliques, likes), mas ativamente induzido através de design predatório.
Vigilância não só observa — ela cria o próprio comportamento que monetiza.
Cap 8 (Trabalho Imaterial): O conceito de
gerenciamento algorítmico que vimos controlando entregadores do
iFood aparece aqui na forma da Caixa de Skinner — algoritmos que
condicionam comportamento via reforço intermitente. Diferença crucial: no
trabalho, você obedece o algoritmo para ganhar salário; no jogo/aposta,
você obedece o algoritmo para perder dinheiro. Mesma técnica, inversão
perversa.
Cap 10 (Wertkritik): Este capítulo é a
ilustração mais clara do Sujeito Automático do Valor. O viciado
em apostas/jogos preso no loop de compulsão (apostar → perder → apostar de novo)
é a encarnação perfeita do Valor como processo abstrato que só busca sua própria
reprodução (D-M-D'), totalmente indiferente às necessidades humanas. A
finalidade sem fim do Valor encontra sua metáfora ideal no giro
infinito da roleta.
🔍 Manifestações Concretas
Cap 13 (Sexualidade/Religião): Enquanto
Cap 13 mostrou plataformização de desejo (Tinder) e fé
(igrejas digitais), este capítulo revela plataformização do
gozo — prazer excessivo, repetitivo, mortífero. Se Tinder
transforma encontro em swipe, aqui o jogo transforma risco em
spin. Padrão comum: gamificação da vida íntima,
redução de experiências complexas a loops de clique-recompensa.
Cap 15 (Esportes/Esports): A explosão das
apostas esportivas (Bets) transforma a paixão do torcedor que
vimos no Cap 15 em matéria-prima para extração. O torcedor não é mais só
"produtor de engajamento" (comentar/compartilhar) — agora é apostador
compulsivo. O corpo-atleta datificado do Cap 15 gera os dados que
alimentam os algoritmos de apostas. Esporte vira casino.
Cap 22 (Necropolítica): Vício em apostas
não é "problema individual" — tem classe, raça, território. A "epidemia das Bets
no Brasil" (2023-24) ataca principalmente jovens negros da
periferia, trabalhadores precarizados com salário R$ 1.400/mês
perdendo tudo em dias. É necropolítica via algoritmo: deixar morrer por
endividamento/suicídio, extraindo lucro até o último centavo. Casa de apostas =
nova agiotagem digital.
⚖️ Conexão com Políticas e Resistências
Cap 24 (Políticas): Este capítulo
fundamenta 3 políticas urgentes que veremos no Cap 24:
- Proibir loot boxes para menores — classificar como
jogo de azar, não "entretenimento"
- Banir publicidade de apostas — modelo do cigarro (proibir
patrocínio de clubes, anúncios em TV/redes)
- Taxar empresas de Bets a 50%+ — não 18% (ridículo), mas
taxação punitiva que reconhece dano social
Argumento central: vício não é falha moral individual, mas design
deliberado. Não culpar viciados, mas criminalizar engenharia de
vício. Empresas sabem exatamente o que fazem (B.F. Skinner está nos seus manuais
de UX design).
🔬 Face de CONTROLE da Cibernética
Cap 6 (Cibernética 2ª Ordem): Engenharia do
vício é cibernética de 1ª ordem aplicada ao cérebro humano:
- Feedback negativo perverso: Algoritmo detecta quando você
está perdendo → ajusta recompensas para criar "quase-ganhar" → te mantém no
loop
- Homeostase do vício: Sistema busca manter você em "estado
ideal" de compulsão (nem desistindo, nem ganhando demais)
- Redução de variedade: Sua vida se reduz ao loop
apostar-perder-apostar (eliminação de outras possibilidades)
Cap 23 (Dupla Face): Este capítulo é o
ápice da face de CONTROLE que sintetizaremos no Cap 23. Não é
mais controle sobre seu trabalho (Cap 8) ou sobre sua atenção
(Cap 3) — é controle sobre seu sistema de recompensa neurológico.
Hacking do cérebro via dopamina. É o controle no nível mais
íntimo — colonização da subjetividade pelo Valor.
💀 Mensagem-Chave: Engenharia do vício revela a face mais brutal do
capitalismo de plataforma — não basta mais extrair trabalho ou dados, agora
extrai-se o gozo (prazer mortífero, compulsão). O algoritmo não quer te
vender um produto, quer te transformar em máquina de apostas, loop
infinito de perda. É necropolítica disfarçada de entretenimento: deixar morrer
por endividamento enquanto lucra com cada centavo perdido.
⚠️ Aviso Pedagógico: Este capítulo é incômodo de propósito. Se você
sentiu raiva lendo sobre Bets/cassinos online, bom — significa que você
entendeu. A análise materialista não é neutra: ela toma lado. Nosso lado é contra a
extração de valor via design de vício, especialmente quando ataca os mais
precarizados. Capitalismo de plataforma aqui não é "inovação" — é predação
algorítmica.
📚 Leituras Complementares
Nível Introdutório:
- Eyal, N. (2014). Hooked: How to Build Habit-Forming Products. (Manual da indústria
sobre como criar vício. Ler criticamente para entender as técnicas.)
- Alter, A. (2017). Irresistible: The Rise of Addictive Technology and the Business of
Keeping Us Hooked. (Jornalismo investigativo acessível sobre design viciante.)
Nível Intermediário:
- Schüll, N. D. (2012). Addiction by Design: Machine Gambling in Las Vegas. (Etnografia
fascinante que mostra como as máquinas caça-níqueis são projetadas para manter os jogadores em
um estado de transe compulsivo. Leitura essencial para entender genealogia do design viciante.)
- Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism. (Embora não foque em jogos, o
livro é fundamental para entender como o modelo de negócio de extração de dados e modificação de
comportamento se tornou dominante.)
- Crary, J. (2013). 24/7: Late Capitalism and the Ends of Sleep. (Análise filosófica
sobre como capitalismo contemporâneo busca eliminar o sono como última barreira à produtividade
e consumo. Aplica-se diretamente a trading de cripto 24/7.)
- Fogg, B.J. (2003). Persuasive Technology: Using Computers to Change What We Think and
Do. (Texto fundador do campo. Ler criticamente — é manual de manipulação disfarçado de
pesquisa acadêmica.)
Nível Avançado:
- Skinner, B. F. (1953). Science and Human Behavior. (O trabalho clássico do
behaviorismo que estabelece os princípios do condicionamento operante e da recompensa variável.
Fundamento teórico de todo design viciante.)
- Deleuze, G. (1992). "Postscript on the Societies of Control". (Ensaio curto mas extremamente
influente que descreve a transição de uma sociedade disciplinar para uma sociedade de controle,
onde o poder opera de forma mais fluida e contínua. Conceito essencial para entender a engenharia
do vício.)
- Schultz, W. (2015). "Neuronal Reward and Decision Signals: From Theories to Data".
Physiological Reviews, 95(3). (Artigo científico que explica a base neurológica do
sistema de recompensa e antecipação de dopamina.)
- Haugen, F. (2021). The Facebook Files (documentos vazados). Disponível em vários
repositórios jornalísticos. (Evidência documental de que empresas sabem dos danos e escolhem
lucro.)
Documentários:
- The Social Dilemma (Netflix, 2020) — Ex-funcionários do Vale do Silício explicam
design viciante de redes sociais.
- Chasing the Dragon: The Life of an Opiate Addict (2016) — Comparação útil entre
vício químico e comportamental.
Recursos de Resistência/Recuperação:
- r/problemgambling (Reddit) — Comunidade de apoio mútuo para jogadores compulsivos.
- Gamblers Anonymous (gamblersanonymous.org)
— Programa de 12 Passos para vício em jogos.
- BeGambleAware (UK) — Informação
e apoio sobre jogo responsável e recuperação.

Capítulo 15
Capítulo 15: O Corpo-Atleta na Arena Digital: A Plataformização dos Esportes e Esports
Introdução: A Última Arena Livre?
O esporte ocupa um lugar quase mítico na sociedade moderna. É frequentemente visto como a "última
arena livre", um espaço de competição pura e meritocrática onde o talento e a dedicação
triunfam. No entanto, essa noção romântica sempre escondeu uma realidade: o esporte é, e sempre
foi, um negócio. O que testemunhamos hoje, com a ascensão do capitalismo de plataforma, não é a
invenção da mercantilização do esporte, mas sua intensificação radical. A lógica da plataforma
busca agora capturar, analisar e monetizar cada aspecto da prática e do consumo esportivo, desde
a contração muscular do atleta até a paixão do torcedor.
Este capítulo analisa como a plataformização está reconfigurando o esporte em três dimensões
principais. Primeiro, a datificação do corpo-atleta no esporte tradicional,
onde a biometria e a análise estatística transformam o corpo em um conjunto de variáveis a serem
otimizadas. Segundo, o surgimento do ciber-atleta como um novo tipo de
trabalhador precário na indústria multibilionária dos esports. E terceiro, a
transformação do torcedor em produtor de valor através da economia do
engajamento. A arena, seja ela um campo de grama ou um servidor de jogo, está se tornando um
laboratório para novas formas de controle, trabalho e extração de valor.
15.1 A Datificação do Corpo-Atleta: O Fim da Intuição
O processo de racionalização e quantificação no esporte não é novo — basta pensar na obsessão do
baseball por estatísticas, que culminou no fenômeno "Moneyball". O que é novo é a escala, a
profundidade e a granularidade da coleta de dados. A disseminação de tecnologias
vestíveis (wearables), sensores em equipamentos e sistemas de rastreamento
por vídeo permite a coleta de uma quantidade massiva de dados biométricos em tempo real:
frequência cardíaca, velocidade, distância percorrida, níveis de fadiga, padrões de sono e até
mesmo dados sobre a dieta do atleta fora do campo de jogo.
O corpo do atleta se torna, assim, um fluxo de dados, um "atleta quantificado" a
ser constantemente monitorado e otimizado. A intuição e a experiência do técnico, antes centrais
para o treinamento e a tática, são cada vez mais substituídas pela análise de dados. A decisão
de substituir um jogador ou mudar uma tática não é mais apenas uma questão de "sentir o jogo",
mas de consultar os dados que indicam uma queda no desempenho físico. Isso leva a uma
tirania da métrica, onde o atleta é submetido a uma vigilância total e a uma
pressão por performance constante. O que não pode ser medido, ou o jogador que não se encaixa
nos modelos preditivos, corre o risco de ser descartado.
15.1.1 O Panóptico do Esporte: Vigilância Total do Corpo
A datificação do atleta não é meramente técnica — é fundamentalmente uma tecnologia de
poder disciplinar. Se Foucault analisou o panóptico como arquitetura de vigilância
onde o prisioneiro internaliza o olhar do guarda, o wearable esportivo é seu sucessor
cibernético: o atleta carrega o supervisor no próprio corpo. Não há escapatória: cada batimento
cardíaco, cada metro percorrido, cada hora de sono é registrado, comparado com benchmarks e
convertido em gráficos que determinam seu valor de mercado.
Empresas como StatSports, Catapult e Zebra Technologies
dominam este mercado bilionário. Seus dispositivos GPS vestíveis (usados por 80%+ dos clubes de
futebol das ligas europeias) medem não apenas distância e velocidade, mas também:
- Carga metabólica: Quanto o corpo está sendo exigido em tempo real
- Assimetrias de movimento: Predição de lesões antes dos sintomas clínicos
- Zonas de aceleração: Eficiência energética do movimento
- Heart Rate Variability (HRV): Indicador de estresse e fadiga acumulada
O resultado é um mercado de corpos datificados. No futebol europeu, transferências
milionárias agora exigem acesso aos dados históricos completos do jogador — não apenas vídeos de
partidas, mas seus logs biométricos brutos. Um atleta que se recusa a compartilhar seus
dados perde valor de mercado automaticamente. A transparência corporal se torna precondição para
empregabilidade.
15.1.2 IA Tática: A Morte do Técnico Humano?
Se os dados quantificam o corpo, os algoritmos de IA agora decidem a tática.
Sistemas como InStat, Wyscout e Stats Perform
(antigo Opta) não apenas coletam estatísticas — eles recomendam substituições, formações e
estratégias em tempo real durante a partida.
O Liverpool FC, sob gestão de Jürgen Klopp, usa o sistema Throw-In Analysis
alimentado por IA que identificou padrões imperceptíveis ao olho humano: jogadores específicos têm
probabilidade 23% maior de recuperar a bola em laterais para determinadas zonas do campo. Esta
"vantagem marginal" — acumulada ao longo de 50+ laterais por jogo — se traduz em títulos. O técnico
não mais "sente" o jogo; ele obedece ao modelo.
Mas há um custo epistêmico. Modelos preditivos são treinados em dados históricos — eles
não podem prever genialidade, apenas otimizar padrões conhecidos. O drible improvável
de Messi, a jogada impossível de Maradona — estes momentos que definem o esporte — são
anomalias estatísticas descartadas pelo algoritmo. A IA não vê genialidade; vê ruído.
O esporte algoritmicamente otimizado tende ao jogo médio perfeito — tecnicamente
impecável e emocionalmente vazio.
⚾
Moneyball e a Origem da Datificação
O livro Moneyball:
The Art of Winning an Unfair Game (2003), de Michael Lewis, conta a história de
Billy Beane, gerente-geral do Oakland Athletics, um time de beisebol com orçamento
limitado. Beane revolucionou o esporte ao usar análise estatística avançada
(sabermetrics) para identificar jogadores subvalorizados pelo mercado. Em vez de confiar
na intuição de olheiros, ele usou dados para encontrar valor onde outros não viam. O
sucesso do Oakland Athletics popularizou a "revolução dos dados" no esporte, que
rapidamente se espalhou para futebol, basquete e outras modalidades. Hoje, times de
elite usam câmeras de rastreamento, sensores vestíveis e inteligência artificial para
monitorar cada movimento dos atletas. O "Moneyball" é um marco na
datificação — a transformação de aspectos da vida (neste caso, o
desempenho atlético) em dados quantificáveis que podem ser analisados, otimizados e
monetizados. O que começou como uma vantagem competitiva se tornou a norma, e o esporte
se transformou em um laboratório de vigilância e controle algorítmico.
Além da performance, esses dados têm um valor econômico direto. Eles são vendidos para empresas
de apostas, que os utilizam para criar mercados de apostas mais precisos e complexos ("quantos
quilômetros o jogador X vai correr no primeiro tempo?"). São usados por desenvolvedores de jogos
(como a série FIFA) para tornar suas simulações mais realistas. E são usados pelos departamentos
de marketing para criar novas narrativas e engajar os fãs. O corpo do atleta, em sua dimensão
mais íntima e biológica, é transformado em uma mercadoria informacional, um ativo a ser
explorado por múltiplos atores no ecossistema esportivo digital.
15.1.3 Mercadificação Biométrica: O Corpo como Ativo Financeiro
A datificação não serve apenas à performance — ela cria novos mercados financeiros
baseados no corpo como ativo. Considere a empresa Sorare, plataforma de
fantasy football baseada em NFTs (tokens não-fungíveis) que movimentou US$ 4 bilhões
em 2023. Você não "torce" passivamente — você investe em cartas digitais de jogadores
reais cujo valor flutua segundo seu desempenho estatístico semanal. A cada gol, assistência ou
defesa, o "ativo-Mbappé" ou "ativo-Haaland" se valoriza. O atleta se torna um
título financeiro especulável 24/7.
Ainda mais radical: plataformas de "tokenização de atletas" como
Liqi (Brasil) e Mintable (global) permitem investidores
comprarem "frações" da carreira de jovens atletas. Funciona como crowdfunding, mas com retorno
atrelado aos ganhos futuros do jogador. Um adolescente de 16 anos na base do Flamengo pode
vender 10% de seus direitos econômicos futuros para 1000 "co-proprietários" via blockchain.
Se virar estrela, todos lucram. Se não, perdem o investimento. O atleta, desde a infância,
é tratado como startup de performance corporal.
Este modelo reproduz e intensifica a mercadificação racial do esporte. Jovens
negros e periféricos, sem capital inicial, são os principais "produtos" dessas plataformas —
sua única via de mobilidade social é vender o próprio futuro corporal. Enquanto isso, filhos
de classe média seguem carreira sem precisar hipotecar o corpo. A datificação não elimina
desigualdades estruturais; ela as codifica em contratos inteligentes na blockchain.
15.1.4 Biohacking Atlético: A Corrida Farmacológica Digital
Se dados medem performance, a próxima fronteira é hackear biologicamente o corpo
para otimizar métricas. Entra o biohacking atlético — uso de suplementação
avançada, terapias genéticas experimentais, estimulação cerebral não-invasiva (tDCS) e até
edição genética CRISPR para aumentar capacidades físicas.
Atletas de elite já usam câmaras hiperbáricas (aumento de oxigenação),
crioterapia (redução de inflamação) e peptídeos bioativos
(síntese proteica acelerada) — todos legais, mas acessíveis apenas aos 0,1% top. O gap entre
atleta com acesso a biotecnologia de ponta e atleta "comum" não é mais apenas de talento ou
treino — é de acesso a tecnologias corporais. Estamos criando uma
aristocracia bioquímica no esporte.
O caso limite é a China, onde programas estatais de detecção precoce de talentos
usam IA para escanear DNA de milhões de crianças identificando "genes de elite atlética"
(polimorfismos ACTN3, ACE, etc.). Crianças geneticamente "sortudas" são recrutadas aos 6-8 anos
para centros de treinamento estatal. Foucault chamaria de biopolítica à máxima potência
— o Estado não apenas disciplina corpos, mas os seleciona geneticamente para fins
produtivos (medalhas olímpicas = soft power geopolítico).
Pergunta inevitável: quando a edição genética germinal (modificar embriões) for tecnicamente
segura e legalmente permitida em algum país, quanto tempo até "atletas geneticamente projetados"?
O esporte se tornaria competição entre laboratórios biotecnológicos, não entre
seres humanos. A fronteira entre atleta e cyborg desapareceria — e com ela, qualquer resquício
da ideia de "competição justa".
15.2 O Surgimento do Ciber-Atleta: Trabalho e Precarização nos Esports
Se no esporte tradicional a tecnologia é usada para analisar o corpo, nos
esports (esportes eletrônicos), a tecnologia é o próprio campo de
jogo. A ascensão dos esports de um nicho de lan houses para uma indústria global que movimenta
bilhões de dólares e atrai audiências maiores que as de muitos esportes tradicionais é um dos
fenômenos mais marcantes da cultura digital. E no centro desse fenômeno está a figura do
ciber-atleta ou pro-gamer, um novo tipo de trabalhador imaterial.
O trabalho do pro-gamer consiste na habilidade cognitiva, no tempo de reação, na comunicação em
equipe e em um conhecimento profundo e quase intuitivo das mecânicas do jogo. Por trás da imagem
glamourosa de competir em arenas lotadas, a realidade do trabalho nos esports é brutal. A rotina
de treinamento é exaustiva, frequentemente excedendo 10 a 14 horas por dia, o que leva a uma
alta incidência de lesões por esforço repetitivo (LER), problemas de visão e, principalmente,
burnout. As carreiras são extremamente curtas, com muitos jogadores se
aposentando antes dos 25 anos, e a instabilidade financeira é a norma para a grande maioria que
não atinge o topo.
🎯
A Rotina de um Pro-Gamer
A vida de um jogador
profissional de esports de elite é radicalmente diferente da imagem romântica do "gamer"
casual. Jogadores de times top de League of Legends, Counter-Strike ou
Dota 2 seguem rotinas de treinamento que se assemelham às de atletas olímpicos.
A jornada típica inclui: 10-14 horas de prática diária, divididas entre treino
individual (mecânica, reflexos), scrims (partidas de treino contra outros times) e
análise de replays. Muitos vivem em "gaming houses", onde toda a vida é organizada em
torno do jogo: refeições balanceadas preparadas por nutricionistas, sessões de
fisioterapia para prevenir lesões por esforço repetitivo, acompanhamento psicológico
para lidar com pressão e burnout. O corpo é monitorado: tempo de sono, tempo de tela,
saúde ocular. A carreira é curta — poucos jogam em alto nível após os 25 anos, devido ao
declínio dos reflexos. A pressão é imensa: contratos milionários, mas também a
possibilidade de ser "cortado" do time a qualquer momento se o desempenho cair. É a
taylorização do lazer: o jogo se torna trabalho alienado, cronometrado e otimizado até o
limite da exaustão.
15.2.1 Esports como Experimento Neoliberal
Esports cristalizam a fantasia neoliberal perfeita: milhões de jovens competindo
globalmente em "meritocracia pura" onde "só o melhor vence". Mas por trás da retórica,
encontramos todas as patologias do capitalismo digital concentradas:
- Pirâmide extrema: 99% dos aspirantes nunca ganham salário mínimo. Os 0,01%
do topo (Faker, s1mple, N0tail) faturam milhões; a base subsiste com stream de 5 espectadores.
- Ausência de direitos trabalhistas: Contratos de pro-gamers raramente garantem
salário-mínimo, férias ou seguro-saúde. Você é "contratado" mas tecnicamente "autônomo"
(mesma tática do Uber).
- Exploração juvenil: Carreira começa aos 14-16 anos (antes da maioridade).
Crianças assinam contratos sem representação legal adequada, trancam escolarização para treinar.
- Descartabilidade: Média de permanência em time top = 1,5 anos. Após "aposentadoria"
aos 24 anos, sem qualificação profissional alternativa.
O sociólogo Jamie Woodcock (autor de Marx at the Arcade) argumenta que
esports representam "gamificação do trabalho alienado" — você trabalha até o
colapso, mas sente que está "jogando". A linha entre lazer e trabalho desaparece completamente.
É o sonho do capital: autoexploração voluntária travestida de paixão.
15.2.2 Propriedade Privada do Jogo: A Jaula de Ouro
Mais fundamentalmente, o ciber-atleta está em uma posição de extrema dependência. Seu "campo de
jogo" — o próprio software do jogo — é propriedade privada de uma empresa (como a Riot Games
para League of Legends ou a Valve para Counter-Strike). A empresa pode alterar as regras do jogo
a qualquer momento através de atualizações, tornando obsoletas as habilidades que um jogador
passou anos desenvolvendo.
Este arranjo cria uma relação de vassalagem digital sem precedente. Imagine se
a FIFA (entidade) possuísse não apenas o campeonato de futebol, mas o próprio
conceito de futebol — as regras, a bola, o campo — e pudesse mudá-los unilateralmente.
Seria impensável. Mas em esports, é a norma.
Exemplos concretos de poder arbitrário:
- Patch 7.21 de League of Legends (2017): Nerfs (enfraquecimentos) dramáticos
em campeões específicos tornaram jogadores especializados neles obsoletos overnight. Carreiras
destruídas por decisão unilateral de designer de jogo.
- Banimento de jogadores "tóxicos": Riot e Valve podem banir pro-gamers
permanentemente por "conduta inadequada" (critério subjetivo). Sem recurso judicial —
você não tem "direito ao jogo", apenas licença revogável.
- Controle de narrativa: Riot proibiu times de se patrocinarem com rivais
(ex: não pode ter Coca-Cola se Pepsi patrocina a liga). Empresa controla não só jogo,
mas economia ao redor.
A comunidade de Counter-Strike tentou resistir via mods (modificações
comunitárias), mas Valve respondeu com VAC (Valve Anti-Cheat) que detecta e
bane qualquer alteração no código do jogo — incluindo mods estéticos inofensivos.
Mensagem clara: não toque em nossa propriedade intelectual. O jogo é nosso,
você apenas aluga o direito de trabalhar nele.
15.2.3 O Pro-Gamer como Micro-Influencer: Dupla Exploração
Além disso, a principal fonte de renda para muitos jogadores e
equipes não vem dos prêmios, mas da produção de conteúdo em plataformas como Twitch e YouTube. O
pro-gamer não é apenas um atleta; ele é um streamer, um influenciador, um trabalhador da
"fábrica de cliques", sujeito aos caprichos dos algoritmos e à pressão constante de manter sua
audiência engajada. A plataforma, seja a do jogo ou a de streaming, é o verdadeiro patrão.
Esta dupla exploração é estrutural:
- Exploração 1 (Desenvolvedora do jogo): Riot/Valve/Blizzard extraem valor
do trabalho de jogar (skill virou conteúdo assistível → audiência → venda de skins/passes
no jogo).
- Exploração 2 (Plataforma de streaming): Twitch/YouTube ficam com 50% da
receita de assinaturas + 100% dos dados de audiência (vendidos para anunciantes). Pro-gamer
trabalha, plataforma lucra.
Resultado: você trabalha para três patrões simultaneamente (time esportivo +
desenvolvedora + plataforma) mas tem contrato formal com zero. É a uberização do lazer:
todas as responsabilidades (equipamento, internet, saúde mental), nenhum direito.
Tyler "Ninja" Blevins, streamer mais famoso de Fortnite (30+ milhões de seguidores), resume a
precarização: "Eu não tirei férias em 3 anos. Se você para de streamer um dia, o algoritmo
te pune. Seus viewers vão para outro canal. É trabalhar 365 dias ou desaparecer."
Autoexploração absoluta — e celebrada como "hustle culture".
15.3 O Torcedor-Produtor: A Economia do Engajamento
A plataformização do esporte não se limita aos atletas. Ela também transforma radicalmente a
figura do torcedor. O torcedor, antes visto como um mero consumidor de produtos (ingressos,
camisas, pay-per-view), é agora ativamente incorporado na cadeia de produção de valor como um
torcedor-produtor.
15.3.1 Trabalho Afetivo Não-Remunerado: Você Trabalha Quando Torce
O engajamento é a nova palavra de ordem. Comentar sobre o jogo nas redes
sociais, participar de enquetes, escalar seu time no fantasy league, discutir com
torcedores rivais — todas essas atividades, que os torcedores realizam por paixão, geram dados e
conteúdo que são monetizados pelos clubes, ligas e plataformas de mídia. O tempo e a energia
emocional do torcedor são transformados em trabalho não-pago que alimenta o ecossistema do
esporte digital.
Considere a economia invisível da torcida:
- Criar meme do gol: Você trabalha como designer gráfico gratuito. Conteúdo
viraliza, clube/liga lucra com visibilidade (valoriza patrocínios), você recebe zero.
- Debater táticas no Reddit/Twitter: Produz análise qualitativa (trabalho
intelectual) que plataforma monetiza via ads. Você gera "tempo de atenção" = matéria-prima
do capitalismo digital.
- Assistir stream de pré-jogo: Seu olhar é mercadoria vendida para anunciantes.
Cada segundo assistido = fração de centavo para plataforma, zero para você.
- Votar em "Melhor Jogador da Partida": Produz dados de sentimento (pesquisa
de mercado gratuita) usados por clubes para decisões de marketing/contratação.
O teórico Mark Andrejevic (Automating the Crowd) cunhou o termo
"trabalho digital não-remunerado" para descrever exatamente isso: atividades
que sentimos como lazer, mas estruturalmente são trabalho produtivo capturado por
plataformas. A paixão pelo time vira combustível grátis para máquina de lucro.
Há uma perversidade adicional: quanto mais você "ama" seu time, mais você trabalha.
Torcedor fanático = trabalhador ideal (trabalha 24/7 sem salário, motivado por afeto). É a
subsunção total da vida — até sentimentos viram fonte de extração de valor.
15.3.2 Fantasy Sports: Gamificação do Trabalho Analítico
As apostas esportivas e os fantasy sports também se encaixam nessa lógica. Eles
incentivam o torcedor a estudar estatísticas, analisar performances e, essencialmente, realizar
um trabalho de análise e especulação. O torcedor se torna um "gerente" ou um "investidor"
amador, cujo trabalho, no final, gera lucro para as plataformas que organizam esses mercados de
paixão e probabilidade.
Plataformas como Cartola FC (Brasil), FanDuel e
DraftKings (EUA) transformaram fantasy sports em indústria de
US$ 20+ bilhões/ano. Mecânica: você escala time virtual com "orçamento" limitado, ganha pontos
segundo performance real de jogadores, compete em ligas com milhares de participantes. Parece
jogo inocente. Mas analise a estrutura:
- Você trabalha como analista de dados: Para vencer, precisa estudar dezenas
de variáveis — histórico de confrontos, lesões, clima, esquema tático. É trabalho de
scout profissional, feito por amor/competição.
- Plataforma captura seu conhecimento: Suas escolhas (milhões de usuários
escolhendo) geram dataset massivo sobre "valor percebido" de cada jogador. DraftKings vende
esses dados agregados para casas de apostas, que ajustam odds em tempo real.
- Modelo freemium viciante: Versão "grátis" te treina, versão paga
(daily fantasy com prêmios reais) converte você em apostador. Cap 14 explicou mecânica do vício
— fantasy sports aplicam 100%: recompensas variáveis, FOMO (se não jogar hoje, perde),
near-misses ("quase ganhei").
Resultado: você paga (taxa de entrada) para trabalhar (análise estatística) gerando lucro
(dados vendidos) para plataforma. É o capitalismo de plataforma em sua forma mais pura
— extração tripla (dinheiro + trabalho + dados) mascarada como entretenimento.
15.3.3 Fan Tokens: Financeirização da Paixão
A mais nova fronteira dessa lógica são os fan tokens. Plataformas como
a Socios.com vendem criptoativos que supostamente dão aos torcedores o direito de participar de
pequenas decisões do clube (como a música que tocará no estádio ou a mensagem no ônibus da
equipe). Na prática, esses tokens são uma forma de monetizar o sentimento de pertencimento,
vendendo aos torcedores uma ilusão de participação. O modelo de negócio principal, no entanto, é
a especulação com o valor desses tokens, criando um mercado volátil que tem pouco a ver com o
desempenho do time em campo e muito a ver com a lógica financeira dos criptoativos.
Vamos dissecar o modelo Socios.com (usada por 150+ clubes, incluindo Barcelona,
Juventus, PSG, Corinthians, Flamengo):
- Compra token do clube (ex: $BARC, $FLA): Preço inicial ~$2, flutua segundo
"oferta/demanda". Você acha que está "investindo" no clube. Na real, está especulando.
- "Benefícios" oferecidos: Votar em enquete ("qual camisa de treino usaremos?"),
mensagem no telão, chance de conhecer jogador (sorteio entre 10.000+ detentores). São
migalhas simbólicas — nenhuma decisão substantiva (contratações, técnico, finanças).
- Modelo especulativo: 70%+ dos compradores não são torcedores, são
day traders de cripto. Compram $FLA quando time ganha jogo importante (preço sobe),
vendem quando perde. Token vira ativo financeiro descolado do futebol.
- Clube lucra sempre: Socios.com dá ao clube €2-5 milhões upfront + royalties
de cada transação (3-5%). Clube não se importa se token vai a zero — já embolsou dinheiro
garantido.
Crítica central: fan tokens financeirizam o afeto. Transformam pertencimento
(relação comunitária, identitária) em ativo especulável. Torcedor vira shareholder,
mas sem direitos reais de acionista — só volatilidade e risco. É mercadificação da paixão
sem contrapartida democrática.
Casos extremos: em 2021, preço do $BAR (Barcelona) despencou 40% em 24h após
Messi sair para PSG. Milhares de torcedores perderam dinheiro real em segundos — não porque
"investiram mal", mas porque amor ao clube foi transformado em derivativo financeiro.
A promessa de "democratização" via blockchain revelou-se novo vetor de extração.
15.3.4 Apostas Esportivas: A Uberização Final da Torcida
A explosão das casas de apostas online (Bet365, Betano, Sportingbet no Brasil)
completa a transformação do torcedor em micro-empresário de sua própria paixão. Lógica: você não
só assiste o jogo passivamente, você investe nele — e supostamente ganha
dinheiro com seu "conhecimento superior" do esporte.
Mas a realidade estatística é brutal: 98% dos apostadores perdem dinheiro a longo prazo.
As odds são matematicamente desfavoráveis (margem da casa = 5-10%), e algoritmos de IA das
casas de apostas ajustam probabilidades em tempo real com acesso a dados que você nunca terá.
Você joga contra supercomputadores, achando que está usando "intuição de torcedor".
Pior: apostas ao vivo durante a partida (in-play betting) criam ciclo viciante idêntico
ao descrito no Cap 14.
A cada lance, você pode apostar — escanteio, cartão amarelo, substituição. É slot machine
disfarçada de esporte. Dopamina dispara a cada aposta, independente de ganhar/perder.
Resultado: epidemia de vício em apostas esportivas (Brasil: 15-20% dos apostadores desenvolvem
transtorno).
Conexão com trabalho plataformizado: apostador compulsivo = torcedor que trabalha 24/7 (estuda
estatísticas, assiste todo jogo, monitora mercado) transferindo renda para plataforma de apostas.
É autoexploração travestida de lazer — você paga para trabalhar, perde dinheiro
no processo, e plataforma lucra sempre (independente de você ganhar ou perder apostas individuais).
15.4 Esporte e Necropolítica: Racismo Algorítmico na Arena
A plataformização do esporte não é neutra — ela codifica e amplifica desigualdades raciais
e de classe existentes. O conceito de necropolítica (Achille Mbembe),
explorado no Cap 22,
se aplica diretamente: certos corpos são valorizados como ativos rentáveis, outros como descartáveis.
15.4.1 O Corpo Negro como Commodity: Da Senzala ao Estádio
No futebol brasileiro, 70%+ dos jogadores profissionais são negros, mas apenas
4% dos técnicos e <1% dos dirigentes o são. A datificação intensifica esta estrutura: corpos
negros são mensurados, otimizados e descartados; mentes brancas (técnicos, analistas,
diretores) controlam os dados.
A mercadificação internacional reproduz colonialismo: clubes europeus (Real Madrid, Bayern,
Manchester City) mantêm "fazendas de talentos" em África e América Latina.
Recrutam meninos de 12-14 anos, levam para centros de treinamento, datificam performance,
selecionam os 0,1% "elite" para Europa, descartam os 99,9% restantes — que ficam sem educação
formal, sem carreira alternativa, descartados aos 18 anos. É extrativismo de corpos.
Caso emblemático: FC Barcelona (e outros clubes top) têm "academias" na Costa
do Marfim, Senegal, Brasil. Promessa: "vire a próxima estrela na Europa". Realidade: taxa de
sucesso ~0,1%. O resto vira "refugo humano" — jovens sem escolaridade, sem profissão, com corpo
hiper-treinado inútil fora do futebol. Mbembe chamaria de produção de vida nua
— vidas reduzidas a potencial atlético, descartadas quando não rentáveis.
15.4.2 Viés Algorítmico no Scouting: IA Racista
Sistemas de IA para detecção de talentos (usados por 60%+ dos clubes europeus
top) reproduzem vieses raciais históricos. Algoritmos treinados em dados de scouts humanos (que
têm preconceitos inconscientes) codificam racismo em código.
Estudo da ProPublica (2023) analisou plataformas como InStat e
TransferMarkt: para mesma performance estatística (gols, assistências, passes
certos), jogadores brancos europeus recebem avaliação média 15% superior a
jogadores negros africanos/latino-americanos. IA aprendeu que "jogador europeu = mais confiável",
perpetuando geopolítica colonial.
Outro viés: IA supervaloriza atributos físicos (velocidade, força) em jogadores
negros, subvaloriza atributos cognitivos (visão de jogo, inteligência tática).
Reproduz estereótipo racista centenário: negro = corpo atlético sem mente. Resultado: jogadores
negros são direcionados para posições "físicas" (zagueiro, volante), sub-representados em
posições "criativas" (meia-armador, técnico).
15.4.3 Casos Brasileiros: Do Futebol de Várzea à Arena Corporativa
No Brasil, futebol sempre foi válvula de mobilidade social para jovens negros
periféricos. Mas plataformização fecha esse canal:
- Datificação exclui pobres: Clubes só recrutam jovens com dados completos
(performance em categorias de base registradas, wearables, exames médicos). Jovem de várzea,
sem clube formal dos 8-14 anos, vira invisível para algoritmos. Talento puro não
basta — precisa estar datificado.
- Academias privatizadas: Clubes terceirizam formação para empresas
(ex: Red Bull Brasil). Família paga mensalidade cara (R$ 500-1500/mês) para filho entrar
em "pipeline" datificado. Pobres não entram.
- Apostas destroem torcedores periféricos: Casas de apostas (patrocinadores
de TODOS os times da Série A) miram população de baixa renda. Campanha massiva em periferia:
"Ganhe dinheiro com conhecimento do seu time". Resultado: Cap 14 já mostrou — epidemia de
vício, famílias endividadas, violência doméstica por perdas.
A antropóloga Rosana Pinheiro-Machado documentou: em comunidades da Zona Leste
(SP), 30-40% dos homens jovens apostam regularmente. Média de perda: R$ 200-500/mês (20-40% da
renda familiar). Apostas funcionam como agiota digital — extração contínua de
renda da periferia para plataformas globais (Bet365 é inglesa, Betano é portuguesa).
15.4.4 Esports e Exclusão Digital
Esports, teoricamente "democráticos" (qualquer um com PC pode jogar), reproduzem desigualdades:
- Equipamento caro: PC gamer competitivo = R$ 8.000-15.000. Monitor 240Hz =
R$ 2.000. Internet de baixa latência (<20ms) = indisponível em periferia. Jovem pobre
joga em lan house com lag, nunca atinge nível competitivo.
- Jornada impossível: Pro-gamer treina 10-14h/dia. Jovem periférico trabalha
8h + estuda à noite. Não tem 10h "livres" para treinar. Elite esportiva = elite de classe
(tempo livre é privilégio).
- Racismo/machismo na comunidade: Chat de jogos online é tóxico. Jogadores
negros/mulheres sofrem assédio constante. Muitos desistem antes de competir
profissionalmente. Plataformas (Riot/Valve) fazem moderação mínima — racismo/machismo são
externalizados como "problema da comunidade".
Resultado: esports elite é 95%+ masculino, 80%+ branco/asiático, classe média-alta.
A "meritocracia digital" é mito — desigualdades materiais (equipamento, tempo, educação)
determinam quem chega ao topo.
15.5 Resistências e Alternativas: Repolitizar a Arena
15.5.1 Sindicatos de Atletas e Pro-Gamers
Movimentos de organização coletiva começam a emergir:
- Counter-Strike Professional Players' Association (CSPPA): Fundada 2019,
luta por contratos padronizados, salário-mínimo, seguro-saúde, direito a férias. Conquista:
acordo com organizadores de torneios garantindo representação de jogadores em decisões de
formato.
- Fortnite Players Association (FPA): Pressiona Epic Games por transparência
em decisões de patches, consulta prévia em mudanças que afetam meta competitivo.
- Sindicato dos Atletas Profissionais (Brasil): Luta por direito à
propriedade dos próprios dados biométricos. Proposta: atleta deve autorizar explicitamente
venda de dados para terceiros (casas de apostas, desenvolvedoras de games).
Esses movimentos enfrentam resistência massiva. Clubes/desenvolvedoras argumentam que "sindicato
destruirá esporte/esports". Mas história prova contrário: NFL, NBA,
Premier League só melhoraram após jogadores se organizarem coletivamente.
15.5.2 Software Livre e Jogos Comunitários
Alternativa radical: esports baseados em jogos open-source, onde comunidade
controla código, não corporação. Exemplos:
- Xonotic, OpenArena (FPS): Clones open-source de Quake/Counter-Strike.
Comunidade decide mudanças em mecânicas via votação. Sem empresa proprietária.
- 0 A.D. (RTS): Estratégia em tempo real open-source. Jogadores/desenvolvedores
são mesmo grupo — não há divisão capital/trabalho.
- Movimento "Libre Gaming": Propõe criar liga profissional apenas com jogos
FOSS (Free and Open-Source Software). Jogadores teriam representação em governança, lucros
reinvestidos em comunidade.
Obstáculo: jogos open-source têm gráficos/polish inferior a AAA corporativo. Difícil atrair
audiência massiva. Mas Cap 19
(Cooperativas) inspira: não precisa competir em escala com Riot/Valve — basta criar
nichos sustentáveis com governança democrática.
15.5.3 Democratizar Acesso a Dados: Transparência Radical
Proposta da FairPlay Alliance (coalizão de ONGs + torcedores organizados):
exigir que clubes publiquem todos os dados biométricos de atletas em formato
aberto (API pública). Argumentos:
- Fim do monopólio analítico: Se todos têm mesmos dados, vantagem volta a
ser interpretação/tática humana, não quem compra melhor software.
- Pesquisa acadêmica: Universidades poderiam estudar fadiga, lesões,
otimização de treino — conhecimento beneficiaria todos os atletas, não só elite rica.
- Controle pelo atleta: Se dados são públicos, atleta pode auditar uso.
Fim de venda secreta para casas de apostas.
Clubes se recusam (alegam "segredo comercial"). Mas movimento ganha força: na Alemanha,
Bundesliga discute lei obrigando publicação parcial de dados (após 48h de
partida). Seria primeiro passo para transparência algorítmica no esporte.
15.5.4 Esporte Comunitário Não-Plataformizado
A resistência mais radical é recusar a plataforma completamente. Volta ao
esporte amador, comunitário, lúdico — fora da lógica de performance, otimização e lucro:
- Futebol de várzea (Brasil): Milhares de campos comunitários onde se joga
por prazer, não por métrica. Sem wearable, sem aposta, sem influencer. Apenas jogo.
- LAN parties locais: Espaços físicos (escolas, centros comunitários) onde
jovens jogam CS/LoL sem stream, sem rank, sem monetização. Diversão pura.
- Movimento "Right to Play": ONGs promovem esporte como direito humano,
não mercadoria. Foco em participação (todos jogam), não espetáculo
(poucos performam para muitos assistirem).
Esses espaços não competem em escala com plataformas bilionárias. Mas preservam algo crucial:
memória de que jogo nos pertence. Antes de ser capitalizado, esporte foi
prática coletiva de autocriação. Cap 23
(Nhandereko) mostra: povos indígenas jogam/dançam sem separar "atleta" de "espectador" —
todos participam. A várzea brasileira mantém vivo esse comum esportivo.
Conclusão: O Jogo Acabou?
A plataformização total do esporte, com sua busca incessante por otimização, controle e
monetização, carrega uma contradição fundamental. Ela ameaça destruir justamente aquilo que
torna o esporte tão atraente: sua imprevisibilidade, seu drama humano, seus momentos de
genialidade intuitiva que desafiam a métrica. Um esporte totalmente datificado e previsível
seria um esporte sem alma e, em última instância, entediante.
Mas o que este capítulo revelou vai além da perda do "espírito esportivo". A datificação do
corpo-atleta, a precarização dos pro-gamers, a exploração do torcedor-produtor e a reprodução
algorítmica de racismo mostram que a arena é laboratório. O que plataformas
testam no esporte — vigilância corporal total, trabalho não-remunerado afetivo, financeirização
de paixões, IA substituindo decisão humana — será aplicado em toda sociedade. Se
aceitamos wearables em atletas hoje, aceitaremos em trabalhadores amanhã. Se normalizamos
apostas no futebol hoje, normalizamos financeirização de todas as esferas da vida
amanhã.
No entanto, as linhas de fuga e resistência também se multiplicam. Atletas e pro-gamers começam a
se organizar em sindicatos para lutar por melhores condições de trabalho e pelo controle sobre
seus próprios dados. Grupos de torcedores organizados protestam contra a mercantilização
excessiva de seus clubes e a transformação do esporte em um mero produto de entretenimento. E,
talvez o mais importante, a busca por formas de prática esportiva amadora, comunitária e lúdica,
fora da lógica da performance e do lucro, continua a ser uma poderosa afirmação de que o jogo,
em sua essência, nos pertence.
A luta pelo futuro do esporte é a luta para decidir se ele será uma extensão da fábrica de valor
ou um espaço de liberdade e criação coletiva. O futebol de várzea, as LAN parties não-monetizadas,
os jogos open-source — esses "resíduos" não-capitalizados do esporte — são sementes de outro
mundo possível. Jogar não precisa gerar lucro. Torcer não precisa ser trabalho.
O corpo não precisa ser dashboard. A arena, antes de ser capturada, foi comum.
Pode voltar a ser.
---
🔑 Mini-Glossário do Capítulo
- Atleta Quantificado: Corpo-atleta transformado em fluxo contínuo de dados biométricos
coletados via wearables e sensores.
- Biohacking Atlético: Uso de tecnologias biomédicas avançadas (peptídeos, tDCS,
câmaras hiperbáricas, terapias genéticas) para otimizar performance corporal.
- Biometria: O uso de características físicas ou comportamentais únicas (como
impressão digital, frequência cardíaca, etc.) para identificação e análise.
- Burnout: Um estado de exaustão física, emocional e mental causado por estresse
excessivo e prolongado, comum em profissões de alta performance como os esports.
- Datificação: O processo de transformar aspectos da vida em dados que podem ser
quantificados, analisados e monetizados.
- Esports (Esportes Eletrônicos): Competições de videogames organizadas,
geralmente em nível profissional.
- Fan Token: Um tipo de criptoativo que supostamente dá aos seus detentores
acesso a uma variedade de vantagens relacionadas a um clube esportivo, como votações em decisões
do clube ou recompensas. Na prática, vetor de financeirização da paixão esportiva.
- Fantasy League/Sports: Jogos online onde os participantes montam equipes
imaginárias de jogadores reais de um esporte profissional e pontuam com base no desempenho
estatístico real desses jogadores. Forma de trabalho analítico não-remunerado.
- Moneyball: Revolução estatística no baseball (popularizada pelo livro de
Michael Lewis, 2003) que marca origem da datificação massiva do esporte.
- Necropolítica Esportiva: Aplicação do conceito de Achille Mbembe ao esporte —
certos corpos (especialmente negros) são valorizados como ativos extraíveis e descartáveis.
- Panóptico Esportivo: Vigilância corporal 24/7 via wearables, onde atleta
internaliza o supervisor (conceito foucaultiano aplicado ao esporte digital).
- Pro-gamer (Professional Gamer): Um jogador de videogame profissional que
compete em esports por um salário ou prêmios em dinheiro. Trabalhador imaterial precarizado.
- Tirania da Métrica: Situação onde apenas o mensurável tem valor, eliminando
intuição, criatividade e aspectos não-quantificáveis da performance.
- Torcedor-Produtor: Fã que realiza trabalho afetivo e cognitivo não-remunerado
(criar conteúdo, analisar estatísticas, gerar engajamento) monetizado por plataformas.
- Wearables: Dispositivos vestíveis (GPS, monitores cardíacos, sensores de movimento)
que coletam dados biométricos em tempo real.
💭 Exercícios de Análise
1. O Olhar do Robô: Assista a um trecho de uma partida de futebol ou basquete.
Agora, tente assisti-la novamente, mas do ponto de vista de um analista de dados. Em vez de
focar na emoção do jogo, preste atenção nos movimentos, nas distâncias, nas velocidades. Como
essa mudança de perspectiva altera sua experiência como espectador? O que você perde e o que
você "ganha" nessa visão puramente métrica?
2. Trabalho ou Lazer?: Assista a uma transmissão de um pro-gamer na Twitch.
Tente identificar os momentos em que ele está "jogando por prazer" e os momentos em que ele está
claramente "trabalhando" (interagindo com o chat, agradecendo doações, cumprindo metas de
patrocinadores). A fronteira entre os dois é clara? Quanto do tempo de stream é efetivamente
"trabalho emocional" disfarçado de diversão?
3. Você é um Produtor?: Pense em todas as atividades que você realiza como
torcedor (seguir o time nas redes sociais, comentar em posts, jogar o fantasy league, etc.).
Quanto tempo você dedica a isso por semana? Multiplique por 52 semanas. Se esse tempo fosse
pago como trabalho intelectual/criativo (R$ 25/hora), quanto valeria por ano? Compare com o
quanto você paga (ingressos, streaming, camisas). Você é consumidor ou produtor não-remunerado?
4. Experimento de Desintoxicação: Se você joga videogames competitivamente
(rank/ladder), tente uma semana jogando apenas modos casuais sem ranking. Observe sua
relação psicológica com o jogo. Você sente menos ansiedade? Mais prazer? O jogo "perde sentido"
sem métrica de progresso? Reflita: quando o jogo virou trabalho para você?
5. Auditoria de Dados Pessoais: Se você usa app de corrida/ciclismo (Strava,
Nike Run Club), acesse configurações de privacidade. Quem tem acesso aos seus dados? Eles são
vendidos para terceiros? Você consegue deletá-los completamente? Tente exportar seus dados —
quantos megabytes de informação biométrica você produziu? Se valessem $0,10/MB no mercado de
dados, quanto sua corrida matinal vale para plataformas?
🔗 Conexões com Outros Capítulos
🎮 Esports como Laboratório do Trabalho Imaterial (síntese Caps 8, 12, 14)
Cap
8 (Trabalho Imaterial) encontra Cap 14 (Vício) via
esports:
- Trabalho cognitivo extremo: Pro-gamer trabalha 10-14h/dia em
habilidade mental (reflexos, estratégia, comunicação). É trabalho imaterial puro
— não produz objeto, produz performance.
- Engenharia de vício aplicada ao trabalho: Jogo (League of
Legends, CS:GO) usa mesmas técnicas de Cap 14 — recompensas variáveis,
FOMO, progressão infinita. Resultado: burnout epidêmico (aposentadoria aos 24
anos). Trabalho viciante = capitalismo ideal.
- Plataformização total (Cap
12): Riot Games/Valve são o empregador (controlam
jogo) + arena (organizam campeonatos) + supervisor (podem banir jogador).
Concentração vertical absoluta.
Lição: Esports mostra futuro do trabalho imaterial — quando lazer
vira trabalho, não precisa de coerção externa. Você se explora voluntariamente
porque "ama o jogo".
📊 Datificação do Corpo: Do Atleta ao Trabalhador Comum (ponte para Cap 3)
Cap 15 mostra futuro de Cap 3 (Gerenciamento
Algorítmico): Se corpo de atleta já é monitorado 24/7 por wearables
(frequência cardíaca, sono, fadiga), quanto tempo até todo trabalhador usar
sensor corporal?
Já acontecendo:
- Amazon: Pulseiras que vibram quando movimento "ineficiente".
Monitora batimentos cardíacos para detectar "preguiça".
- UPS/FedEx: Sensores em caminhões rastreiam velocidade, freadas
bruscas, tempo parado. Motorista vira dashboard.
- Teleatendimento: Software analisa tom de voz para detectar
"engajamento emocional" (trabalho afetivo quantificado).
Tirania da métrica: Moneyball mostrou que só o mensurável
importa. Intuição, criatividade, solidariedade = não-mensuráveis =
descartáveis. Se não vira dado, não existe.
👥 Torcedor-Produtor: Trabalho Não-Pago da Fábrica Social (Caps 8-9)
Cap
8 explicou "fábrica social" (toda sociedade vira local de produção). Cap
15 mostra aplicação concreta:
Você trabalha quando torce:
- Comentar jogo no Twitter: Produz engajamento → aumenta valor da
plataforma/clube.
- Jogar Fantasy League: Análise estatística gratuita → dados
vendidos para casas de apostas.
- Comprar Fan Token: "Participação" = trabalho emocional +
especulação financeira que gera comissão para plataforma.
Trabalho afetivo não-remunerado: Paixão pelo time = combustível
grátis para máquina de lucro. Cap 9 (Multidão)
alertou: afetos também são expropriados. Esporte prova visceralmente.
Conexão com Cap
13:
OnlyFans plataformiza desejo sexual, Fan Tokens plataformizam paixão esportiva.
Mesma lógica — tornar monetizável o que era íntimo/comum.
⚡ Resistências Possíveis (ponte para Caps 19 e 24)
Cap 15 termina com "linhas de fuga" — Cap 19 e 24 mostram como
concretizá-las:
- Sindicatos de Pro-Gamers: Já existem (ex: Counter-Strike
Professional Players' Association). Luta: direitos trabalhistas, saúde mental,
controle sobre dados biométricos. Cap 24 propõe CLT
para plataformas → deveria incluir esports (são trabalhadores digitais).
- Jogos cooperativos open-source: Cap 19
(Cooperativas) inspira: e se League of Legends fosse gerido por cooperativa de
jogadores + desenvolvedores? Decisões democráticas sobre mecânicas, patches,
monetização. Lucro reinvestido em comunidade, não acionistas.
- Esporte comunitário não-plataformizado: Futebol de várzea,
pelada, LAN parties locais = práticas que resistem à datificação. Preservar
espaços onde jogar/torcer não gera lucro externo.
- Dados como comum: Se wearable monitora atleta 24/7, dados
deveriam ser dele, não do clube/plataforma. Cap 24 propõe:
direito à soberania de dados pessoais (incluindo biométricos).
🎮 Esporte/esports como microcosmo do capitalismo digital: Datificação
total do corpo (Cap
3), trabalho imaterial extremo (Cap 8), engenharia de vício
(Cap 14),
expropriação de afetos (Cap
9). Arena não é
exceção — é laboratório. O que testam em atletas/pro-gamers virá para todos
nós. Resistir à plataformização do esporte é resistir ao futuro do trabalho.
📚 Leituras Complementares
Nível Introdutório:
- Lewis, M. (2003). Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game. (O livro clássico
que popularizou a revolução da análise de dados no esporte).
- Pariser, E. (2011). The Filter Bubble. (Embora não seja sobre esporte, explica como
algoritmos moldam percepção — aplicável a como IA escolhe o que vemos no esporte digital).
Nível Intermediário:
- Taylor, T. L. (2012). Raising the Stakes: E-Sports and the Professionalization of Computer
Gaming. (Uma das primeiras e mais importantes etnografias sobre o surgimento dos
esports como uma profissão).
- Hutchins, B., & Rowe, D. (2012). Sport Beyond Television: The Internet, Digital Media
and the Rise of Networked Media Sport. (Análise da transformação do esporte pela
plataformização digital).
- Woodcock, J., & Johnson, M. R. (2018). "The Sociology of Esports: An Introduction".
Sociology Compass, 12(10). (Um artigo acadêmico que oferece um excelente panorama do
campo de estudos sociológicos sobre os esports).
Nível Avançado:
- Andrejevic, M. (2020). Automating the Crowd: The Unpaid Labor of Social Media.
(Embora não seja sobre esportes, o livro oferece um arcabouço teórico fundamental para entender
o conceito de trabalho não-pago dos fãs — aplicável ao torcedor-produtor).
- Woodcock, J. (2019). Marx at the Arcade: Consoles, Controllers, and Class Struggle.
(Análise marxista da indústria de videogames e esports, focando em trabalho e exploração).
- Newman, J. (2008). Playing with Videogames. (Teoria crítica sobre como videogames
estruturam trabalho/lazer — essencial para entender esports como trabalho imaterial).
- Mbembe, A. (2019). Necropolítica. (Conceito central para entender como corpos
negros são mercadificados no esporte — "vidas descartáveis" no mercado atlético global).
- Crawford, G., & Rutter, J. (2007). Digital Games and Surveillance. (Análise da
vigilância em ambientes de jogo — precursor da discussão sobre datificação em esports).
Artigos Acadêmicos Essenciais:
- Butryn, T. M. (2003). "Posthuman Podiums: Cyborg Narratives of Elite Track and Field Athletes".
Sociology of Sport Journal, 20(1), 17-39. (Pioneiro na análise de atletas como
cyborgs — fusão homem-máquina no esporte de elite).
- Lupton, D. (2016). "The Quantified Self". Digital Sociology. (Teoria sobre
self-tracking — base conceitual para entender atleta quantificado).
- Nakamura, L. (2009). "Don't Hate the Player, Hate the Game: The Racialization of Labor in
World of Warcraft". Critical Studies in Media Communication, 26(2), 128-144.
(Análise de racismo em trabalho digital — aplicável a esports).
Documentários e Podcasts:
- Documentário: Free to Play (2014, Valve) — Acompanha 3 pro-gamers
de Dota 2. Mostra glamour e precarização. Disponível no YouTube/Steam.
- Documentário: The Price of Gold (2014, ESPN) — Sobre Tonya Harding,
patinadora pobre em esporte de elite. Paralelo com exclusão de classe em esports.
- Podcast: Note to Self — Episódio "The Panic Over Fantasy Sports"
(2015). Investigação crítica sobre fantasy sports e trabalho não-pago.
---

Capítulo 16
Capítulo 16: A Farmácia Global e a Guerra às Drogas Digital
Introdução: A Farmácia de Apartheid
Nossa análise da plataformização da vida desce agora à sua camada mais biopolítica e controversa:
o acesso a substâncias psicoativas. A distinção entre "remédio" e "veneno", "terapia" e "crime",
"otimização" e "vício" nunca foi puramente farmacológica. Ela é, e sempre foi, uma construção
social, racial e de classe. A "Guerra às Drogas", como veremos, é o principal dispositivo
político que traça essa linha, e o faz com uma violência seletiva e racializada. Este capítulo
argumenta que a plataformização não apenas herda, mas automatiza, acelera e
intensifica essa estrutura, construindo o que podemos chamar de uma
farmácia de apartheid global.
De um lado, temos o CEO do Vale do Silício que pratica a microdosagem de psicodélicos para
"otimizar a performance" e é celebrado como um biohacker inovador. Do outro, o jovem negro da
periferia que vende maconha e é tratado como um criminoso perigoso, alvo da violência policial.
A tecnologia digital não está criando uma "democracia das drogas". Pelo contrário, ela está
forjando um sistema onde as regras, os riscos, a qualidade e o próprio status legal de uma
substância dependem radicalmente de quem a consome, quem a vende e em qual plataforma a
transação ocorre.
16.1 A Guerra às Drogas Digital: Codificando o Racismo no Algoritmo
A Guerra às Drogas, iniciada formalmente nos anos 70, nunca foi primariamente sobre as drogas,
mas sobre o controle de populações consideradas "perigosas". Ela forneceu o pretexto para o
encarceramento em massa e a vigilância desproporcional de comunidades negras e latinas. A era
digital herda e aprofunda essa lógica através de novas ferramentas de controle.
⚖️
As Origens Racistas da Guerra às Drogas
A "Guerra às Drogas"
nunca foi realmente sobre drogas — foi, desde o início, uma guerra contra populações
racializadas. Nos EUA, a proibição da maconha nos anos 1930 foi justificada por
campanhas racistas que associavam a planta a mexicanos e negros, alegando que ela
causava violência e "miscigenação". Nos anos 1970, John Ehrlichman, assessor do
presidente Nixon, admitiu décadas depois: "Sabíamos que não podíamos tornar ilegal ser
contra a guerra ou ser negro, mas ao associar os hippies à maconha e os negros à
heroína, e então criminalizá-las pesadamente, poderíamos desorganizar essas
comunidades". No Brasil, a Lei de Drogas de 2006, apesar de formalmente distinguir
"usuário" de "traficante", deixa essa distinção ao critério subjetivo da polícia — o
que, na prática, significa que jovens brancos de classe média são tratados como
"usuários" e jovens negros de periferia como "traficantes" pela mesma quantidade de
droga. O resultado é o encarceramento em massa de pessoas negras e pobres, a
militarização das favelas e o genocídio da juventude negra. A "guerra às drogas" é, na
verdade, uma guerra de classe e raça.
O exemplo mais claro é o uso de policiamento preditivo. Esses sistemas de
software utilizam dados históricos de crimes para "prever" onde novos crimes ocorrerão e para
onde a polícia deve direcionar suas patrulhas. No entanto, como os dados históricos refletem
décadas de policiamento racista e enviesado, o algoritmo aprende a associar crime com bairros
pobres e não-brancos. O resultado é um loop de feedback vicioso: o algoritmo manda a polícia
para esses bairros, onde eles obviamente realizam mais prisões (especialmente por crimes de
baixo nível, como posse de drogas), o que gera mais dados que "confirmam" a previsão do
algoritmo. A discriminação racial, agora, ganha o verniz de objetividade matemática.
16.1.1 Anatomia do Policiamento Preditivo
Para entender como o racismo é codificado em software, precisamos abrir a
caixa-preta do policiamento preditivo. Os dois sistemas mais usados nos EUA são
PredPol (agora "Geolitica") e HunchLab. Ambos prometem
"ciência de dados" e "previsão neutra". Ambos reforçam discriminação.
🤖
Como Funciona um Algoritmo de Policiamento Preditivo
Input (dados de entrada):
• Dados históricos de crimes: local, data, hora, tipo de crime (furto, roubo, homicídio,
posse de drogas, etc.)
• Dados socioeconômicos: renda média, taxa de desemprego, escolaridade do bairro
• Dados demográficos: composição racial, densidade populacional
• Chamadas para polícia (911 nos EUA, 190 no Brasil)
Processamento (algoritmo):
• Machine learning identifica padrões nos dados históricos
• Técnicas comuns: regressão logística, random forests, redes neurais
• Algoritmo aprende: "Crime tipo X tende a ocorrer em bairro tipo Y, em horário Z"
• Gera mapa de calor com áreas de "alto risco"
Output (decisão):
• Sistema recomenda onde enviar patrulhas
• Polícia vai para área "prevista", faz abordagens, prisões
• Novos dados alimentam sistema: loop de feedback
O Problema: "Dados históricos" não são registro objetivo da realidade.
São registro de onde polícia patrulhou no passado. Se polícia sempre patrulhou
mais em bairros negros (viés histórico), dados mostram mais crimes lá. Algoritmo aprende
viés como se fosse verdade. Reforça discriminação, dando-lhe aparência de ciência.
Exemplo real: Chicago, 2013-2019, usou sistema de "heat list" (lista de
pessoas com alto risco de envolvimento em violência, como vítima ou perpetrador). Algoritmo
analisava rede social, histórico de prisões, localização. Pessoas na lista recebiam "visitas
preventivas" da polícia, mesmo sem ter cometido crime.
- Resultado: ~400 mil pessoas foram incluídas na lista ao longo dos anos.
Maioria esmagadora: negros e latinos de bairros pobres. Taxa de "acerto" (pessoa realmente
se envolveu em violência)? 0,3%. Ou seja, 99,7% eram falsos positivos.
- Efeito colateral: Pessoas na lista enfrentavam mais vigilância, mais
abordagens policiais, mais risco de prisão por qualquer infração menor. Estigma social.
Dificuldade de conseguir emprego. Sistema criou profecia autorrealizável:
ao aumentar policiamento sobre alguém, aumenta-se probabilidade de prisão.
- Accountability: Cidade de Chicago descontinuou programa em 2019 após
pressão de movimentos sociais. Mas não antes de arruinar centenas de milhares de vidas.
⚖️
O Viés Está nos Dados, Não "Só" no Algoritmo
Defesa comum de empresas de policiamento preditivo: "Nosso algoritmo é neutro, só aprende
com os dados." Mas dados não são neutros. Eles refletem sociedade
estruturalmente racista.
Exemplo: drogas. Estudos mostram que brancos e negros usam drogas em
taxas similares. Mas prisões por posse de drogas? Negros são presos 3-6x mais (varia
por estado/país). Por quê? Polícia patrulha mais em bairros negros. Faz mais
abordagens. Encontra mais drogas (porque procura mais). Dados mostram "mais crime em
bairros negros". Algoritmo "aprende" associação. Reforça patrulhamento. Loop infinito.
Solução ingênua: "Vamos tirar raça do algoritmo." Não funciona.
Algoritmo usa proxies (CEP, renda, tipo de crime) que correlacionam fortemente com raça.
Sistema continua discriminatório, mas agora mais opaco.
Solução real: Não usar policiamento preditivo. Investir em serviços
sociais (educação, saúde, emprego) que realmente reduzem crime. Descriminalizar
drogas. Fim da Guerra às Drogas. Não dá pra algoritmizar a justiça em sociedade injusta.
16.1.2 Brasil: Reconhecimento Facial e Genocídio Algorítmico
No Brasil, policiamento preditivo ainda é incipiente, mas reconhecimento facial
já é realidade distópica. Sistemas instalados em cidades como Rio de Janeiro, Salvador, São
Paulo prometem "segurança inteligente". Na prática, funcionam como máquinas de
criminalização de pessoas negras.
Casos documentados:
- 2019, Rio de Janeiro: Sistema de reconhecimento facial identifica
erroneamente homem negro como procurado. Ele é preso, passa 9 dias na cadeia, antes de
erro ser descoberto. Vários casos similares documentados por Rede de Observatórios da
Segurança.
- 2020, Salvador: Mulher negra presa por reconhecimento facial falso
enquanto voltava de festa de aniversário. Ficou grávida na prisão (estupro por agente).
Depois se descobriu: não era a pessoa procurada.
- Padrão: Tecnologia tem taxa de erro muito maior para rostos negros
(estudos do MIT mostram erro 34% maior para mulheres negras vs homens brancos). Combinado
com policiamento racista, resultado é automação da injustiça.
Mas o problema não é apenas técnico (taxa de erro). Mesmo se algoritmo fosse "perfeito",
continua sendo ferramenta de vigilância de massa usada desproporcionalmente
contra populações marginalizadas. Em sociedade que criminaliza pobreza e negritude, tecnologia
"neutra" de vigilância sempre será usada para controle social.
Conexão com Guerra às Drogas: jovem negro em favela carioca está sob vigilância de câmeras com
reconhecimento facial 24/7. Qualquer movimento pode ser interpretado como "suspeito". Se for
visto em "boca de fumo", pode ser preso preventivamente. Se tiver R$ 50 no bolso e 2g de
maconha, é enquadrado como traficante (Lei 11.343/2006 deixa distinção usuário/traficante a
critério policial). Enquanto isso, jovem branco de classe média compra drogas via Telegram,
recebe em casa, sem qualquer risco de vigilância ou prisão. Farmácia de apartheid
tecnológica.
Ao mesmo tempo, as redes sociais se tornam um palco para o pânico moral 2.0. A
crise dos opioides e do fentanil, por exemplo, é frequentemente retratada de forma a demonizar
os usuários e a justificar políticas de "lei e ordem", ignorando as causas estruturais da crise,
como a precarização da vida e o papel da própria indústria farmacêutica. O contraste é gritante
quando comparamos essa cobertura com a celebração acrítica do "renascimento psicodélico" ou da
indústria do bem-estar. Um "influenciador de nootrópicos" que vende substâncias não
regulamentadas para "otimização cerebral" é um empreendedor; um jovem da favela que vende um
produto ilícito é um traficante. A plataforma digital, com seus algoritmos de recomendação e
moderação, ajuda a solidificar essa distinção, codificando o racismo em sua própria
infraestrutura da sua arquitetura.
16.2 O Mercado Cinza e a Redução de Danos Seletiva
Em resposta à violência e à incerteza da Guerra às Drogas, surgiram mercados digitais que
tentaram criar uma infraestrutura alternativa. O mais famoso foi o Silk Road,
um mercado anônimo na dark web que operou entre 2011 e 2013. A inovação do Silk Road foi aplicar
a lógica das plataformas de e-commerce (como a Amazon) ao tráfico de drogas. Vendedores e
produtos recebiam avaliações de usuários, o pagamento era retido em um sistema de
escrow (garantia) até a confirmação da entrega, e a pureza das substâncias era
frequentemente discutida e testada pela comunidade.
De certa forma, o Silk Road e seus sucessores representaram uma forma privatizada e tecnocrática
de redução de danos. Em um mundo onde a proibição torna impossível qualquer
controle de qualidade, esses mercados ofereceram um grau de previsibilidade e segurança que o
mercado de rua não podia. No entanto, é crucial entender para quem essa segurança se aplicava. O
acesso a esses mercados exigia conhecimento técnico (uso da rede Tor, compra de Bitcoin),
capital e um endereço de entrega seguro. Na prática, eles serviram como uma forma de
redução de danos para uma elite privilegiada, majoritariamente branca e do
Norte Global. A violência, a incerteza e a repressão policial não foram eliminadas do sistema;
foram apenas empurradas para longe, para os produtores nos países do Sul e para os varejistas de
rua nas comunidades marginalizadas, que continuaram a arcar com os custos da proibição.
Com a repressão aos mercados da dark web, grande parte do comércio migrou para aplicativos de
mensagens criptografadas como Telegram e WhatsApp. A lógica é semelhante, mas mais
descentralizada, baseada em grupos e canais que conectam diretamente produtores, intermediários
e consumidores, novamente criando uma camada de segurança e conveniência para aqueles que têm o
capital social e digital para acessá-la.
16.2.1 A Arquitetura do Mercado Digital de Drogas
Para entender como a plataformização transformou o tráfico, precisamos analisar a
arquitetura técnica desses mercados. O Silk Road não era apenas um site;
era um ecossistema cibernético completo que reimaginava cada componente da transação ilegal:
🔐
As Três Camadas da Dark Web
1. Surface Web (internet comum): Indexado por Google, acessível por qualquer
navegador. Representa apenas ~4% do conteúdo total da internet.
2. Deep Web: Conteúdo não indexado — bases de dados acadêmicas, intranets
corporativas, e-mails, contas bancárias. Legal, mas privado. ~90% da internet.
3. Dark Web: Redes sobrepostas (overlay networks) que exigem software
específico para acesso. A mais famosa é a Tor (The Onion Router), que
anonimiza usuários criptografando tráfego em múltiplas camadas. ~6% da internet. Nem todo
conteúdo é ilegal — há fóruns de dissidentes políticos, jornalismo em países autoritários,
mas também mercados de drogas, armas, dados roubados.
O Silk Road combinava três tecnologias para criar um mercado de confiança sem Estado:
- Rede Tor: Anonimato para compradores e vendedores. Impossível rastrear IP.
- Bitcoin: Pagamento pseudônimo. Transações registradas em blockchain, mas
difíceis de associar a identidades reais (especialmente com "mixers" que embaralham moedas).
- Sistema de reputação: Avaliações de compradores funcionavam como
enforcement descentralizado. Vendedor com 5 estrelas = confiável. Vendedor com
reclamações de produto adulterado = banido pela comunidade.
O resultado foi uma desintermediação radical. No mercado de rua, você precisa
confiar em pessoas — seu dealer, o fornecedor dele, etc. No Silk Road, você confiava no
sistema. O algoritmo de reputação substituía a necessidade de conhecer pessoalmente
o vendedor. O escrow criptográfico garantia que o dinheiro só seria liberado após confirmação
de entrega. Era, literalmente, a aplicação da cibernética de Wiener ao crime organizado.
16.2.2 A Farsa da "Democratização"
Ross Ulbricht, criador do Silk Road, justificava o projeto com retórica libertária: estava
"libertando" o mercado de drogas da violência de cartéis e do controle estatal. Mas essa
narrativa ignora uma questão fundamental: quem tem acesso?
⚠️
Barreiras de Entrada da "Farmácia Libertária"
Para comprar no Silk Road, você precisava de:
1. Conhecimento técnico: Instalar Tor, configurar segurança, entender
PGP (criptografia de mensagens). Curva de aprendizado íngreme.
2. Capital inicial: Comprar Bitcoin (na época, exchanges exigiam conta
bancária + verificação). Mínimo ~US$ 50-100.
3. Endereço seguro: Receber encomenda sem risco de interceptação policial.
Casa própria ou apartamento alugado formalmente.
4. Literacia digital em inglês: Interface do site, reviews de produtos,
fóruns de segurança — tudo em inglês técnico.
Quem NÃO tinha acesso: Usuário de crack na cracolândia. Trabalhador
informal sem conta bancária. Jovem de favela sem computador pessoal. Imigrante
indocumentado. Pessoa em situação de rua. Ou seja, exatamente as populações mais
vulneráveis à violência da Guerra às Drogas.
O Silk Road não "democratizou" o acesso a drogas. Ele criou uma farmácia para a
classe média educada do Norte Global. Estudantes universitários, programadores,
profissionais liberais — pessoas com capital cultural e econômico suficiente para navegar
a complexidade técnica. Enquanto isso, o jovem negro vendendo maconha na esquina continuava
sendo alvo de policiamento militarizado. A tecnologia não eliminou a violência; apenas a
realocou geograficamente e socialmente.
16.2.3 Do Silk Road ao Telegram: A Plataformização Descentralizada
Após o FBI desmantelar o Silk Road em 2013 (e prender Ulbricht, condenado a prisão perpétua),
o mercado migrou. Surgiram dezenas de sucessores (AlphaBay, Hansa, Dream Market), todos
eventualmente fechados. Mas a partir de 2015, uma nova arquitetura emergiu: o
tráfico via apps de mensagens.
Telegram, WhatsApp e Signal, criados para comunicação privada legítima, foram apropriados
como infraestrutura de mercado informal. A lógica:
- Canais públicos: Vendedores criam canais com milhares de membros, postando
"cardápios" (fotos de produtos, preços, disponibilidade). Funciona como vitrine.
- Mensagens privadas: Negociação individual. Cliente envia pedido, vendedor
confirma endereço, pagamento via Pix/transferência/cripto.
- Grupos fechados: Comunidades de "redução de danos" onde usuários compartilham
informações sobre pureza, dosagem, adulterações. Testagem caseira com reagentes químicos.
Esse modelo tem vantagens sobre a dark web: mais acessível (qualquer pessoa
com smartphone), mais rápido (entrega no mesmo dia, tipo iFood),
mais social (comunidades de usuários, não apenas transações anônimas).
Mas mantém a mesma lógica de apartheid: quem tem capital cultural para
encontrar os canais certos, capital social para obter convites a grupos fechados, e capital
econômico para pagar preços premium (produto testado, entrega discreta) acessa um mercado
relativamente seguro. Quem não tem, volta para a boca de fumo, onde a violência policial e
de facções é constante.
16.3 O Complexo Industrial-Terapêutico: A Medicalização para os Ricos
Enquanto a guerra e a repressão continuam para os pobres, a elite assiste à ascensão do que
podemos chamar de complexo industrial-terapêutico: a legalização e
medicalização seletiva de substâncias psicoativas como um mercado de luxo. A "revolução
psicodélica" corporativa é o exemplo mais claro. Startups de biotecnologia, financiadas por
capital de risco, estão correndo para patentear compostos psicodélicos como a psilocibina (dos
cogumelos mágicos) e a cetamina, transformando o que antes era uma experiência contracultural ou
espiritual em um tratamento médico caro e controlado.
💊
O que é Redução de Danos?
Redução de
Danos é uma abordagem de saúde pública que reconhece que o uso de drogas é
uma realidade e que, em vez de exigir abstinência total, devemos minimizar os danos
associados ao uso. Exemplos práticos incluem: programas de troca de seringas para
usuários de drogas injetáveis (reduzindo a transmissão de HIV e hepatite), salas de uso
supervisionado onde pessoas podem consumir drogas sob supervisão médica (prevenindo
overdoses fatais), distribuição de naloxona (antídoto para overdose de opioides) e
testagem de substâncias em festivais (para que usuários saibam o que estão consumindo e
evitem adulterações perigosas). A redução de danos é baseada em evidências científicas
sólidas: países que a adotam, como Portugal (que descriminalizou todas as drogas em
2001) e Suíça, viram quedas dramáticas em mortes por overdose, infecções por HIV e
criminalidade. A abordagem trata usuários de drogas com dignidade, como pessoas que
merecem cuidado, não punição. É o oposto da lógica proibicionista, que criminaliza,
estigmatiza e mata.
16.3.1 A Economia Política dos Psicodélicos
O "renascimento psicodélico" é frequentemente apresentado como uma revolução científica — e,
em parte, é. Estudos clínicos mostram que psilocibina, MDMA e ayahuasca podem ter eficácia
terapêutica para depressão resistente, PTSD e dependência química. Mas essa revolução científica
está sendo capturada por uma revolução capitalista que transforma plantas
medicinais milenares em commodities patenteáveis de US$ 10 mil por dose.
💰
Quem Lucra com o Renascimento Psicodélico?
COMPASS Pathways: Startup britânica que patenteou uma formulação
sintética de psilocibina. IPO em 2020 levantou US$ 127 milhões. Fundador: George Goldsmith
(ex-executivo de private equity). Maior acionista: Peter Thiel (bilionário libertário
do PayPal).
MAPS (Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies): ONG que
financiou pesquisas com MDMA para PTSD por décadas. Criou subsidiária com fins lucrativos
(MAPS PBC) para comercializar tratamento. Custo estimado: US$ 15-20 mil por paciente.
Atai Life Sciences: Holding de biotecnologia que controla múltiplas
startups psicodélicas. Fundador: Christian Angermayer (investidor alemão). IPO em 2021:
US$ 225 milhões. Portfólio inclui cetamina, DMT, ibogaína.
Field Trip Health: Rede de clínicas de cetamina no Canadá/EUA. Modelo:
"Starbucks dos psicodélicos". Sessão: US$ 750-1.500. Cliente-alvo: executivos estressados.
Padrão: Capital de risco → pesquisa clínica → patente → IPO →
monetização via terapia de luxo. Conhecimento indígena/contracultural = matéria-prima
gratuita. Lucro = privado. Acesso = restrito a quem pode pagar.
A contradição é gritante: psilocibina, composto presente em cogumelos que
crescem naturalmente em todos os continentes, está sendo patenteada por startups como
"invenção". Povos indígenas usam essas substâncias há milênios em contextos rituais e
terapêuticos, mas não recebem crédito, compensação ou acesso aos tratamentos "revolucionários"
derivados de seu conhecimento.
16.3.2 Telemedicina como Farmácia Express
A telemedicina acelera esse processo de medicalização. Plataformas online prometem
conectar pacientes a médicos que podem prescrever antidepressivos, ansiolíticos e estimulantes
após uma breve consulta por vídeo. A conveniência para as classes mais altas, que podem pagar por
essas consultas e medicamentos, é inegável. No entanto, esse modelo cria enormes riscos de
diagnóstico incorreto, abuso de substâncias e falta de acompanhamento terapêutico adequado,
transformando a farmácia em um serviço de entrega rápido.
Exemplos do mercado brasileiro e americano:
- Cerebral (EUA): App de "saúde mental" que explodiu na pandemia. Prometia
receita de Adderall/Ritalina após consulta de 30min por vídeo. Investigado pela DEA em 2022
por prescrição excessiva e negligente. CEO renunciou. Empresa admitiu falhas.
Modelo de negócio: Assinatura mensal (US$ 85) + medicamento. Quanto mais
receitas, mais lucro. Incentivo estrutural ao overdiagnosis de TDAH.
- Lemonaid/Hims/Hers (EUA): Plataformas de telemedicina para "bem-estar".
Vendem receitas de sildenafil (Viagra), finasterida (queda de cabelo), fluoxetina
(antidepressivo). Consulta online em 15min. Remédio chega em 2 dias.
Problema: Médico nunca vê paciente presencialmente. Interações medicamentosas?
Comorbidades? Terapia não-farmacológica? Ignoradas. Farmácia se torna vending
machine controlada.
- Vittude/Zenklub (Brasil): Apps de terapia online. Modelo inicial: conectar
psicólogos a pacientes. Evolução: adicionar psiquiatras para prescrição. Risco: transformar
terapia em "pipeline para receita". Paciente busca escuta, sai com Rivotril.
⚠️
A Epidemia de Opioides: Quando a Indústria Farmacêutica é o Cartel
A crise de opioides nos EUA mata ~100 mil pessoas/ano desde 2020. Não foi acidente; foi
campanha de marketing criminosa.
1996: Purdue Pharma lança OxyContin (oxicodona). Marketing agressivo para
médicos: "menos de 1% dos pacientes viciam" (mentira deliberada baseada em carta mal
interpretada no NEJM). Bônus para representantes que aumentassem prescrições.
2000s: Médicos prescrevem opioides para dor crônica como se fossem
aspirina. Pacientes viciam. Quando receita acaba, migram para heroína (mais barata) ou
fentanil (mais potente). Overdoses explodem.
2007: Purdue admite "propaganda enganosa" em acordo judicial. Paga multa
de US$ 600 milhões. Continua vendendo OxyContin.
2020: Purdue declara falência, aceitando pagar US$ 8 bilhões. Família
Sackler (donos) mantém fortuna pessoal de US$ 10 bilhões. Ninguém foi preso.
Lição: Quando corporação causa epidemia de dependência, é "crise de saúde
pública". Quando jovem de favela vende droga, é "tráfico". Química pode ser a mesma
(oxicodona ≈ heroína), mas o tratamento legal depende de quem lucra.
16.3.3 Apropriação Cultural como Extrativismo Epistêmico
Este fenômeno também envolve uma profunda apropriação cultural. Conhecimentos
milenares de povos indígenas sobre o uso de plantas psicoativas, como a ayahuasca, são
extraídos, mercantilizados e vendidos como "experiências de bem-estar" em retiros de luxo para
executivos e celebridades. O contexto político, espiritual e comunitário original é apagado, e a
substância é reembalada como uma ferramenta para a otimização pessoal e o alívio do estresse da
vida corporativa. A mesma planta que é sagrada para um povo indígena pode levar um jovem da
periferia à prisão.
Exemplos concretos desse extrativismo epistêmico:
- Ayahuasca de US$ 10 mil: Retiros no Peru/Brasil voltados para executivos
do Vale do Silício. "Jornada de autodescoberta" em 5 dias. Resort com wifi, comida orgânica,
yoga matinal. Cerimônia com "xamã autêntico" (frequentemente mestiço urbano sem conexão real
com tradição). Cliente volta para San Francisco, post no LinkedIn sobre "liderança
visionária". Comunidade indígena que manteve conhecimento? Zero compensação.
Ayahuasca (Banisteriopsis caapi + Psychotria viridis) é sacramento em religiões
como Santo Daime, UDV, e práticas de povos amazônicos. Não é "droga recreativa"; é tecnologia
espiritual inserida em cosmologia específica. Extraí-la desse contexto = violência
epistêmica.
- Kambo (Phyllomedusa bicolor): Secreção de sapo usada por povos indígenas
da Amazônia em rituais de purificação. Agora vendida em clínicas de "biohacking" em Los
Angeles (US$ 150/sessão) como "detox natural" e "boost imunológico". Ciência real? Duvidosa.
Benefício para povos Katukina/Yawanawá? Zero.
- Rapé (tabaco + cinzas de plantas): Medicina tradicional de diversos povos
amazônicos. Vendido em lojas esotéricas de Berlim/Amsterdam para "expansão de consciência".
Embalagem exótica, narrativa romantizada, preço 1000% acima do valor local. Povos indígenas
viram fornecedores precarizados de matéria-prima para mercado de luxo.
🌿
O Que É Apropriação Cultural no Contexto de Plantas Medicinais?
Apropriação cultural ocorre quando elementos de uma cultura (especialmente de povos
marginalizados/colonizados) são extraídos e usados por grupo dominante sem permissão,
compreensão ou compensação. No caso de plantas psicoativas:
1. Descontextualização: Planta é separada de seu contexto ritual,
espiritual, comunitário. Ayahuasca não é só DMT + IMAO; é cerimônia, cantos, cosmologia,
transmissão de conhecimento. Reduzir a química = reduzir Eucaristia a "vinho + pão".
2. Mercantilização: Conhecimento mantido por gerações sem fins lucrativos
é transformado em commodity. "Xamã" vira prestador de serviço; planta vira produto.
3. Apagamento: Origem indígena é romantizada ("sabedoria ancestral") mas
comunidades reais são invisibilizadas. Cliente paga resort de luxo; indígenas recebem
migalhas ou nada.
4. Duplo padrão legal: Executivo branco tomando ayahuasca em retiro =
"wellness". Indígena vendendo mesma planta = risco de prisão por tráfico (em países onde
DMT é ilegal). Cap 26
(Nhandereko) aprofunda crítica ao extrativismo epistêmico.
A questão não é que não-indígenas não devam ter acesso a essas medicinas. A questão é
como esse acesso ocorre. Modelo atual: extrativista, não-recíproco,
desrespeitoso. Alternativa: co-gestão de conhecimento, com povos indígenas
decidindo termos de uso, recebendo compensação justa, mantendo autoridade epistêmica. Modelo
inspirado em Nhandereko (Cap 26): conhecimento como bem comum relacional,
não como propriedade privada.
Conclusão: Libertação ou Apartheid?
A análise da farmácia global digital revela a hipocrisia central da nossa relação com as drogas.
A tecnologia não é uma força neutra que está simplesmente "conectando" pessoas a substâncias.
Ela está ativamente construindo e reforçando uma farmácia de apartheid. A mesma
classe de substância pode ser um crime, uma mercadoria de luxo, uma ferramenta de otimização de
performance ou um sacramento espiritual, dependendo de quem a usa, quem a vende, e em qual
plataforma a transação ocorre.
O resultado é a consolidação de um sistema de castas farmacológicas. Para os privilegiados, um
mercado legal, seguro e diversificado de substâncias para a terapia, o bem-estar e a otimização.
Para os despossuídos, a continuação da violência da Guerra às Drogas, agora otimizada por
algoritmos. A verdadeira luta, portanto, não pode ser apenas pela "legalização" nos termos do
mercado, o que apenas aprofundaria esse apartheid. A luta deve ser pelo fim completo da Guerra
às Drogas e pela construção de uma política de saúde pública universal, antirracista e
radicalmente baseada na redução de danos para todos, independentemente de sua classe ou CEP.
🔑 Mini-Glossário do Capítulo
- Apartheid Farmacêutico: Um sistema em que o acesso, a qualidade e o status
legal de substâncias psicoativas são radicalmente segregados com base em classe e raça.
- Complexo Industrial-Terapêutico: A aliança entre a indústria farmacêutica,
empresas de biotecnologia e o setor de bem-estar para medicalizar e mercantilizar
experiências e substâncias psicoativas como tratamentos de luxo.
- Guerra às Drogas: Um conjunto de políticas governamentais de proibição e
repressão militar ao uso e comércio de certas drogas, que tem sido amplamente criticado por
sua ineficácia, violência e viés racista.
- Policiamento Preditivo: O uso de algoritmos e análise de dados para tentar
prever e prevenir crimes futuros. É criticado por reforçar vieses policiais existentes e
levar à vigilância excessiva de comunidades marginalizadas.
- Redução de Danos: Um conjunto de políticas e práticas de saúde pública que
visam minimizar os danos sociais e de saúde associados ao uso de drogas, sem necessariamente
impedir o uso em si. Exemplos incluem a troca de seringas, a oferta de locais de consumo
seguro e o teste de pureza de substâncias.
- Silk Road: Um mercado online anônimo que operou na dark web de 2011 a 2013,
conhecido principalmente pela venda de drogas ilegais usando Bitcoin e a rede Tor.
💭 Exercícios de Análise
1. O Discurso da Mídia: Procure duas notícias recentes: uma sobre uma apreensão
de drogas em uma comunidade pobre e outra sobre o uso de psicodélicos por executivos do Vale do
Silício. Compare a linguagem, as imagens e o tom geral de cada reportagem. Que palavras são
usadas para descrever os usuários e as substâncias em cada caso?
2. A Lógica do Apartheid: A maconha é um exemplo clássico da farmácia de
apartheid. Em muitos lugares, ela é legalizada e vendida em lojas de design sofisticado,
enquanto, ao mesmo tempo, pessoas (majoritariamente negras) continuam presas por crimes
relacionados à maconha cometidos antes da legalização. Pesquise sobre essa contradição em um
estado ou país onde a maconha foi legalizada.
3. Redução de Danos na Prática: Pesquise sobre o trabalho de uma organização de
redução de danos na sua cidade ou país. Que tipo de serviços eles oferecem? Quais são os
principais desafios que eles enfrentam, tanto em termos de financiamento quanto de estigma
social?
🔗 Conexões com Outros Capítulos
💀 Farmácia de Apartheid = Necropolítica Algorítmica (síntese Cap 22)
Cap
22 (Necropolítica) encontra Cap 16: Guerra às Drogas é
gestão algorítmica da morte — decide quem vive (CEO que microdosa
LSD = "inovador") vs quem morre (jovem negro vendendo maconha = alvo policial).
Policiamento preditivo = necropolítica automatizada:
- Algoritmo aprende racismo: Dados históricos = décadas de
policiamento racista. IA "prevê" crime onde polícia já atuava (periferias
negras). Loop vicioso: mais policiamento → mais prisões → mais dados
"confirmando" previsão.
- Legitimação matemática da discriminação: Antes era preconceito
explícito. Agora, "algoritmo neutro" diz onde patrulhar. Racismo ganha
verniz de objetividade científica.
- Conexão com Cap 3
(Gerenciamento Algorítmico): Mesmo sistema que otimiza rota de
entregador otimiza rota de viatura policial. Cibernética de controle aplicada à
morte.
🌍 Apartheid Farmacêutico Global: Centro vs Periferia (Caps 20-21)
Cap
21 mostrou Brasil como periferia digital. Cap 16 mostra também como
periferia farmacológica:
- Produção: Sul Global — Colômbia/Bolívia/Afeganistão produzem
coca/ópio, assumem todo risco/violência.
- Consumo de luxo: Norte Global — CEO Vale do Silício microdosa
psilocibina em retiro de US$ 5mil. Silk Road serve elite branca com acesso a
Tor/Bitcoin.
- Violência: Periferias do Sul — Guerra às Drogas mata no México
(150mil desde 2006), Brasil (genocídio juventude negra), Filipinas (execuções
extrajudiciais).
Apropriação cultural digitalizada: Ayahuasca de povos indígenas
amazônicos → vendida em app de "bem-estar" Silicon Valley por US$ 500/sessão.
Conhecimento milenar = mercadoria para elite. Cap 26 (Nhandereko
Guarani) critica extrativismo epistêmico.
🧠 Complexo Industrial-Terapêutico: Medicalização como Controle (Cap 13-14)
Mesma substância, status diferente conforme contexto:
- Anfetaminas: Ritalina/Venvanse para "otimizar performance" =
remédio. Metanfetamina para aguentar jornada dupla = crime. Química
idêntica, classe social diferente.
- Opioides: OxyContin prescrito por médico = terapia. Heroína na
cracolândia = vício criminoso. Mas indústria farmacêutica criou epidemia
opioides (Purdue Pharma pagou multa de US$ 8bi por marketing
criminoso).
- Psicodélicos: Psilocibina em clínica de US$ 10mil/tratamento =
"medicina revolucionária". Cogumelo mágico vendido em festival = tráfico.
Startup patenteia composto que povos indígenas usam há milênios.
Conexão com Cap
14
(Vício): Engenharia de vício não está só em jogos/apostas. Indústria
farmacêutica literalmente projetou opioides viciantes (marketing da Purdue:
"menos de 1% vicia" — mentira deliberada). Vício como modelo de negócio
também na medicina.
💡 Redução de Danos como Alternativa (ponte para Cap 24)
Cap
24 (Políticas) deve incluir política de drogas radicalmente
diferente:
- Descriminalização total: Portugal (2001) descriminalizou todas
as drogas. Resultado: mortes por overdose caíram 85%, infecções HIV caíram 90%,
uso problemático caiu 50%. Funciona.
- Redução de danos universal: Salas de uso supervisionado (Suíça,
Canadá), testagem de substâncias em festivais, distribuição de naloxona
(antídoto overdose). Trata usuário como pessoa que merece cuidado, não punição.
- Legalização regulada: Não via mercado (que criaria "Coca-Cola
das drogas"), mas via distribuição pública/cooperativa. Controle de qualidade,
sem lucro, acesso universal.
- Reparação histórica: Anistia para presos por tráfico de pequena
escala. Indenização para famílias destruídas por Guerra às Drogas. Investimento
massivo em tratamento + redução de danos em periferias.
Custo: Brasil gasta R$ 6,5 bi/ano em Guerra às Drogas (presídios
lotados, policiamento militarizado). Mesmo valor investido em saúde pública =
redução de danos universal + tratamento de qualidade para todos.
💊 Guerra às Drogas nunca foi sobre drogas: Foi, desde o início (Nixon
nos EUA, Ditadura no Brasil), guerra contra negros, pobres, periferias. Tecnologia
digital automatiza esse genocídio (policiamento preditivo, pânico moral 2.0).
Farmácia de apartheid = necropolítica algorítmica. Mesma substância =
remédio para ricos, crime para pobres. Cap 24 deve propor:
descriminalização total + redução de danos universal. Portugal provou que funciona.
Racismo algorítmico não se combate com mais IA — combate com fim da proibição.
📚 Leituras Complementares
- Nível Intermediário:
- Alexander, M. (2010). The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of
Colorblindness. (Um livro fundamental que argumenta que a Guerra às Drogas criou um
novo sistema de casta racial nos EUA).
- Hart, C. (2021). Drug Use for Grown-Ups: Chasing Liberty in the Land of Fear. (Um
neurocientista argumenta a favor do direito dos adultos ao uso recreativo de drogas como uma
questão de liberdade individual).
- Pollan, M. (2018). How to Change Your Mind: What the New Science of Psychedelics Teaches
Us About Consciousness, Dying, Addiction, Depression, and Transcendence. (O livro
que popularizou o "renascimento psicodélico" para um público mainstream).
- Nível Avançado:
- Eubanks, V. (2018). Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and
Punish the Poor. (Uma análise crítica de como os algoritmos e a análise de dados
estão sendo usados para gerenciar e punir os pobres).
- Bourgois, P. (2003). In Search of Respect: Selling Crack in El Barrio. (Uma
etnografia clássica que mostra a realidade social e econômica do tráfico de drogas em uma
comunidade pobre de Nova York).
Parte IV: História e Experimentos Alternativos
📍 Você está aqui
Partes
I-III ✓
→
Parte
IV
→
Parte V
→
Parte VI
→
Parte VII
→
Parte VIII
Progresso: ~55% do livro |
Tempo estimado: 2 horas para Parte IV
🎯 O que você vai
aprender nesta Parte
- Cibernética Socialista Soviética: OGAS e o sonho do planejamento
digital (Cap 17)
- Cybersyn Chileno: Experimento democrático de Allende (Cap 18)
- Autogestão Iugoslava: Socialismo de mercado com cibernética (Cap 19)
💡 Por que isso importa
A história não é determinada! Estes capítulos
mostram que cibernética para emancipação já foi tentada. O que funcionou? O
que falhou? Essas lições são fundamentais para pensar o futuro.
🌉 Ponte
Para a História: Da Crítica à Experiência
Nas três primeiras partes deste livro, construímos um arcabouço
teórico robusto para compreender o capitalismo digital. Vimos como o capital subsume o trabalho
através de mecanismos cada vez mais sofisticados (Partes I e II), analisamos correntes críticas contemporâneas — do Pós-Operaísmo à
Crítica do Valor — e exploramos como a lógica das plataformas captura diferentes dimensões da
vida, desde a sexualidade até o esporte, desde as drogas até a política (Parte
III).
Mas a crítica, por mais rigorosa que seja, não é suficiente. Se
queremos pensar alternativas ao capitalismo de plataforma, precisamos investigar as
tentativas reais, históricas e concretas de construir outros mundos possíveis.
A Parte IV não é um desvio nostálgico, mas um laboratório histórico. Os
experimentos de socialismo cibernético — o OGAS soviético, o Cybersyn chileno, as cooperativas
autogestionárias iugoslavas — nos mostram o que funcionou, o que falhou, e crucialmente, por
quê.
Essas experiências são pontes entre o "não deve ser assim" da
crítica teórica e o "pode ser diferente" da proposta política. Elas revelam que a tecnologia de
rede não está fadada a servir apenas ao controle capitalista: ela pode, sob outras condições
sociais e políticas, ser instrumento de planejamento democrático e emancipação coletiva. Ao
mesmo tempo, seus fracassos nos ensinam sobre os obstáculos — técnicos, mas sobretudo políticos
e burocráticos — que qualquer projeto de transformação precisa enfrentar.
Começamos com o projeto mais ambicioso e trágico: a tentativa
soviética de construir uma "internet vermelha" décadas antes da internet capitalista existir — o
sistema OGAS, que queria transformar o planejamento econômico através da cibernética.

Capítulo 17
Capítulo 17: OGAS — A Internet Vermelha da União Soviética
🔄 Recapitulando: De Teoria a História
Mudança de registro: Terminamos a Parte
V (aplicações setoriais) e agora entramos na Parte IV
(experimentos históricos). É hora de mudar de marcha.
📖 O que construímos até aqui (Caps 5-16)
- Parte II-III: Ferramentas teóricas — subsunção real, cibernética,
crítica do valor, Multidão
- Parte V (Caps 12-16): Vimos como a lógica cibernético-capitalista
penetra TUDO — gênero, sexualidade, lazer, esporte, até as resistências
- A grande pergunta não respondida: Se a cibernética serve ao capital
tão bem... ela poderia servir à emancipação?
🏛️ Agora (Caps 17-19): Vamos ao laboratório
da História. Antes de propor alternativas (Parte VI), precisamos aprender com
quem tentou. OGAS na URSS, Cybersyn no Chile, cooperativas digitais hoje — o que funcionou?
O que falhou? Por quê?
Estes capítulos são mais narrativos, menos abstratos. Respire. A densidade teórica diminui,
mas as lições políticas são cruciais.
Introdução: O Sonho de uma Economia Cibernética
Décadas antes de a ARPANET dar origem à internet que conhecemos, um projeto de ambição ainda
maior estava sendo concebido do outro lado da Cortina de Ferro. Este capítulo conta a história
fascinante e trágica do OGAS (Sistema Automatizado de Gestão da Economia
Nacional), a tentativa da União Soviética de construir uma "internet vermelha".
Liderado pelo genial matemático e ciberneticista Viktor Glushkov, o projeto
OGAS não visava conectar pessoas para fins de comunicação, mas sim conectar a economia inteira
em uma vasta rede de computadores para realizar o sonho de um planejamento econômico
verdadeiramente científico e em tempo real.
A história do OGAS é a história de uma oportunidade perdida, um vislumbre de um futuro
alternativo para a tecnologia da informação que nunca chegou a se concretizar. Analisar sua
proposta visionária, seus desafios técnicos e, principalmente, as intrigas burocráticas e os
interesses políticos que levaram ao seu fracasso, é fundamental para entendermos a complexa
relação entre tecnologia, poder e ideologia. É uma lição histórica que nos ajuda a questionar a
narrativa de que a internet que temos hoje era a única possível.
17.1 O Problema do Planejamento e a Promessa Cibernética
A economia de planejamento central da União Soviética, embora tenha alcançado uma
industrialização rápida e impressionante em seus primeiros anos, enfrentava um problema de
complexidade crescente a partir da década de 1950. A Gosplan, a agência estatal
de planejamento, precisava coordenar a produção e a distribuição de milhões de produtos
diferentes entre dezenas de milhares de empresas espalhadas por um território vasto. O volume de
informação era simplesmente esmagador para os métodos manuais e burocráticos da época. Os planos
quinquenais eram rígidos, incapazes de se adaptar a mudanças inesperadas, e a economia sofria
com gargalos, desperdício e ineficiência.
Os números eram absurdos: nos anos 1960, a Gosplan lidava com aproximadamente
12 milhões de preços diferentes, 40 milhões de especificações de produtos, e
precisava coordenar 50 mil empresas estatais. O plano quinquenal de 1965 tinha
70 volumes com 16.000 páginas de tabelas. E tudo isso era calculado por
burocratas com calculadoras mecânicas. Quando os dados chegavam ao centro, já estavam
desatualizados — o "tempo real" da Gosplan era de 6 meses a 2 anos de atraso.
Mais grave: as unidades produtivas mentiam sistematicamente. Gerentes de fábrica
inflavam necessidades de insumos (para ter margem de segurança) e deflavam suas capacidades
produtivas (para ter metas fáceis). A Gosplan planejava no escuro, baseada em informações
manipuladas. O resultado: crônica escassez de bens de consumo (filas intermináveis),
superprodução de bens industriais que ninguém queria, e desperdício massivo de matérias-primas.
📊
O que era a Gosplan?
A
Gosplan (Comitê Estatal de Planejamento) foi a agência central de
planejamento econômico da União Soviética, criada em 1921 e responsável por elaborar os
planos quinquenais que guiaram a economia soviética até o colapso da URSS em 1991. A
Gosplan coletava dados de milhares de empresas, fábricas e fazendas coletivas, e então
calculava — inicialmente à mão, depois com calculadoras mecânicas e, mais tarde,
computadores primitivos — quanto de cada produto deveria ser produzido, onde, e como os
recursos deveriam ser alocados. O desafio era monumental: coordenar milhões de insumos e
produtos em uma economia continental sem o mecanismo de preços do mercado. Na prática, a
Gosplan sofria de problemas crônicos: informação desatualizada ou manipulada pelas
unidades produtivas, rigidez (os planos demoravam anos para serem ajustados), e a
incapacidade de processar a complexidade da economia em tempo real. O resultado eram
descompassos: fábricas produzindo bens que ninguém queria, enquanto faltavam bens
essenciais. A experiência da Gosplan levantou a questão: o planejamento centralizado é
viável? E, com a tecnologia computacional moderna, seria possível fazer melhor?
⚠️
O Debate Impossível: Cálculo Socialista
Nos anos 1920-30,
economistas austríacos (Ludwig von Mises, Friedrich Hayek) argumentaram que o
cálculo econômico racional era impossível sem mercados e
preços. Sem o mecanismo de oferta/demanda, não há como saber quanto produzir de cada coisa.
Eles previam caos e colapso nas economias planejadas. Do outro lado, marxistas como
Oskar Lange responderam que o planejamento poderia simular preços através de
"preços-sombra" calculados centralmente. A cibernética entrou nesse debate como
promessa de solução técnica: com computadores potentes o suficiente, seria
possível calcular milhões de equações de equilíbrio em tempo real, superando tanto o
mercado caótico quanto a burocracia lenta. Glushkov e Kitov acreditavam que OGAS
provaria Hayek errado — o planejamento funcionaria se tivesse tecnologia adequada.
Mas eles subestimaram o problema político: a burocracia não queria eficiência, queria
poder. A questão nunca foi "é tecnicamente possível?" mas sim "quem controla
a informação?"
Foi nesse contexto que a cibernética, a ciência do controle e da comunicação em
sistemas complexos, surgiu como uma promessa revolucionária. Após um período inicial de
desconfiança, em que foi taxada de "pseudociência burguesa", a cibernética foi reabilitada no
final dos anos 50 e vista por muitos como a chave para modernizar o socialismo. Se a economia é
um sistema complexo, argumentavam os ciberneticistas soviéticos, então ela poderia ser otimizada
através de loops de feedback, modelagem matemática e processamento de dados.
A virada aconteceu em 1955-58. Após a morte de Stalin (1953), o "degelo" de
Khrushchev permitiu a reabilitação da cibernética. Em 1956, o matemático
Alexei Lyapunov publicou artigos defendendo-a como "ciência marxista-leninista
do controle ótimo". Em 1958, foi criado o primeiro laboratório de cibernética em Moscou.
Cientistas soviéticos, que haviam seguido Norbert Wiener em segredo, saíram da clandestinidade.
A narrativa mudou: cibernética não era mais "ideologia capitalista", mas sim
"arma para superar o capitalismo" — permitiria planejamento superior ao mercado.
Dois homens lideraram essa revolução:
👤
Anatoly Kitov: O Primeiro Visionário
Anatoly Kitov
(1920-2005) era coronel do Exército Vermelho e matemático. Em 1959, propôs ao Comitê
Central o EASU (Sistema Unificado de Computação Automatizada) — uma rede
dual: militar e econômica, aproveitando infraestrutura existente. A ideia era
genial: nos horários de paz, os computadores militares processariam dados econômicos.
Custo zero adicional, velocidade máxima. Mas Kitov cometeu erro fatal: mandou sua proposta
simultaneamente ao Partido e ao Ministério da Defesa. Os generais
se enfureceram: "Você quer compartilhar nossos segredos militares com planejadores
econômicos?!" Kitov foi demitido do Exército em 1960, sua proposta arquivada. Ele passou
o resto da vida na academia, vendo Glushkov receber crédito pela ideia que ele iniciou.
Lição: burocracia compartimentada prefere ineficiência a cooperação.
O primeiro a propor uma rede nacional de computadores foi Anatoly Kitov, com seu
"Sistema Automatizado de Gestão da Economia". No entanto, foi Viktor Glushkov,
diretor do Instituto de Cibernética de Kiev, quem desenvolveu a proposta mais ambiciosa e
detalhada: o OGAS. A visão de Glushkov era criar uma rede hierárquica de três camadas: um centro
de computadores principal em Moscou, conectado a até 200 centros de nível médio nas principais
cidades e regiões industriais, que por sua vez se conectariam a até 20.000 terminais locais
localizados em cada fábrica e empresa importante. Essa rede permitiria a coleta de dados
econômicos em tempo real e o ajuste dinâmico dos planos, superando a rigidez da Gosplan.
Glushkov chegou a sonhar com uma transição para uma economia sem dinheiro, onde todas as
transações seriam registradas eletronicamente na rede OGAS.
👤
Viktor Glushkov: O Arquiteto da Internet Vermelha
Viktor Glushkov
(1923-1982) era um prodígio matemático ucraniano que aos 40 anos já dirigia o prestigioso
Instituto de Cibernética de Kiev. Em 1962, ele apresentou ao Politburo
a proposta definitiva do OGAS (Obshchaia Sistema Avtomatizirovannaia — Sistema
Automatizado Geral). Sua visão era totalizante:
- Arquitetura em 3 camadas: (1) Centro em Moscou com supercomputadores;
(2) 200 centros regionais em cidades industriais; (3) 20.000 terminais em fábricas
- Rede de dados em tempo real: cada fábrica enviaria diariamente
indicadores de produção (inputs, outputs, estoques) para cima; o centro responderia
com ajustes nos planos
- Economia sem dinheiro: Glushkov sonhava abolir o rublo — toda
transação seria registro eletrônico (cartões magnéticos nos anos 60!). "Comunismo
automático"
- Inteligência distribuída: diferente da Gosplan centralizadora, OGAS
permitiria autonomia local dentro de parâmetros definidos pelo centro.
Fábricas poderiam ajustar produção sem aprovar em Moscou
- Custo: 20 bilhões de rublos ao longo de 15-20 anos — parece muito,
mas era 0,5% do PIB soviético e menos que o custo de erro e desperdício
do sistema existente
Glushkov era comunista
convicto, mas heterodoxo: acreditava que tecnologia poderia transcender política
— "O OGAS tornará a burocracia obsoleta; o sistema se auto-regulará". Erro fatal: ele
subestimou o fato de que a burocracia não queria ser obsoleta. Morreu em
1982, aos 58 anos, de ataque cardíaco após décadas de luta burocrática. Seu último
projeto, ignorado: rede de microcomputadores pessoais para escolas soviéticas — uma
"internet educacional" 10 anos antes da web.
17.1.1 A Proposta Técnica: Como o OGAS Funcionaria
Vamos entrar nos detalhes técnicos — porque eles importam. O OGAS não era fantasia; era engenharia
sólida baseada na tecnologia disponível nos anos 60:
1. Coleta de dados (camada baixa):
- Cada fábrica teria terminal teleimpressor conectado ao centro regional via
linhas telefônicas. Operadores digitariam dados diários: quantas toneladas de aço produzidas,
quanto carvão consumido, quantos trabalhadores presentes, etc.
- Dados seriam transmitidos em batch (lote) todas as noites — tecnologia já
existente, usada por bancos americanos nos anos 60
- Glushkov queria padronizar formatos de dados nacionalmente — algo que a Gosplan nunca conseguiu
(cada ministério tinha seus próprios formulários incompatíveis)
2. Processamento regional (camada média):
- 200 centros de computação regionais receberiam dados das fábricas de sua área,
agregariam, detectariam anomalias (produção caiu 20% sem explicação? Alerta!)
- Usariam computadores soviéticos da série BESM (desenvolvidos no início dos anos 60,
equivalentes aos IBM 7090 americanos)
- Poderiam tomar decisões locais automaticamente: realocar insumos entre fábricas
próximas, ajustar turnos, etc. — sem esperar Moscou
3. Coordenação nacional (camada alta):
- Centro em Moscou teria os computadores mais poderosos da URSS — Glushkov especificou
máquinas com 1 milhão de operações/segundo (para comparação: IBM System/360,
lançado em 1964, fazia 500 mil ops/seg)
- Rodaria modelos de otimização da economia inteira: programação linear para
alocar recursos, modelos input-output de Leontief para prever cadeias produtivas
- Não microgerenciaria — deixaria 80% das decisões para os níveis baixo e médio. Moscou só
interviria em crises ou decisões estratégicas (construir nova siderúrgica? Priorizar setor X?)
Era viável tecnicamente? Sim. A ARPANET americana (precursora da internet)
começou em 1969 com arquitetura similar (nós distribuídos, comutação de pacotes). O OGAS era mais
ambicioso (economia inteira vs. pesquisa acadêmica), mas não impossível. A URSS tinha
cientistas brilhantes e computadores competitivos. O que faltou foi vontade política.
17.2 A Batalha pelo OGAS: Intrigas Burocráticas e o Medo do Controle
A proposta do OGAS, apresentada formalmente em 1962, era tecnicamente visionária, mas
politicamente explosiva. Ela representava uma ameaça direta a várias facções poderosas dentro da
burocracia soviética. Os planejadores da Gosplan e do Ministério das Finanças viam o OGAS como
uma tentativa de usurpar seu poder e tornar seus cargos obsoletos. Eles não queriam um sistema
transparente e automatizado que expusesse as ineficiências e os "acordos" informais que eram
parte integrante da economia real.
Quem se opôs ao OGAS e por quê? Vamos mapear os jogadores:
17.2.1 A Gosplan: "Vocês querem nos substituir por máquinas?"
Os planejadores da Gosplan eram a aristocracia burocrática soviética. Eles controlavam a economia
há décadas, acumularam expertise (e poder) através de conhecimento tácito: quais fábricas eram
confiáveis, quais gerentes eram honestos, onde estavam os gargalos reais. O OGAS ameaçava
codificar esse conhecimento — torná-lo transparente, acessível a qualquer técnico.
Pior: exporia a ineficiência crônica que a Gosplan escondia.
Argumento público: "O custo de 20 bilhões de rublos é proibitivo. Não podemos
desviar recursos da defesa e do crescimento industrial para um experimento computacional."
Verdade oculta: O sistema atual desperdiçava muito mais — estimativas
(internas) sugeriam que 15-25% da produção industrial soviética era perdida em ineficiência,
produtos que ninguém queria, deterioração de estoques. Isso equivalia a
50-80 bilhões de rublos/ano. O OGAS se pagaria em 3-5 anos. Mas admitir isso
seria admitir fracasso da Gosplan.
🎭
A Economia Informal Soviética: "Blat" e "Tolkach"
A economia oficial era
ficção. A economia real funcionava via "blat" (contatos, favores)
e "tolkach" (fixadores ilegais). Exemplo: fábrica de tratores precisava
de rolamentos, mas Gosplan alocou para outra região. Solução? Gerente ligava para amigo em
outra fábrica, trocava rolamentos por chapas de aço "extra" que tinha no estoque não
declarado. Ou contratava um tolkach — intermediário semi-legal que "resolvia"
gargalos através de subornos, trocas, acordos sob a mesa. Sistema inteiro dependia
dessa opacidade. OGAS tornaria impossível: transações eletrônicas rastreáveis,
estoques visíveis em tempo real, impossível esconder "reservas". Para a burocracia,
transparência = morte. Daí a resistência feroz.
17.2.2 Os Ministérios: "Cada um por si"
A economia soviética era dividida em ministérios setoriais: Ministério da Indústria
Pesada, Ministério da Construção, Ministério da Agricultura, etc. Cada um era um império
burocrático independente com seus próprios planos, seu próprio sistema de dados, sua própria
hierarquia. O OGAS propunha integração horizontal — um sistema unificado que
atravessaria fronteiras ministeriais.
Para os ministros, isso era inaceitável: "Por que meu Ministério deveria
compartilhar dados com outros? Eles vão roubar nossos recursos! E se o OGAS decidir realocar
nossas fábricas para outro ministério?" Cada ministro defendeu seu feudo. Quando o Politburo
sugeriu um piloto-teste do OGAS em um setor (digamos, indústria química), os
outros ministérios sabotaram — se recusaram a fornecer dados de insumos que vinham de seus setores.
17.2.3 O Partido Comunista: Medo do Tecno-Autoritarismo
Ironia das ironias: a liderança do Partido, que exercia controle ditatorial sobre a sociedade,
tinha medo de que o OGAS se tornasse um "ditador eletrônico" fora do controle
político. Em reuniões secretas (reveladas por documentos desclassificados nos anos 90),
ideólogos do Partido expressaram preocupação:
- "E se o computador recomendar algo contrário à linha do Partido?" —
digamos, que o OGAS calcule que é mais eficiente importar grãos do que coletivizar mais
fazendas. Seguimos a máquina ou a ideologia?
- "Estaríamos entregando o poder a uma elite técnica" — ciberneticistas,
matemáticos, engenheiros. "Eles não são quadros políticos leais. E se virarem tecnocratas
bonapartistas?"
- "É imitação do Ocidente" — alguns conservadores viam cibernética como
"cavalo de Troia" capitalista. "Computadores vêm da IBM. Redes vêm da ARPA militar americana.
Não estaríamos copiando o inimigo?"
Brezhnev, líder após 1964, nunca entendeu o OGAS — e desconfiava. Em uma reunião (relatada por
Benjamin Peters em How Not to Network a Nation), quando Glushkov tentou explicar redes
de computadores, Brezhnev interrompeu: "Mas quem controla esse sistema? Você?"
Glushkov: "Não, camarada, o sistema se auto-regula via feedback..." Brezhnev: "Auto-regula?
Nada se auto-regula na União Soviética. O Partido regula." Fim da conversa.
Além disso, a liderança mais conservadora do Partido Comunista via com desconfiança a ideia de
entregar o controle da economia a uma elite de tecnocratas e a um sistema de máquinas. Havia um
medo profundo de que o OGAS se tornasse um "Big Brother" eletrônico, um sistema de vigilância e
controle total que minaria o poder político do Partido. Glushkov e seus aliados tentaram
argumentar que o sistema era apenas uma ferramenta para otimizar as decisões, mas a desconfiança
persistiu.
17.2.4 A Aliança Paradoxal: Reformistas de Mercado Contra o OGAS
Em uma das reviravoltas mais irônicas da história, economistas reformistas — que
queriam liberalizar a economia soviética, introduzir mecanismos de mercado, dar autonomia
às empresas — também se opuseram ao OGAS. Por quê?
Porque temiam que um planejamento central eficiente fortalecesse os ortodoxos. Se o OGAS
funcionasse, seria argumento para manter o sistema de comando ao invés de
reformá-lo. Economistas como Evsei Liberman (pai das reformas Kosygin de 1965)
defendiam "socialismo de mercado" — empresas estatais competindo entre si, preços flexíveis, lucro
como indicador. O OGAS ia na direção oposta: mais planejamento, mais coordenação central.
Resultado absurdo: conservadores e reformistas, por razões opostas, se uniram contra
Glushkov. Conservadores diziam "OGAS é perigoso, pode escapar do controle do Partido". Reformistas
diziam "OGAS vai perpetuar o planejamento obsoleto ao invés de abrir para o mercado". Glushkov ficou
preso no meio — nem ortodoxo o suficiente para os stalinistas, nem liberal o suficiente para os
reformadores. Terceira via foi esmagada por aliança tática dos extremos.
A batalha pelo financiamento do OGAS se arrastou por quase uma década. Os oponentes do projeto
usaram várias táticas para sabotá-lo: argumentaram que o custo era proibitivo (embora fosse uma
fração do orçamento militar ou do programa espacial), que a tecnologia não era confiável, e até
mesmo que a ideia de uma rede de informações era uma imitação do sistema capitalista americano.
Em uma reviravolta irônica, os reformistas econômicos, que queriam introduzir mais mecanismos de
mercado na economia soviética, também se opuseram ao OGAS, pois temiam que um planejamento
central mais eficiente fortalecesse a ala mais ortodoxa do Partido.
17.2.5 A Morte Lenta: 1962-1970
Glushkov não desistiu. Entre 1962-1970, ele:
- 1963: Publicou livro "Introdução à Cibernética" — bestseller com
300 mil cópias vendidas, popularizando a visão
- 1964: Apresentou proposta revisada ao novo governo Brezhnev-Kosygin — custo
reduzido para 10 bilhões, prazo 10 anos. Rejeitada novamente.
- 1965: Conseguiu aprovação para piloto em pequena escala —
rede conectando 20 empresas químicas da Ucrânia. Funcionou! Reduziu tempo de planejamento de
3 meses para 1 semana. Mas não foi expandido.
- 1967: Última tentativa desesperada: carta aberta ao Comitê Central advertindo
que "os EUA estão construindo redes de computadores (ARPANET) e vão nos superar
tecnologicamente". Apelo nacionalista. Não funcionou.
- 1970: Politburo toma decisão final: NÃO ao OGAS integrado.
Em vez disso, cada ministério pode desenvolver seus próprios sistemas incompatíveis. "Autonomia
departamental" (= caos).
O que aconteceu depois: Nas décadas de 70-80, a URSS construiu centenas de sistemas
computacionais locais — mas nenhum falava com o outro. Ministério da Agricultura tinha seu sistema,
incompatível com o do Ministério de Transporte. Fábricas compraram computadores que ficaram
subutilizados. Desperdício massivo. Pior dos mundos: gastaram o dinheiro do OGAS, mas sem
os benefícios da integração.
Em 1982, Glushkov morreu de ataque cardíaco. Tinha 58 anos. Colegas relatam que estava exausto —
duas décadas de luta burocrática o esgotaram. Seu obituário no Pravda foi respeitoso mas
genérico: "eminente cientista, contribuiu para cibernética soviética". Nenhuma menção ao OGAS.
A internet vermelha morreu com ele — ou melhor, foi assassinada pela burocracia anos antes.
⚔️ Conexão Teórica: Cibernética de 1ª Ordem vs. Poder Burocrático
Por que o OGAS falhou e o Cybersyn (Cap 18) quase funcionou? Resposta está em
Cap 6 (Cibernética de 2ª Ordem).
OGAS era cibernética de 1ª ordem — sistema observa economia de fora, tenta controlar.
Não incluía observador (burocracia) no sistema observado. Glushkov assumiu que burocratas seriam
agentes racionais que aceitariam eficiência. Erro. Burocracia não otimiza
sistema, otimiza sua própria sobrevivência.
Cybersyn (Cap 18) aprendeu: Beer projetou sistema que incluía trabalhadores no loop
de feedback. Não era comando de cima pra baixo, mas co-design. Por isso enfrentou menos
resistência interna (mas foi esmagado por golpe externo). Lição dialética: tecnologia
sem transformação das relações sociais = ferramenta capturada pelas velhas estruturas de poder.
OGAS tentou mudar economia sem mudar política. Impossível.
Em 1970, o destino do OGAS foi selado. O Politburo negou o financiamento para o projeto integrado
de Glushkov, optando por uma abordagem fragmentada, permitindo que cada ministério e empresa
desenvolvesse seus próprios sistemas de informação incompatíveis entre si. Foi a vitória da
burocracia sobre a eficiência, do poder departamental sobre a visão de um sistema integrado. A
União Soviética perdeu sua chance de construir a internet.
17.3 E Se Tivesse Funcionado? Futuros Alternativos
Exercício contrafactual: Imagine que o Politburo aprova o OGAS em 1964.
Implementação começa em 1965, rede completa em 1980. Como seria a história?
Cenário Otimista: Socialismo Cibernético Funciona
- Eficiência econômica: URSS elimina 15-20% de desperdício, economia cresce
2-3% a mais por ano. Nos anos 80, PIB soviético iguala ou supera os EUA.
- Qualidade de vida: Menos escassez de bens de consumo (planejamento responde
a demanda real). Filas diminuem. População mais satisfeita.
- Competição tecnológica: URSS tem internet antes dos EUA (OGAS fica online
em 1975; ARPANET vira internet civil só em 1983). Mundo digital nascido bilíngue
(russo/inglês).
- Política externa: Modelo soviético vira atrativo para Terceiro Mundo —
"socialismo high-tech" vs. "capitalismo caótico". Guerra Fria termina diferente.
- Glasnost/Perestroika: Talvez nem aconteça — sistema não entra em crise
terminal nos anos 80. URSS sobrevive.
Cenário Pessimista: Distopia Cibernética
- Vigilância total: OGAS vira Panóptico eletrônico. Cada transação rastreada
(economia sem dinheiro = sem anonimato). KGB integra rede, monitora dissidentes via padrões
de consumo.
- Tecnocracia autoritária: Poder passa de Partido para elite de engenheiros.
"Ditadura dos ciberneticistas". Pior que burocracia — pelo menos burocratas eram humanos.
- Rigidez automatizada: Sistema muito eficiente vira inflexível.
Mudanças (inovação, novos produtos) precisam reprogramar sistema inteiro. Economia paralisa.
- Colapso catastrófico: Um bug no código causa falha em cascata (tipo
bug do milênio). Economia inteira trava. Caos. Revolução.
Cenário Realista: Mudaria Pouco
Historiador Francis Spufford (Red Plenty) sugere que OGAS teria melhorado
eficiência marginal, mas não resolvido problemas fundamentais:
- Problema de incentivos permanece: Gerentes continuariam mentindo pro sistema
(agora mentiriam pros computadores ao invés de pra Gosplan)
- Inovação ainda travada: Planejamento (mesmo cibernético) favorece produção
em massa de produtos padronizados. Inovação disruptiva requer experimento, falha, caos criativo
— o oposto de otimização
- Falta de feedback de consumidores: OGAS otimizaria produção, mas
produção de quê? Sem preços de mercado real, sistema não sabe o que pessoas querem.
Produziria com eficiência as coisas erradas.
- Crise política inevitável: Problemas da URSS eram políticos (nacionalismo
reprimido, falta de democracia, gerontocracia), não apenas técnicos. OGAS não resolveria isso.
Conclusão do contrafactual: OGAS teria sido grande experimento — talvez comprasse
10-20 anos para URSS, talvez criasse nova forma de autoritarismo. Mas sem democracia, sem controle
social do planejamento, provavelmente fracassaria a longo prazo. Tecnologia não substitui
política.
Conclusão: As Lições do Fracasso
O fracasso do OGAS não foi primariamente técnico. Embora os desafios de construir uma rede
daquela escala nos anos 60 e 70 fossem imensos, eles não eram intransponíveis. O fracasso foi,
acima de tudo, político, enraizado na própria estrutura de poder do Estado
soviético. O projeto foi esmagado pela lógica de poder de um estrato burocrático que
monopolizava o planejamento econômico e o aparato estatal.
A proposta de transparência e otimização do OGAS era uma ameaça existencial a um sistema que
operava com base na opacidade, em negociações informais e no poder dos ministérios individuais.
A história do OGAS nos ensina uma lição crucial: a tecnologia, por mais poderosa que seja, não
existe no vácuo. Um sistema de planejamento cibernético não pode ser simplesmente 'instalado'
sobre uma estrutura onde a tomada de decisões é o domínio exclusivo de uma burocracia apartada
da sociedade.
Ele exige, para sua sobrevivência e eficácia, mecanismos que submetam o processo de planejamento
ao controle social e dos produtores diretos, capazes de contestar e superar a
resistência dos interesses burocráticos. A internet vermelha morreu não por falta de bits e
bytes, mas pela incapacidade da estrutura de poder de ceder seu monopólio sobre a informação e
se abrir a uma racionalidade que não fosse a da sua própria autopreservação.
Cinco Lições Críticas do OGAS
1. Informação é Poder (Literal)
O OGAS falhou porque descentralizar informação significava descentralizar poder
— e a burocracia não estava disposta a fazer isso. Hoje, empresas de tecnologia (Google, Amazon,
Meta) aprenderam a lição oposta: centralizar informação para centralizar poder.
Controlam dados de bilhões de pessoas, vendem previsões de comportamento. São Gosplan privados,
mas sem a incompetência. Conexão ao Cap 3:
Capitalismo de vigilância é OGAS invertido — tecnologia de planejamento usada não para coordenar
produção para necessidades, mas para manipular demanda para lucro.
2. Tecnologia sem Democracia = Ferramenta de Dominação
Glushkov era socialista, mas tecnocrático — acreditava que sistema bem-projetado se auto-regularia,
dispensaria política. Errado. Qualquer sistema de planejamento (cibernético ou não)
precisa responder à pergunta: planejamento para quem? Decidido por quem? URSS nunca teve
democracia operária real (controle dos trabalhadores sobre produção), então planejamento servia à
burocracia. Conexão ao Cap 26 (Nhandereko):
Guaranis ensinam que tecnologia deve ser relacional — a serviço da comunidade, decidida
coletivamente. OGAS falhou porque não tinha isso.
3. A Maldição da Compatibilidade Reversa
Por que ministérios sabotaram OGAS? Porque investiram em sistemas incompatíveis
e não queriam perdê-los. "Dependência de trajetória" (path dependence) — decisões ruins
do passado travam possibilidades do futuro. Paralelo contemporâneo: Por que é
tão difícil substituir combustíveis fósseis? Porque indústrias investiram trilhões em infraestrutura
petroleira. Por que blockchains não substituem bancos? Porque sistema financeiro está enraizado.
Lição: transformação requer não só tecnologia melhor, mas poder político
para quebrar interesses instalados.
4. Timing é Tudo — A Janela Perdida
Nos anos 1960, URSS tinha vantagem: computadores soviéticos (BESM) eram competitivos, cientistas
brilhantes, vontade política de modernização (pós-Sputnik). Se OGAS tivesse sido aprovado
em 1962, URSS teria internet antes dos EUA. Mas hesitação de 8 anos (1962-70) foi fatal.
Em 1969, ARPANET ficou online. Em 1971, Intel lançou microprocessador. Revolução digital estava
acontecendo — e URSS ficou pra trás. Nos anos 80, quando finalmente tentaram modernizar
(Perestroika), era tarde. Lição: oportunidades históricas têm prazo de validade.
Burocracia é lenta; revolução tecnológica não espera.
5. O Paradoxo do Planejamento Ótimo
OGAS assumia que mais informação = melhores decisões. Mas economista Hayek
(crítico do planejamento) estava parcialmente certo: conhecimento local, tácito, contextual
não pode ser transmitido para o centro. Gerente de fábrica sabe coisas (moral dos
trabalhadores, quirks da máquina, cultivo do fornecedor local) que nenhum telex comunica.
Sistema centralizado perde essa riqueza. Solução não é mercado (como Hayek queria),
mas descentralização democrática — planejamento subsidiário (decisões locais no nível
local, coordenação só no nível necessário). Cybersyn chileno (Cap 18) entendeu isso;
OGAS não.
🔮 Síntese Dialética: OGAS como Momento Necessário
Tese (Cap 1-2): Capitalismo gera anarquia da produção — mercado caótico,
crises cíclicas, desperdício. Marx defendeu planejamento racional.
Antítese (Cap 17 — OGAS): Planejamento burocrático centralizador falha —
não por tecnologia, mas por falta de democracia. Burocracia defende seus interesses, não da
classe trabalhadora.
Síntese (Cap 18 — Cybersyn): Planejamento democrático e descentralizado
com cibernética — workers' control + coordenação em tempo real. Não é nem anarquia de mercado
nem comando burocrático, mas terceira via.
OGAS não foi fracasso inútil — foi momento dialético
necessário. Provou que planejamento técnico sem transformação política não funciona. Preparou
terreno para próxima tentativa (Cybersyn) que aprendeu essas lições. História avança
por negações determinadas: cada tentativa fracassada ensina algo, supera limitações
anteriores, aproxima da forma adequada. OGAS morreu, mas ideia sobrevive — esperando condições
políticas certas para renascer.
🇧🇷
Perspectiva Periférica: BNDES e o Planejamento Desenvolvimentista
Brasileiro
O Brasil nunca tentou
construir um "OGAS tropical", mas teve sua própria experiência com planejamento
econômico através do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social), criado em 1952. Durante governos desenvolvimentistas (Vargas, JK,
Geisel, Lula), o BNDES funcionou como mecanismo de planejamento estatal: direcionava
crédito subsidiado para setores estratégicos (infraestrutura, indústria pesada, mais
recentemente energia limpa e inovação), funcionando como "seletor de campeões
nacionais". Nos anos 2000, sob Lula/Dilma, o BNDES atingiu seu auge: chegou a emprestar
mais que o Banco Mundial globalmente, financiando desde petroquímicas até frigoríficos.
Mas enfrentou dilemas similares ao OGAS: 1) Captura corporativa —
grandes grupos econômicos (Odebrecht, JBS, Petrobras) capturaram o banco, direcionando
recursos para seus interesses privados, culminando em escândalos de corrupção (Lava
Jato); 2) Opacidade burocrática — decisões de financiamento tomadas por
tecnocracia isolada, sem controle social ou participação dos trabalhadores; 3)
Contradições de classe — financiou tanto programas sociais quanto empresas
que superexploravam trabalho. Pós-2016, sob Temer/Bolsonaro, o BNDES foi deliberadamente
esvaziado (redução de 90% dos desembolsos), desmontando capacidade de planejamento.
Lição brasileira: planejamento estatal sem democracia direta dos produtores = captura
por elites. Glushkov morreu derrotado pela burocracia soviética; o BNDES
desenvolvimentista foi derrotado por golpe parlamentar e captura corporativa. Mesma
lição: técnica sem poder popular = fracasso.
---
🔑 Mini-Glossário do Capítulo
- Cibernética: A ciência do controle e da comunicação em sistemas complexos,
tanto em animais quanto em máquinas. Foi fundamental para o desenvolvimento da computação e da
inteligência artificial.
- Gosplan: A agência de planejamento central da União Soviética, responsável
pela elaboração dos planos quinquenais que governavam a economia.
- OGAS (Sistema Automatizado de Gestão da Economia Nacional): O projeto
soviético para criar uma rede de computadores em escala nacional para gerenciar a economia em
tempo real. Foi proposto por Viktor Glushkov na década de 1960.
- Viktor Glushkov (1923-1982): Um dos pais fundadores da ciência da computação e
da cibernética na União Soviética. Foi o principal arquiteto e proponente do projeto OGAS.
- Anatoly Kitov (1920-2005): Coronel e matemático soviético que propôs o primeiro
sistema de rede de computadores (EASU) em 1959, precursor do OGAS.
- Blat: Sistema informal soviético de favores e contatos pessoais usado para
contornar ineficiências do planejamento central.
- Tolkach: "Fixer" ou intermediário semi-legal que resolvia gargalos na economia
soviética através de trocas e acordos sob a mesa.
- Debate do Cálculo Socialista: Controvérsia econômica (anos 1920-40) sobre se
planejamento central poderia coordenar economia de forma racional sem mercados e preços.
- BESM: Série de computadores soviéticos desenvolvidos nos anos 1950-60,
competitivos com máquinas ocidentais da época.
- Path Dependence (Dependência de Trajetória): Conceito econômico que descreve
como decisões passadas limitam possibilidades futuras, mesmo quando alternativas melhores existem.
💭 Exercícios de Análise
1. O Dilema do Planejador: Imagine que você é um funcionário de alto escalão da
Gosplan em 1965. Você ouve a proposta de Glushkov para o OGAS. Por um lado, ela promete resolver
os problemas de ineficiência que você enfrenta todos os dias. Por outro, ela tornaria seu cargo
e seu conhecimento especializado obsoletos. Qual seria sua posição? Por quê? Agora, adicione
uma camada: você tem família para sustentar, filhos na universidade em Moscou (privilégio de
elite burocrática). Se OGAS for implementado e seu cargo eliminado, você perde tudo. Sua posição
mudaria?
2. Internet Capitalista vs. Internet Socialista: Compare a visão do OGAS (uma
rede centralizada para o planejamento econômico) com a visão da ARPANET (uma rede
descentralizada para a comunicação militar e acadêmica). Como as diferentes origens políticas e
ideológicas moldaram o design técnico de cada projeto? Questão bônus: A internet que temos
hoje (Web 2.0 dominada por plataformas) se parece mais com OGAS (centralização) ou ARPANET
(descentralização)? O que isso diz sobre "neutralidade" da tecnologia?
3. Tecnologia e Poder: O fracasso do OGAS mostra que a burocracia pode resistir
a uma tecnologia que ameaça seu poder. Você consegue pensar em exemplos contemporâneos onde uma
nova tecnologia (por exemplo, a inteligência artificial, a energia renovável, blockchain) enfrenta a
resistência de interesses estabelecidos? Quem são esses interesses e que táticas eles usam?
Pense especificamente: indústria automobilística vs. transporte público, Big Tech vs. regulação
de privacidade, bancos vs. criptomoedas.
4. Hayek vs. Glushkov — Quem Estava Certo? Hayek argumentou que planejamento
central era impossível porque conhecimento está disperso e não pode ser centralizado. Glushkov
argumentou que computadores resolveriam isso. À luz do fracasso do OGAS (político, não técnico),
quem estava certo? Ou ambos estavam parcialmente errados? Dica: Pense no que Beer e Cybersyn
fizeram diferente.
5. Contrafactual Digital: Se o OGAS tivesse sido implementado em 1965 e funcionado,
como seria a internet hoje? Bilíngue (russo/inglês)? Modelo de propriedade diferente (estatal vs.
privado)? Mais ou menos privacidade? Mais ou menos inovação? Defenda sua hipótese com argumentos.
📚 Leituras Complementares
- Nível Intermediário:
- Peters, B. (2016). How Not to Network a Nation: The Uneasy History of the Soviet
Internet. (O livro mais completo e acessível sobre a história do OGAS e de outras
tentativas soviéticas de criar redes de computadores).
- Gerovitch, S. (2002). From Newspeak to Cyberspeak: A History of Soviet Cybernetics.
(Um livro excelente sobre a história da cibernética na URSS, desde sua proibição até sua
ascensão).
- Nível Avançado:
- Medina, E. (2011). Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's
Chile. (Embora seja sobre o Chile, este livro é uma leitura essencial para comparar o
projeto Cybersyn, que veremos no próximo capítulo, com o OGAS).
---
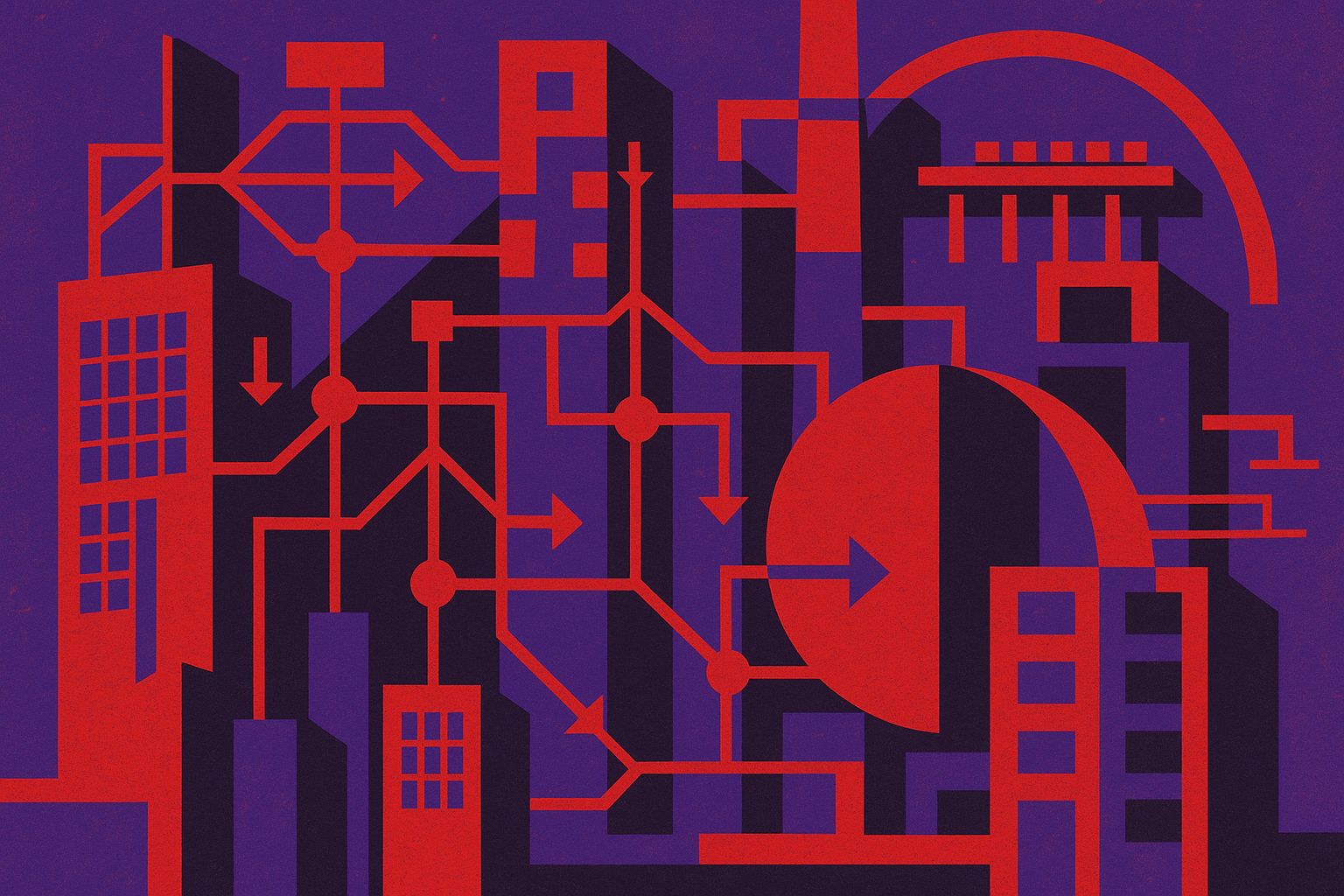
Capítulo 18
Capítulo 18: Projeto Cybersyn — A Cibernética com Cheiro de Vinho Tinto e Empanadas
Introdução: A Via Chilena para o Socialismo Digital
No início dos anos 70, o Chile era um caldeirão de efervescência política e esperança
revolucionária. A eleição de Salvador Allende, em 1970, à frente da coalizão Unidade Popular,
inaugurou um experimento único na história: a tentativa de construir o socialismo através de
meios pacíficos e democráticos. Nesse clima de otimismo, a ciência e a tecnologia não eram
vistas como ferramentas de dominação, mas como aliadas na construção de uma nova sociedade. É
nesse contexto que surge um dos projetos mais fascinantes e visualmente icônicos da história da
tecnologia: o Projeto Cybersyn.
A história começa quando Fernando Flores, um jovem engenheiro que se tornou um dos ministros de
Allende, leu o livro "Brain of the Firm" do ciberneticista britânico Stafford Beer. Flores
percebeu que as ideias de Beer sobre gestão e organização poderiam ser a chave para coordenar a
economia chilena, que passava por um amplo processo de nacionalização. Ele escreveu a Beer, que,
para sua surpresa, aceitou o convite com entusiasmo e se mudou para o Chile para liderar o
projeto. O resultado foi o Cybersyn, uma tentativa de criar um sistema de gestão econômica em
tempo real que, ao contrário do OGAS, não se baseava no controle central, mas na autonomia dos
trabalhadores e na participação popular.
18.1 Chile 1970: O Contexto da Via Chilena ao Socialismo
Para entender por que o Cybersyn nasceu no Chile — e não na URSS, nos EUA ou na Europa — é preciso
compreender o momento histórico único que o país vivia. Em 4 de setembro de 1970, Salvador Allende,
candidato da coalizão Unidade Popular (que reunia socialistas, comunistas e outros
partidos de esquerda), venceu as eleições presidenciais com 36,6% dos votos. Pela primeira vez na
história, um governo marxista chegava ao poder através de eleições democráticas, sem revolução armada,
sem golpe, sem guerra civil.
O programa da Unidade Popular era ambicioso: nacionalizar o cobre (principal riqueza do país, controlada
por empresas americanas), realizar reforma agrária, expandir direitos trabalhistas e construir o
socialismo respeitando a legalidade democrática e o pluralismo político. Era a "via chilena ao
socialismo" — uma terceira via entre o capitalismo ocidental e o modelo soviético autoritário.
Allende enfrentava pressão de todos os lados: da direita chilena (apoiada por latifundiários e grandes
empresários), dos Estados Unidos (que via o Chile como "ameaça comunista" na América Latina, aplicando
embargo econômico e financiando oposição), e da própria esquerda radical (que o criticava por ser
"reformista demais").
Nesse contexto de efervescência política, entusiasmo popular e bloqueio econômico externo, o governo
precisava urgentemente de ferramentas para coordenar a economia nacionalizada em tempo real.
Com centenas de empresas passando do controle privado para o setor público, como garantir que matérias-primas
chegassem às fábricas? Como detectar gargalos antes que virassem crises? Como envolver os trabalhadores nas
decisões? Foi para responder essas perguntas que o Cybersyn foi concebido — não como experimento acadêmico,
mas como ferramenta de sobrevivência política de um governo democrático sitiado.
🎯 Contexto Geopolítico: A Guerra Fria na América Latina
O Chile de Allende não operava no vácuo — estava no epicentro da Guerra Fria. Richard
Nixon e Henry Kissinger declararam explicitamente que "não deixariam o Chile virar outra Cuba". A CIA
investiu mais de US$ 8 milhões (equivalente a ~US$ 50 mi hoje) para desestabilizar o governo: financiou
oposição, comprou jornais para propaganda anti-Allende, organizou greves patronais (como a dos caminhoneiros
de 1972) e planejou o golpe militar de 1973.
💡 Por que os EUA temiam Cybersyn? Porque ele provava que planejamento socialista
FUNCIONAVA sem autoritarismo. Se o Chile demonstrasse que democracia + socialismo + tecnologia =
sucesso econômico, outros países da América Latina poderiam seguir o exemplo. O Cybersyn não foi destruído
porque "falhou tecnicamente" — foi assassinado porque estava funcionando. Esta é a lição mais
importante: alternativas ao capitalismo não fracassam por inviabilidade técnica, mas porque o
imperialismo as destrói pela força.
18.2 O Modelo do Sistema Viável: A Filosofia de Stafford Beer
Para entender o Cybersyn, é preciso primeiro entender a filosofia de seu criador. Stafford Beer
era uma figura singular: um renomado consultor de gestão que trabalhava para grandes
corporações, mas também um homem com profundas simpatias socialistas, interessado em misticismo
e com um estilo de vida boêmio. Sua principal contribuição teórica foi o Modelo do
Sistema Viável (VSM), e é essa a base conceitual de todo o projeto chileno.
O VSM é um modelo de organização inspirado no sistema nervoso humano. Beer argumentava que
qualquer sistema capaz de sobreviver e se adaptar (ou seja, um sistema "viável", seja ele um
organismo, uma empresa ou uma economia nacional) precisa ter uma estrutura específica que
equilibre duas forças opostas: a autonomia de suas partes operacionais (as
células do corpo, as fábricas na economia) e a coesão do sistema como um todo.
Um excesso de controle central sufoca a capacidade de adaptação local; um excesso de autonomia
leva à desintegração.
🧠 Os 5 Sistemas do VSM: Anatomia da Viabilidade
Beer descreveu cinco subsistemas que todo sistema viável precisa ter (seja uma célula,
uma cooperativa ou uma economia nacional):
- Sistema 1 (Operações): Unidades autônomas que fazem o trabalho real (fábricas,
células musculares). No Cybersyn: cada empresa nacionalizada operava com autonomia, tomando decisões
locais sobre produção, turnos, manutenção.
- Sistema 2 (Coordenação): Previne conflitos entre as unidades operacionais (como o
cerebelo coordena movimentos). No Cybersyn: protocolos de comunicação via telex garantiam que
fábrica A não pedisse toda a matéria-prima, deixando fábrica B sem nada.
- Sistema 3 (Controle Operacional): Otimiza o uso de recursos no presente (metabolismo).
No Cybersyn: software Cyberstride analisava dados diários, identificava gargalos, sugeria realocação de
recursos.
- Sistema 4 (Inteligência/Planejamento): Monitora ambiente externo, planeja futuro
(córtex pré-frontal). No Cybersyn: equipe de economistas simulava impactos de políticas, alertava sobre
crises externas (bloqueio econômico dos EUA).
- Sistema 5 (Política/Identidade): Define valores, prioridades, identidade do sistema
(consciência). No Cybersyn: governo Allende + assembleias de trabalhadores decidiam para quê
produzir (priorizar bens essenciais vs luxo, por exemplo).
💡 Diferença crucial com OGAS: No modelo soviético, Sistema 5 (Politburo) tentava
controlar Sistema 1 (fábricas) diretamente, ignorando Sistemas 2-4. Resultado: burocracia, lentidão,
desperdício. No VSM de Beer, cada sistema tem autonomia em sua camada — o centro não
microgerencia, apenas define direção e fornece recursos. Por isso Cybersyn era 2ª ordem (observa a si
mesmo via feedback) e OGAS era 1ª ordem (comando top-down sem feedback real).
👤
A Biografia de Stafford Beer
Stafford
Beer (1926-2002) foi um teórico britânico da administração e cibernética,
considerado o pai da cibernética organizacional. Após servir na Segunda Guerra Mundial,
Beer trabalhou na indústria siderúrgica britânica, onde ficou frustrado com a
ineficiência das estruturas hierárquicas tradicionais. Ele desenvolveu o Modelo
de Sistema Viável (VSM), uma teoria de como organizações deveriam ser
estruturadas para se adaptar e sobreviver, inspirada na estrutura do sistema nervoso
humano. Beer argumentava que organizações deveriam ser descentralizadas, com autonomia
local, mas coordenadas por sistemas de informação em tempo real. Em 1971, foi convidado
pelo governo socialista de Salvador Allende no Chile para implementar suas ideias no
Projeto Cybersyn. Beer viveu no Chile durante o projeto, trabalhando intensamente com
engenheiros e economistas chilenos. Após o golpe de Pinochet em 1973, que destruiu o
Cybersyn, Beer ficou profundamente abalado. Ele passou o resto da vida escrevendo, dando
palestras e defendendo a cibernética como ferramenta de emancipação social. Beer era um
visionário, um poeta da cibernética, que acreditava que a tecnologia poderia ser usada
para construir sociedades mais justas e participativas.
18.3 Fernando Flores: O Arquiteto Político do Cybersyn
Se Stafford Beer era o cérebro teórico do Cybersyn, Fernando Flores era seu coração
político. Nascido em 1943, Flores era um jovem engenheiro e político chileno, formado na Universidade
Católica do Chile com mestrado em engenharia. Aos 27 anos, tornou-se o Ministro de Economia e
depois Diretor-Geral da CORFO (Corporação de Fomento da Produção), órgão responsável pelas
empresas estatais. Flores não era apenas um tecnocrata — era um intelectual influenciado por filosofia
continental (especialmente Heidegger) e cibernética, e via a tecnologia como ferramenta de emancipação
política.
Foi Flores quem leu "Brain of the Firm" de Beer e, reconhecendo ali a solução para o desafio chileno,
escreveu uma carta ao ciberneticista britânico em 1971. Para sua surpresa, Beer respondeu imediatamente
com entusiasmo e aceitou viajar ao Chile para trabalhar no projeto — sem cobrar honorários,
movido apenas por convicção política. Flores articulou apoio político dentro do governo Allende, negociou
com sindicatos, coordenou a equipe de jovens engenheiros chilenos (a maioria na casa dos 20 anos) e
desenhou a interface entre a teoria cibernética de Beer e as necessidades concretas da economia chilena.
👤
Fernando Flores — Trajetória Após o Golpe
Quando Pinochet deu o golpe em
11 de setembro de 1973, Fernando Flores foi preso e torturado por três anos em campos de concentração
(incluindo a infame Ilha Dawson, no extremo sul do Chile). Libertado em 1976 por pressão internacional,
exilou-se nos Estados Unidos. Lá, completou PhD em filosofia da linguagem na UC Berkeley, estudando
com Hubert Dreyfus (filósofo especialista em Heidegger e crítico da IA tradicional). Nos anos 80-90,
Flores tornou-se empresário de tecnologia, fundando empresas de software (Action Technologies, Business
Design Associates) que aplicavam suas ideias sobre coordenação e linguagem. Também foi mentor de figuras
como Terry Winograd (orientador de Larry Page, fundador do Google). Flores nunca abandonou sua visão
política — continuou escrevendo sobre design de sistemas que ampliam capacidades humanas, não que as
substituem. Retornou ao Chile nos anos 2000 e foi eleito senador (2001-2009), defendendo educação e
tecnologia pública. Hoje, aos 81 anos, é referência global em design ontológico e gestão do conhecimento.
Sua vida prova que cibernética emancipatória sobrevive à repressão.
Flores introduziu um elemento crucial que faltava no OGAS soviético: participação dos trabalhadores
no design do sistema. Ele organizou reuniões em fábricas onde operários e engenheiros discutiam
quais dados eram relevantes, como deveriam ser apresentados, quem teria acesso às informações. Não era
apenas "implementação técnica" — era co-design democrático. Esta é a diferença entre
cibernética de 1ª ordem (tecnocratas decidem sozinhos) e 2ª ordem (sistema inclui seus usuários no loop
de design). Cybersyn só funcionou porque os trabalhadores chilenos se reconheciam no sistema — ele não
era uma imposição burocrática, mas uma ferramenta construída COM eles, não PARA eles.
18.4 O Cybersyn em Ação: Tecnologia, Rede e Software
O VSM descreve cinco subsistemas que interagem para gerenciar essa tensão. Crucialmente, e em
contraste direto com a abordagem do OGAS, o VSM não pressupõe que o centro de comando (o
"Sistema 5") deva saber de tudo o que acontece nas operações. Pelo contrário, Beer, aplicando a
Lei da Variedade Requisita de Ashby, afirmava que isso era impossível e
indesejável. O papel do centro não era controlar, mas sim monitorar a estabilidade do sistema
como um todo, fornecer recursos, estabelecer as regras gerais e, acima de tudo, absorver a
complexidade para que as unidades operacionais pudessem focar em suas tarefas.
⚖️ Lei da Variedade Requisita de Ashby
William Ross Ashby (ciberneticista britânico, colega de Beer) formulou uma lei
fundamental: "Apenas variedade pode absorver variedade". Traduzindo: um sistema de
controle só pode regular outro sistema se tiver, no mínimo, a mesma complexidade (variedade) que ele.
Aplicação prática: A economia soviética tinha milhões de variáveis (50 mil empresas,
12 milhões de preços, demanda flutuante, clima, greves, inovações tecnológicas...). O Gosplan (centro
de planejamento) tentava controlar TUDO com um pequeno grupo de burocratas e planos quinquenais rígidos.
Matematicamente impossível — a variedade do Gosplan era infinitamente menor que a
variedade da economia real. Resultado: planos obsoletos, escassez, desperdício.
💡 Solução de Beer no Cybersyn: Em vez de tentar controlar tudo, o centro deveria ser
um "atenuador de variedade" (filtrar informação, lidar apenas com exceções) e um
"amplificador de variedade" (dar às fábricas ferramentas para se auto-regularem,
aumentando sua capacidade de resposta). Exemplo: em vez de dizer "produzir 10.432 unidades", o centro
diz "prioridade: bens essenciais" e deixa a fábrica decidir COMO atingir isso. Autonomia local
+ coordenação leve = viabilidade.
O centro deveria ser um "atenuador de variedade" (lidando apenas com informações agregadas e exceções) e um
"amplificador de variedade" (disseminando políticas e recursos), mas nunca um microgerenciador.
Essa filosofia era a antítese do planejamento central burocrático tradicional.
🔮 Antecipação — Cybersyn como Práxis Dialética
Materializada
Cybersyn não foi apenas "tecnologia" — foi filosofia tornando-se práxis.
Beer aplicou cibernética de 2ª ordem (Cap 6) em condições reais: sistema observa a si mesmo
via feedback dos trabalhadores. VSM não é comando-controle vertical (1ª ordem), mas
auto-organização recursiva (2ª ordem).
💡 Conexão ao Capítulo
30:
Cybersyn exemplifica o salto dialético perfeito: teoria cibernética (Ashby,
Wiener) + projeto político socialista (Allende) → salta para sistema funcionante
que transforma realidade material. Cap 30 mostra o padrão: quando
quantidade de conhecimento teórico acumula + vontade política convergem, ocorre salto
qualitativo para práxis transformadora. Cybersyn prova que socialismo cibernético
não é utopia abstrata — já foi feito, funcionou, só foi interrompido por violência (golpe).
Teoria + práxis + tecnologia = transformação possível. Este é o método
marxista em ação.
18.4 O Cybersyn em Ação: Tecnologia, Rede e Software
O Projeto Cybersyn (uma abreviação de "sinergia cibernética") era a aplicação prática do VSM à
economia chilena. Ele consistia em vários componentes interligados, cada um desenhado para equilibrar
autonomia local com coordenação central — a essência do VSM:
Cyberstride: O Cérebro Estatístico
Cyberstride era o software de análise estatística do Cybersyn, desenvolvido por uma
equipe de jovens engenheiros chilenos liderada por Raúl Espejo (que tinha apenas 28 anos). Rodando em
um único computador mainframe IBM 360/50 (alugado, não comprado — o Chile não tinha recursos para
comprá-lo), o Cyberstride recebia dados diários das fábricas e aplicava métodos de estatística
bayesiana para analisar tendências e identificar anomalias.
A inovação não era apenas coletar dados, mas filtrá-los inteligentemente. Em vez de
sobrecarregar gerentes com milhares de números, o Cyberstride identificava apenas os desvios
significativos da norma — gargalos de produção, escassez de matéria-prima, picos de demanda inesperados.
Isso era a "Lei de Ashby" em ação: o centro não tenta controlar tudo, apenas monitora
exceções. O sistema usava gráficos de algedônica (do grego "algos" = dor + "hedone" =
prazer) — visualizações que mostravam se uma fábrica estava "saudável" (verde), "sob estresse" (amarelo)
ou "em crise" (vermelho). Era um painel de diagnóstico econômico em tempo real, 50 anos antes do
conceito de "business intelligence" se popularizar.
📊 Gráficos de Algedônica: Visualização da Saúde Econômica
Beer inventou um sistema de visualização revolucionário: em vez de tabelas com milhares de números,
gerentes viam curvas temporais codificadas por cor. Uma fábrica de têxteis, por exemplo,
enviava diariamente: produção (metros de tecido), absenteísmo (%), consumo de eletricidade, estoque
de matéria-prima. O Cyberstride comparava esses valores com a média histórica e a tendência esperada.
Se tudo estava dentro da normalidade → linha verde.
Se houvesse desvio leve (5-15% acima/abaixo) → linha amarela.
Se crise (>15% de desvio ou múltiplos indicadores ruins) → linha vermelha.
💡 Por que isso era revolucionário? Em 1971, gestores recebiam relatórios mensais em
papel, com semanas de atraso. Cybersyn dava feedback diário, permitindo intervenção
rápida. Além disso, a visualização era democrática — qualquer trabalhador na sala de
operações conseguia entender se a economia estava saudável ou em crise, sem precisar ser economista.
Transparência informacional = democratização do poder.
Cybernet: A Rede de Telex
Cybernet era a rede de comunicação que conectava as fábricas ao centro de computação em
Santiago. Em 1971, o Chile não tinha internet, redes de computadores ou satélites — a tecnologia disponível
era o telex, um sistema de teletipo usado para telegrafia. Máquinas de telex foram
instaladas em cada uma das ~500 empresas nacionalizadas. Diariamente, operadores enviavam um punhado de
indicadores-chave (geralmente 5-10 números por fábrica) através da rede telefônica para o mainframe em
Santiago.
Era uma solução de "tecnologia apropriada" — não era o mais avançado, mas era o que
funcionava com a infraestrutura e o orçamento disponíveis. O Chile estava sob embargo econômico dos EUA,
então importar tecnologia de ponta era impossível. Beer e Flores transformaram essa limitação em virtude:
o sistema era simples, robusto e barato. Enquanto o OGAS soviético sonhava com supercomputadores e redes
dedicadas (que nunca foram construídas), o Cybersyn usou telex e um único IBM 360 alugado — e funcionou.
🔧 Lição: Tecnologia Apropriada > Tecnologia Avançada
O Cybersyn prova que socialismo cibernético não precisa esperar por tecnologia futurista.
O projeto funcionou com:
- 1 mainframe IBM 360/50 (alugado, não comprado)
- ~500 máquinas de telex (tecnologia dos anos 30)
- Linhas telefônicas comuns (não fibra ótica)
- Equipe de ~50 pessoas (engenheiros, programadores, operadores)
- Orçamento: ~US$ 500 mil total (equivalente a ~US$ 3,5 mi hoje)
💡 Compare com projetos capitalistas: Em 1971, empresas americanas gastavam milhões
em mainframes e redes privadas para... otimizar lucro de acionistas. O Cybersyn, com fração do orçamento,
coordenou toda uma economia nacional para alimentar o povo. A diferença não é tecnológica —
é política. O capitalismo usa tech para acumular capital; socialismo cibernético usa
tech para distribuir recursos. Mesma ferramenta, objetivos opostos.
A Sala de Operações: Design para Deliberação Coletiva
A Sala de Operações (Opsroom) era o componente mais famoso e visualmente impressionante do
projeto. Era uma sala hexagonal futurista, projetada pelo designer industrial Gui Bonsiepe (alemão radicado
no Chile), que parecia saída de um episódio de Star Trek. Elementos:
- 7 cadeiras giratórias de fibra de vidro branca, dispostas em semicírculo, equipadas
com botões de controle embutidos nos braços (para avançar slides, pedir dados específicos).
- Paredes com painéis retroiluminados mostrando diagramas do VSM aplicado à economia
chilena — visualização clara de quais setores eram "Sistema 1" (produção), "Sistema 3" (controle), etc.
- Telas de projeção onde gráficos de algedônica eram projetados em tempo real.
- Luz ambiente controlada — iluminação indireta, nada de luzes fluorescentes agressivas,
criando atmosfera de concentração sem estresse.
- Cinzeiros integrados (era 1971, afinal) e espaço para café/vinho — Beer insistia que
decisões importantes não deveriam ser tomadas em ambientes austeros e frios.
É crucial entender que a sala não foi projetada para ser um centro de comando autoritário
no estilo da NASA ou de filmes de guerra. Pelo contrário, seu design foi pensado para deliberação
coletiva e igualitária. Todos sentavam em cadeiras idênticas — não havia "cadeira do chefe" elevada.
As informações eram projetadas em paredes visíveis para todos simultaneamente — não em telas privadas que
cada um vê sozinho. O layout circular facilitava o diálogo face-a-face. A estética futurista era uma
declaração política: este não é o poder burocrático cinzento de sempre, mas uma nova forma
de governança, transparente, baseada em dados e esteticamente inspiradora.
18.5 O Teste de Fogo: Greve dos Caminhoneiros (Outubro de 1972)
O teste mais dramático do Cybersyn ocorreu em outubro de 1972, durante a greve dos caminhoneiros,
uma paralisação patronal (não de trabalhadores!) financiada pela CIA que visava paralisar o país e derrubar
o governo Allende. Donos de caminhões, ligados à direita e aos interesses americanos, pararam suas frotas.
Com os caminhões parados, a distribuição de alimentos, medicamentos e combustível entrou em colapso. Filas
quilométricas se formavam em postos de gasolina e supermercados. Era uma tentativa deliberada de criar caos
e culpar o governo socialista pela "incompetência".
Foi nesse momento que o Cybersyn provou seu valor. Em menos de 24 horas, a equipe do projeto
conseguiu usar a rede Cybernet para:
- Identificar quais caminhoneiros eram leais ao governo (cerca de 200 dos 3.000 totais).
- Mapear as rotas mais críticas (hospitais precisando medicamentos, fábricas precisando matéria-prima).
- Coordenar logística em tempo real — telex enviava instruções de rota, pedidos de socorro, alertas de
bloqueios de estrada.
- Priorizar cargas essenciais (alimentos básicos, vacinas, insumos para indústrias estratégicas).
Resultado: o governo conseguiu manter 30% da capacidade logística operando durante toda a greve de 26 dias,
o suficiente para evitar colapso total. Hospitais não ficaram sem remédios. Padarias continuaram recebendo
farinha. Fábricas mantiveram produção mínima. O Cybersyn não "venceu" a greve sozinho —
isso foi mérito da mobilização popular, sindicatos e forças leais a Allende. Mas o sistema proveu a
infraestrutura informacional que tornou a resistência possível.
🎯 CIA e a Greve: Operação Golpe Econômico
Documentos desclassificados dos EUA (disponíveis no National Security Archive) provam que a CIA financiou
a greve dos caminhoneiros como parte da Operação Fubelt — nome código para desestabilizar
e derrubar Allende. O governo Nixon liberou US$ 8 milhões (~US$ 50 mi ajustados) para:
- Pagar proprietários de caminhões para pararem (compensação por "perda de lucros")
- Financiar propaganda anti-Allende (jornais, rádios, panfletos)
- Comprar militares (preparação para golpe de 1973)
- Treinar grupos paramilitares de direita (Patria y Libertad)
💡 Por que os EUA tinham tanto medo do Cybersyn? Porque ele demonstrava que
planejamento socialista democrático FUNCIONAVA. Se o Chile provasse que era possível
coordenar uma economia sem mercado capitalista E sem autoritarismo soviético, outros países da América
Latina seguiriam o exemplo. O Cybersyn não foi destruído porque era "ineficiente" — foi assassinado
porque estava funcionando bem demais. Esta é a lição mais brutal: alternativas ao
capitalismo não fracassam tecnicamente; são esmagadas pela violência do imperialismo.
18.6 O Fim do Sonho: O Golpe de 1973
Apesar de seu sucesso durante a greve de 1972, o Projeto Cybersyn nunca foi totalmente implementado. Ele
enfrentou resistência de múltiplos lados: setores da burocracia estatal (que temiam perder poder), alguns
sindicatos (desconfiados de "tecnologia de controle"), e até aliados dentro da Unidade Popular (que o
viam como "tecnocracia" distante das massas). O próprio Allende, embora apoiasse o projeto intelectualmente,
nunca visitou a sala de operações — uma decisão que Beer lamentou profundamente, pois simbolizava que o
Cybersyn permaneceu periférico ao centro real do poder político.
O clima de crescente instabilidade política, sabotagem econômica coordenada pela CIA, e confronto aberto com
a oposição de direita consumia toda a energia do governo. Em 11 de setembro de 1973, o
sonho da via chilena para o socialismo terminou em um banho de sangue. O golpe militar liderado pelo General
Augusto Pinochet bombardeou o Palácio de La Moneda (sede presidencial) com aviões Hawker
Hunter. Allende, cercado, fez seu último discurso pelo rádio e cometeu suicídio com uma metralhadora AK-47
(presente de Fidel Castro) para não se render. Uma ditadura brutal foi instaurada, que duraria 17 anos e
mataria/torturaria/desapareceria mais de 40 mil pessoas.
O destino do Cybersyn foi um reflexo microcósmico da tragédia do país:
- A sala de operações foi abandonada imediatamente. Soldados que a invadiram não
compreendiam o que aquelas cadeiras futuristas e painéis significavam — alguns pensaram que era um
"centro de espionagem soviética". A sala foi parcialmente destruída, as cadeiras roubadas ou quebradas.
- O mainframe IBM 360/50 foi desconectado. A ditadura devolveu o equipamento à IBM
(ainda estava sendo pago em prestações).
- Os engenheiros foram presos, torturados ou forçados ao exílio. Fernando Flores passou
3 anos em campos de concentração. Raúl Espejo fugiu para o Reino Unido. Outros desapareceram.
- Os documentos foram parcialmente destruídos, parcialmente confiscados por militares.
Por décadas, o Cybersyn foi apagado da história oficial chilena.
A história do Cybersyn só foi redescoberta nos anos 2000 graças ao trabalho de pesquisadores como
Eden Medina (historiadora americana que escreveu "Cybernetic Revolutionaries", 2011,
a obra definitiva sobre o projeto). Ela entrevistou sobreviventes, encontrou documentos esquecidos em
arquivos, reconstruiu a história que a ditadura tentou apagar.
📚 Eden Medina e a Redescoberta do Cybersyn
Eden Medina, professora de História da Ciência no MIT, dedicou mais de 10 anos
pesquisando o Cybersyn. Seu livro "Cybernetic Revolutionaries" (2011) é a fonte primária essencial.
Medina viajou ao Chile repetidas vezes, entrevistou dezenas de engenheiros sobreviventes (já idosos),
vasculhou arquivos da CORFO, encontrou plantas da sala de operações esquecidas em porões. Ela provou
que o Cybersyn não era mito ou propaganda — foi real, funcionou, e foi assassinado.
💡 Por que isso importa hoje? Sem o trabalho de Medina, o Cybersyn teria permanecido
esquecido, e críticos do socialismo continuariam dizendo "planejamento cibernético nunca funcionou".
Sua pesquisa prova o contrário. História é luta — recuperar memórias apagadas pela
violência é ato político. O Cybersyn é prova material de que outro mundo era possível nos anos 70,
logo é possível hoje com tecnologia infinitamente mais avançada.
Conclusão: Um Socialismo Cibernético Era Possível?
A comparação entre o OGAS e o Cybersyn revela duas visões radicalmente diferentes do socialismo
cibernético. O OGAS, um projeto grandioso e centralizador, foi derrotado por uma luta de poder
interna, esmagado pela própria burocracia que deveria servir. O Cybersyn, um projeto mais
modesto e focado na autonomia, foi destruído por uma força externa, vítima da violência da
Guerra Fria.
Enquanto o OGAS representava a tentativa de criar um cérebro central onisciente, o Cybersyn, com
sua base no Modelo do Sistema Viável, era mais como um sistema nervoso, projetado para coordenar
a inteligência distribuída por todo o corpo social. Seu foco na autonomia, na participação (pelo
menos em teoria) e no design centrado no ser humano oferece um modelo de socialismo cibernético
muito mais desejável e relevante para o século XXI. O Cybersyn não era um sistema de controle de
cima para baixo; era uma ferramenta para a auto-organização dos trabalhadores e para a tomada de
decisão democrática. Seu fracasso não foi um fracasso da cibernética, mas da política. Ele nos
lembra que a construção de uma sociedade mais justa não depende apenas de algoritmos e
computadores, mas da capacidade de defendê-la contra as forças da reação.
---
🔑 Mini-Glossário do Capítulo
- Algedônica: Do grego "algos" (dor) + "hedone" (prazer) — sistema de visualização inventado
por Beer que mostra "saúde" de uma unidade produtiva via cores (verde/amarelo/vermelho).
- Allende, Salvador (1908-1973): Presidente socialista do Chile (1970-1973), eleito
democraticamente, morto durante golpe de Pinochet. Apoiou o Cybersyn mas nunca visitou a sala de operações.
- Ashby, Lei da Variedade Requisita: "Apenas variedade pode absorver variedade" — um
sistema de controle precisa ter complexidade igual ou maior que o sistema controlado.
- Bonsiepe, Gui: Designer industrial alemão que projetou a sala de operações do Cybersyn,
com estética futurista e layout igualitário.
- Cybernet: A rede de máquinas de telex que conectava as ~500 fábricas chilenas ao
centro de computação do Cybersyn em Santiago.
- Cyberstride: O software de análise estatística do Projeto Cybersyn, que usava
métodos bayesianos para filtrar dados e identificar problemas em tempo real.
- Eden Medina: Historiadora (MIT/Indiana) que redescobriu a história do Cybersyn nos anos
2000, autora de "Cybernetic Revolutionaries" (2011).
- Espejo, Raúl: Engenheiro chileno (28 anos em 1971), liderou equipe técnica do Cyberstride,
exilou-se no Reino Unido após golpe.
- Fernando Flores (1943-): Ministro de Economia de Allende, arquiteto político do Cybersyn,
torturado 3 anos, depois PhD em Berkeley, senador chileno (2001-2009).
- Greve dos Caminhoneiros (Out/1972): Paralisação patronal financiada pela CIA para derrubar
Allende. Cybersyn coordenou logística de resistência em 24h.
- IBM 360/50: Mainframe usado pelo Cybersyn (alugado, não comprado), devolvido à IBM após
golpe de 1973.
- Modelo do Sistema Viável (VSM): O modelo de organização criado por Stafford
Beer, baseado no sistema nervoso humano, que busca equilibrar a autonomia das partes com a
coesão do todo. 5 sistemas: Operações, Coordenação, Controle, Inteligência, Política.
- Opsroom (Sala de Operações): Sala hexagonal futurista com 7 cadeiras giratórias,
painéis, telas — projetada para deliberação coletiva, não comando autoritário.
- Pinochet, Augusto (1915-2006): General que liderou golpe de 1973, instaurou ditadura
brutal de 17 anos, destruiu o Cybersyn.
- Stafford Beer (1926-2002): Ciberneticista britânico, criador do VSM, principal
arquiteto teórico do Cybersyn, trabalhou no Chile sem cobrar honorários.
- Tecnologia Apropriada: Uso criativo de tecnologia disponível/acessível para resolver
problemas complexos, em vez de esperar por tecnologia avançada/cara.
- Telex: Sistema de teletipo dos anos 30-40, usado para telegrafia. Cybersyn usou telex
por ser a única tecnologia disponível no Chile em 1971.
- Unidade Popular: A coalizão de partidos de esquerda (socialistas, comunistas,
radicais) que elegeu Salvador Allende como presidente do Chile em 1970.
💭 Exercícios de Análise
1. Design e Poder: A sala de operações do Cybersyn foi projetada para a
deliberação coletiva, em contraste com a disposição hierárquica de uma sala de reuniões
corporativa tradicional. Como o design de um espaço físico ou virtual (como um aplicativo de
mensagens) pode incentivar ou inibir a tomada de decisão democrática? Pense em exemplos.
2. Autonomia vs. Controle: O Modelo do Sistema Viável de Beer busca um
equilíbrio entre a autonomia das unidades e o controle central. Pense em uma organização que
você conhece bem (uma empresa, uma universidade, um coletivo). Onde você localizaria o "ponto de
equilíbrio" atual dessa organização? Ela sofre mais com o excesso de controle ou com a falta de
coesão?
3. Tecnologia Apropriada: O Cybersyn usou uma tecnologia obsoleta (o telex) de
uma forma inovadora. Isso é um exemplo de "tecnologia apropriada" ou "gambiarra". Você consegue
pensar em outros exemplos, históricos ou contemporâneos, onde tecnologias simples ou antigas
foram usadas de forma criativa para resolver problemas complexos?
🔗 Conexões com Outros Capítulos
Este capítulo apresenta dois
experimentos históricos cruciais de planejamento cibernético socialista — um
fracassou (OGAS), outro foi assassinado (Cybersyn). Ambos são lições fundamentais para
pensar alternativas hoje:
🧠
Fundamentos teóricos aplicados (e testados)
⚔️
Por que fracassaram? Lições críticas
OGAS (URSS, 1959-1989): Tecnicamente
viável, politicamente impossível. A burocracia do Gosplan sabotou porque perderiam
poder. Lição: Tecnologia não substitui luta política contra
interesses estabelecidos.
Cybersyn (Chile, 1971-1973): Funcionou! Mas foi
destruído pelo golpe de Pinochet (apoiado pela CIA). Lição:
Alternativas ao capitalismo precisam defender-se militarmente do imperialismo.
🔮
Como esses experimentos inspiram propostas atuais
🌍
Conexões com outros debates
✅ O que Cybersyn provou ser
possível (em 1971-73!):
- Coordenação econômica em tempo real sem mercado
- Feedback democrático dos trabalhadores via tecnologia
- Detecção precoce de crises (greve de caminhoneiros de 1972)
- Autonomia local + coesão central (VSM)
Com tecnologia de 1971. Imagine com
internet, IA, blockchain...
💡 Mensagem central: O socialismo cibernético não é utopia. Já foi
feito. O problema nunca foi técnico — sempre foi político. A questão não é "funciona?", mas
"teremos força para defendê-lo?"
📚 Leituras Complementares
- Nível Intermediário:
- Medina, E. (2011). Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's
Chile. (A obra definitiva e essencial sobre o Projeto Cybersyn. Uma leitura
obrigatória).
- Vídeo: "A Sala de Controle Socialista" (Disponível no YouTube, com legendas, mostra imagens
raras do projeto e entrevistas com os envolvidos).
- Nível Avançado:
- Beer, S. (1972). Brain of the Firm. (O livro que inspirou Fernando Flores. É uma
leitura densa, mas fundamental para entender a teoria por trás do Cybersyn).
- Beer, S. (1974). Designing Freedom. (Uma série de palestras que Beer deu após a
experiência chilena, refletindo sobre as lições aprendidas e o futuro da liberdade nação).
---
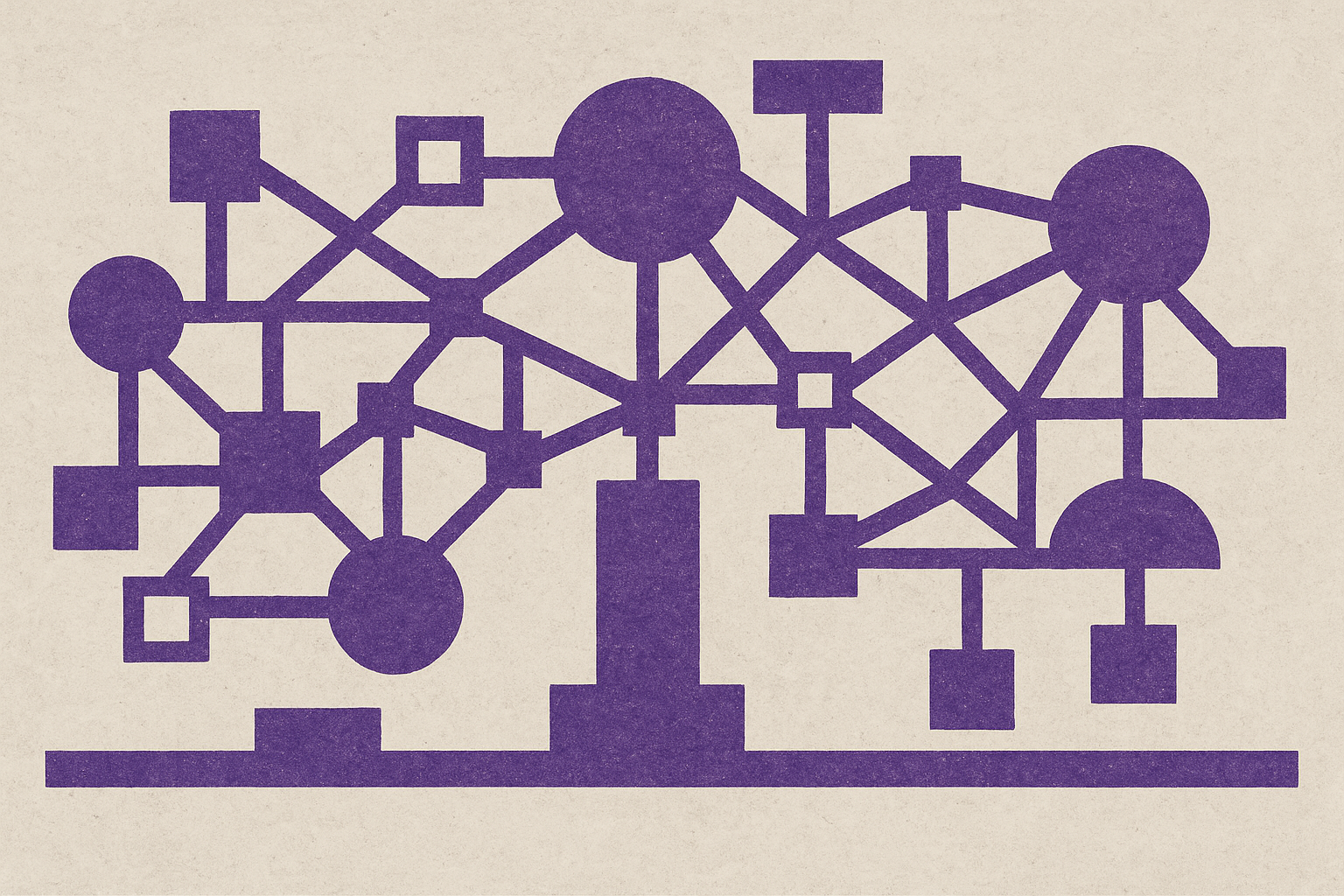
Capítulo 19
Capítulo 19: Outros Experimentos e a Nova Fronteira do Planejamento
Introdução: A Busca Incessante por Alternativas
Para além das histórias dramáticas e bem documentadas do OGAS e do Cybersyn, a busca por
alternativas ao mercado capitalista é uma constante na história moderna. O século XX e o início
do século XXI estão repletos de experimentos, tanto estatais quanto de base, que tentaram
coordenar a vida econômica de formas diferentes, com sucessos parciais, fracassos instrutivos e
legados complexos. Este capítulo final da Parte IV fará um apanhado de algumas dessas
experiências, desde o "mercado socialista" da Iugoslávia até a proposta contemporânea do
cooperativismo de plataforma. O objetivo é criar um mosaico que ilustre a persistência e a
diversidade da imaginação socialista e nos ajude a pensar sobre o futuro do planejamento na era
digital.
19.1 A Autogestão na Iugoslávia: O Mercado Socialista
19.1.1 O Cisma de Tito (1948): Nacionalismo Comunista vs. Controle Soviético
Após a ruptura do Marechal Josip Broz Tito com a União Soviética de Stalin em 1948, a Iugoslávia embarcou em
um caminho único, buscando um "terceiro caminho" entre o capitalismo ocidental e o socialismo de
planejamento central soviético. A ruptura foi motivada pela recusa de Tito em submeter a economia e a política iugoslava ao controle direto de Moscou. Stalin esperava que a Iugoslávia fosse um satélite dócil, mas Tito, líder carismático dos partisans que libertaram o país dos nazistas sem ajuda soviética direta, insistiu em um socialismo com características iugoslavas. O resultado foi uma cisão dramática: a Iugoslávia foi expulsa do Cominform (a organização dos partidos comunistas) em 1948, e Tito precisou inventar um novo modelo para provar que havia uma alternativa ao stalinismo que não fosse o capitalismo.
19.1.2 A Autogestão dos Trabalhadores (Samoupravljanje): Propriedade Social sem Estado
O resultado foi o sistema de autogestão dos trabalhadores (samoupravljanje em servo-croata). Neste modelo, formalizado pela Lei de Empresas Econômicas de 1950, as grandes empresas não eram propriedade privada nem
estatal, mas sim "propriedade social" — uma categoria jurídica única que não pertencia nem ao Estado nem a indivíduos, mas à sociedade como um todo. Na prática, essas empresas eram geridas não por burocratas do Estado, mas por
conselhos de trabalhadores eleitos pelos próprios funcionários. Cada empresa tinha uma assembleia geral de trabalhadores que elegia um conselho de gestão, que por sua vez nomeava o diretor executivo.
🏛️
Edvard Kardelj: O Arquiteto Teórico da Autogestão
Edvard Kardelj (1910-1979) foi o principal teórico do modelo iugoslavo, uma espécie de "Lenin iugoslavo" que desenvolveu a justificação ideológica para o sistema de autogestão. Kardelj argumentava que o problema fundamental do socialismo soviético era a estatização da economia, que criava uma nova classe dominante de burocratas. A solução, segundo ele, era a socialização direta da propriedade nas mãos dos trabalhadores, eliminando a mediação do Estado. Kardelj elaborou o conceito de "propriedade social" (društvena svojina), uma categoria jurídica que não era nem privada nem estatal: as empresas pertenciam "à sociedade", mas eram geridas democraticamente pelos trabalhadores. Seu livro Direções do Desenvolvimento do Sistema Político de Autogestão Socialista (1977) sistematizou a teoria. O paradoxo: Kardelj permaneceu vice-presidente da Iugoslávia por décadas, ocupando o segundo cargo mais poderoso do país — ele teorizava contra a burocracia estatal enquanto a encarnava. Após sua morte em 1979 e a de Tito em 1980, o sistema entrou em colapso, sugerindo que a autogestão dependia mais do carisma pessoal dos líderes do que de estruturas sustentáveis.
19.1.3 Mercado Socialista: A Contradição Central do Modelo
No entanto, e esta é a característica mais distintiva do modelo iugoslavo, essas empresas
autogeridas competiam entre si em um mercado. A ideia era combinar a
propriedade social e a democracia no local de trabalho com a eficiência e a flexibilidade do
mecanismo de preços. Esse foi o "socialismo de mercado" em sua forma mais pura: propriedade coletiva + concorrência mercantil. Por um tempo, o modelo pareceu funcionar, produzindo um crescimento
econômico rápido (6% ao ano nas décadas de 1950-70) e um padrão de vida que era, em muitos aspectos, superior ao do bloco
soviético. A Iugoslávia tinha liberdade de movimento (iugoslavos podiam viajar ao Ocidente), acesso a bens de consumo ocidentais, e um sistema político menos repressivo que o da URSS.
19.1.4 As Contradições Insuperáveis: Desigualdade, Desemprego e Nacionalismo
No entanto, o sistema carregava contradições profundas que se revelaram insuperáveis:
1. Desigualdade Regional Crescente: A competição no mercado levou
a um aumento brutal das desigualdades entre as repúblicas mais e menos desenvolvidas da federação iugoslava. A Eslovênia e a Croácia (industrializadas, próximas à Europa Ocidental) prosperaram, enquanto a Bósnia, a Macedônia e Kosovo (agrícolas, periféricas) ficaram para trás. A produtividade por trabalhador na Eslovênia era 5-6 vezes maior que em Kosovo nos anos 1980. Essa desigualdade alimentou ressentimentos nacionalistas: eslovenos e croatas reclamavam que seus impostos subsidiavam as regiões pobres, enquanto sérvios e macedônios acusavam as regiões ricas de exploração.
2. Desemprego Estrutural: A necessidade de competir no mercado gerava desemprego, um problema que o socialismo tradicional alegava ter resolvido. Empresas autogeridas, quando enfrentavam dificuldades, demitiam trabalhadores ao invés de cortarem salários (porque os trabalhadores-gestores votavam para proteger seus próprios rendimentos). Nos anos 1980, a taxa de desemprego oficial chegou a 15%, mas o desemprego real era muito maior. Milhões de iugoslavos migraram para a Alemanha Ocidental como Gastarbeiter (trabalhadores convidados), uma sangria de mão de obra qualificada.
3. Tendência à Maximização de Renda por Trabalhador: Um problema teórico identificado pelo economista Benjamin Ward (1958): empresas autogeridas tendem a maximizar a renda por trabalhador ao invés do lucro total. Isso significa que, ao invés de contratar mais trabalhadores quando a demanda aumenta (como faria uma empresa capitalista buscando lucro), uma cooperativa prefere manter o número de trabalhadores pequeno para dividir a receita entre menos pessoas. O resultado: subprodução crônica e resistência à expansão do emprego.
4. Crise da Dívida Externa (anos 1980): Para financiar o crescimento e manter o padrão de vida, a Iugoslávia contraiu dívidas massivas com o Ocidente. Quando os juros internacionais subiram abruptamente após 1979 (choque Volcker), o país mergulhou em crise. A dívida externa saltou de US$ 2 bilhões (1970) para US$ 20 bilhões (1980). O FMI impôs programas de austeridade que corroeram ainda mais o nível de vida, desacreditando o modelo socialista.
5. Vazio de Poder após Tito (1980): A morte de Tito em 1980 expôs a fragilidade do sistema. Não havia liderança carismática para mediar os conflitos entre repúblicas. A presidência rotativa (cada república assumia por 1 ano) era incapaz de tomar decisões difíceis. Nacionalistas extremos — como Slobodan Milošević na Sérvia — capturaram o vácuo de poder, instrumentalizando ressentimentos econômicos para fins políticos.
19.1.5 Colapso e Genocídio (1991-1999): O Fim Sangrento do Experimento
No final, o sistema de autogestão se mostrou incapaz de lidar com a crise econômica dos anos 80 e as
crescentes tensões nacionalistas. Entre 1991 e 1999, a Iugoslávia desintegrou-se violentamente em uma série de guerras brutais (Eslovênia, Croácia, Bósnia, Kosovo) que causaram 140 mil mortos e 4 milhões de deslocados. O genocídio de Srebrenica (1995), onde 8 mil muçulmanos bósnios foram executados por forças sérvias, foi o pior massacre na Europa desde a Segunda Guerra. O experimento iugoslavo, que começara com a promessa de um socialismo democrático e descentralizado, terminou em limpeza étnica e fragmentação nacionalista.
19.1.6 Lições para Hoje: Mercado + Autogestão = Contradição Insuperável?
O que podemos aprender com o fracasso iugoslavo? A lição não é que a autogestão dos trabalhadores é impossível, mas que autogestão + competição mercantil capitalista = contradição estrutural. O mercado pressiona as cooperativas a se comportarem como empresas capitalistas: cortar custos, demitir trabalhadores, buscar lucro individual ao invés de solidariedade. Para funcionar, a autogestão precisa de um arcabouço de coordenação solidária que vá além do mercado — seja planejamento participativo (como o Cybersyn propunha), seja federações de cooperativas com fundos de solidariedade (como Mondragón na Espanha). A Iugoslávia tentou juntar água e óleo: democracia no chão de fábrica + darwinismo social no mercado. O resultado foi previsível.
19.2 O "Período Especial" em Cuba: Inovação na Adversidade
19.2.1 O Colapso da URSS (1991): Cuba Perde 85% do Comércio Exterior
A experiência de Cuba oferece uma lição radicalmente diferente. Com o colapso da União Soviética em 1991, Cuba
perdeu seu principal parceiro comercial e fonte de subsídios da noite para o dia, mergulhando em uma crise econômica
brutal conhecida como o "Período Especial em Tempos de Paz" (Período Especial en Tiempo de Paz). Os números são chocantes: entre 1989 e 1993, o PIB cubano contraiu 35% — uma depressão econômica comparável à dos EUA nos anos 1930. As importações caíram 75%, incluindo 86% do petróleo, 80% dos fertilizantes e pesticidas, e 50% dos alimentos. Diante da ameaça de colapso total, o governo cubano declarou o "Período Especial", uma economia de guerra em tempos de paz.
19.2.2 Colapso da Mobilidade: De 5 Milhões de Carros para Bicicletas Chinesas
As consequências imediatas foram devastadoras. Sem petróleo soviético, o transporte entrou em colapso: Cuba importou 1,5 milhão de bicicletas da China (1991-95) para substituir ônibus e carros. Havana, uma cidade de 2 milhões de habitantes projetada para automóveis, virou a "Amsterdã caribenha" à força. Apagões duravam 16 horas por dia. A ração calórica média caiu de 3.000 para 1.900 calorias/dia (1989-93), causando perda de peso generalizada: o cubano médio perdeu 5-10 kg. Casos de neuropatia óptica (cegueira temporária por deficiência nutricional) explodiram — 50 mil casos em 1993.
19.2.3 Revolução Agrícola Urbana: Organopônicos como Resposta de Emergência
Por pura necessidade, Cuba se tornou um laboratório de inovação em agricultura urbana e orgânica.
Hortas comunitárias, chamadas de organopónicos, surgiram em terrenos baldios por todo o
país, utilizando métodos de cultivo intensivo e sem agrotóxicos para alimentar a população. O modelo surgiu espontaneamente: sem fertilizantes químicos (que dependiam de petróleo soviético), agricultores foram forçados a redescobrir métodos orgânicos tradicionais — compostagem, rotação de culturas, controle biológico de pragas. O Estado inicialmente resistiu (achavam que era "retrocesso"), mas logo percebeu que era a única solução e começou a apoiar ativamente.
🌱
Nelso Companioni e os Organopônicos de Havana
Nelso Companioni, agrônomo cubano, foi um dos pioneiros do movimento de agricultura urbana que salvou Havana da fome no Período Especial. Em 1991, Companioni começou a transformar terrenos baldios em Alamar (subúrbio de Havana) em hortas intensivas usando técnicas de permacultura e cultivo orgânico. Seu modelo: canteiros elevados (organopónicos) com mistura de solo + matéria orgânica, irrigação por gotejamento artesanal, rotação de culturas, e zero agrotóxicos. A produtividade era surpreendente: 20-30 kg de vegetais por m² por ano, 10 vezes mais que agricultura convencional. Em 1997, Havana tinha 26 mil hortas urbanas cobrindo 8 mil hectares, produzindo 50% dos vegetais consumidos na cidade. Companioni ajudou a criar a Associação Nacional de Agricultores Pequenos (ANAP), que disseminou as técnicas para toda Cuba. A lição: em crise, comunidades locais inovam mais rápido que burocracias centrais. O movimento virou referência global — organizações como FAO e PNUD estudaram o "milagre cubano" para replicar em outros países. Hoje, Cuba tem a agricultura urbana mais desenvolvida do mundo, mas foi nascida da necessidade, não do planejamento.
19.2.4 Inovação Biotecnológica: Ciência de Ponta com Recursos Escassos
Paralelamente, o país também fez avanços notáveis em biotecnologia e medicina, buscando soluções científicas para
os problemas de saúde com recursos escassos. Cuba desenvolveu vacinas próprias (incluindo contra meningite B, hepatite B, e recentemente COVID-19 — Abdala e Soberana foram as primeiras vacinas latino-americanas). O setor de biotecnologia cubano, criado por Fidel Castro nos anos 1980 apostando em ciência como estratégia de desenvolvimento, produzia medicamentos genéricos de alta qualidade que eram exportados para países do Sul Global. O paradoxo: um país bloqueado economicamente pelos EUA há 60 anos conseguiu criar uma indústria farmacêutica avançada enquanto tinha dificuldade para importar sabonete.
19.2.5 Reformas Parciais: Turismo, Dólar e Desigualdade Reemergente
Para sobreviver economicamente, Cuba foi forçada a fazer concessões ao mercado que contradiziam seus princípios igualitários. O turismo internacional foi aberto massivamente: de 340 mil turistas (1990) para 1,7 milhão (2000). O dólar foi legalizado (1993-2004), criando uma economia dual: quem tinha acesso a dólares (via remessas de familiares no exterior ou turismo) vivia bem; quem dependia apenas do salário estatal em pesos passava dificuldades. Essa dolarização parcial reintroduziu desigualdades que a Revolução havia eliminado. Profissionais qualificados (médicos, engenheiros) ganhavam 20-30 dólares/mês, enquanto garçons de hotéis turísticos ganhavam 100-200 em gorjetas. A ironia: um taxista ganhava mais que um cirurgião.
19.2.6 Contradições do Modelo: Inovação Local vs. Rigidez Burocrática
A experiência do Período Especial mostrou simultaneamente a resiliência e os limites do modelo cubano:
Força — Resiliência Comunitária: A capacidade de auto-organização local foi extraordinária. Comunidades improvisaram soluções — desde bicicletas-táxi (bicitaxis) até refeitórios comunitários (comedores obreros). O sistema de saúde, mesmo com escassez brutal de medicamentos, manteve indicadores comparáveis a países ricos (mortalidade infantil 5 por mil, expectativa de vida 78 anos). A solidariedade social evitou que a crise virasse genocídio, como aconteceu no Haiti ou na Somália em crises similares.
Fraqueza — Estrutura Centralizada Rígida: Apesar da criatividade local, a estrutura de planejamento
central permaneceu largamente burocrática e rígida, com dificuldade para integrar e escalar
essas inovações de base. Os organopônicos surgiram espontaneamente, MAS o Estado inicialmente os via com desconfiança (achavam que era mercado negro disfarçado). Só quando a crise se aprofundou em 1993-94 é que o governo criou o Ministério da Agricultura Urbana para institucionalizar o movimento. Essa rigidez atrasou respostas: se o Estado tivesse agido em 1990 ao invés de 1993, milhares de casos de desnutrição poderiam ter sido evitados.
Fraqueza — Dependência Estrutural: A lição mais dura: Cuba não conseguiu substituir a dependência da URSS por autossuficiência real. Apenas trocou um parceiro externo por outro: da URSS para Venezuela (petróleo subsidiado de Chávez, 2000-2014) e agora China (créditos, investimentos). Quando Maduro entrou em crise (2015-hoje) e cortou os subsídios de petróleo, Cuba mergulhou em nova crise severa (2016-hoje, agravada por COVID e Trump). A economia cubana ainda não aprendeu a andar com as próprias pernas.
19.2.7 Lições para a Transição Ecológica: Cuba como Laboratório Involuntário
A lição de Cuba é paradoxal: ela demonstrou uma imensa
capacidade de inovação local e resiliência comunitária, mas lutou para traduzir essa capacidade em uma
transformação estrutural do sistema como um todo. Para os debates contemporâneos sobre transição ecológica e decrescimento, Cuba é um caso fascinante: ela foi forçada a fazer uma "transição energética" abrupta (de 13 milhões de toneladas de petróleo/ano para 3 milhões) e sobreviveu. Mas o custo humano foi altíssimo. A pergunta para o século XXI: podemos planejar uma transição similar de forma democrática e menos traumática, ou só conseguiremos mudar quando a catástrofe nos forçar?
19.3 A Governança por Score: Do Crédito Privado ao Crédito Social
19.3.1 O Score Ocidental: Serasa, FICO e a Governança Algorítmica Privada
A ideia de um "score" que define as oportunidades de uma pessoa não é uma invenção chinesa. Ela
é, na verdade, uma característica central do capitalismo ocidental há décadas. Agências de
crédito privadas como a Serasa no Brasil (fundada 1968), FICO nos Estados Unidos (score de crédito criado 1989), e Experian/Equifax globalmente operam
como sistemas de vigilância e pontuação com enorme poder. Elas coletam dados sobre nosso
comportamento financeiro — pagamentos atrasados, dívidas, número de cartões de crédito, até consultas de crédito — e os utilizam para gerar um score numérico (no Brasil, vai de 0 a 1.000) que determina nosso acesso a crédito,
a financiamentos imobiliários e, por vezes, até a empregos (nos EUA, 47% dos empregadores checam credit score antes de contratar).
É uma forma de governança
algorítmica privada, opaca (você não sabe exatamente como é calculado) e focada em disciplinar os indivíduos para que se tornem
"bons" sujeitos financeiros. O score de crédito não mede apenas "capacidade de pagar", mas também conformidade com normas financeiras: ter cartão de crédito aumenta score (mesmo que você não use), ter muitas contas bancárias diminui (mostra "desorganização"), pedir empréstimo para emergência médica pode arruinar seu score por anos. É biopolítica neoliberal: moldar comportamento via incentivos/punições algorítmicas.
19.3.2 Casos de Exclusão Financeira: Quando o Score se Torna Prisão
As consequências dessa governança privada são brutais para milhões:
Brasil: 69 milhões de brasileiros estão negativados (dados Serasa 2024) — 1 em cada 3 adultos. Estar no "cadastro de inadimplentes" significa: impossível alugar apartamento (imobiliárias exigem score limpo), impossível abrir conta bancária tradicional, impossível parcelar compras, impossível conseguir emprego formal em muitas empresas. É uma forma de morte civil digital — você existe, mas não pode participar da economia. E a saída é kafkiana: para limpar o nome, precisa pagar dívidas; para pagar dívidas, precisa ter renda; para ter renda, precisa emprego; para emprego, precisa nome limpo. Loop fechado.
EUA: O sistema é ainda mais perverso porque está racializado. Dados do Federal Reserve (2019): score médio de crédito de brancos é 734, de negros é 677, de latinos é 701. Essa diferença de 50-60 pontos pode significar juros 3-5% maiores em hipotecas, custando dezenas de milhares de dólares ao longo de 30 anos. O score de crédito codifica séculos de racismo estrutural em forma numérica "neutra": bairros negros foram historicamente excluídos de crédito (redlining), então gerações acumularam menos riqueza, então têm scores piores, então pagam juros maiores, então acumulam menos riqueza. Feedback loop de 400 anos rodando em software.
19.3.3 O Sistema de Crédito Social Chinês: Realidade vs. Histeria Ocidental
O que torna o Sistema de Crédito Social chinês (社会信用体系, shèhuì xìnyòng tǐxì) diferente e mais controverso não
é a ideia de um score, mas a sua ambição declarada e a sua estrutura estatal. A narrativa ocidental frequentemente
o retrata como um único "score de cidadão" tipo Black Mirror que controla a vida de todos — se você jogar lixo na rua, seu score cai e você não pode comprar passagem de trem. Mas a realidade, baseada em
pesquisa acadêmica rigorosa (especialmente Rogier Creemers, sinologista de Leiden; Samantha Hoffman, ASPI), é muito mais complexa e fragmentada.
19.3.4 A Estrutura Real: Três Sistemas, Não Um
O "Sistema de Crédito Social" chinês é, na verdade, um ecossistema fragmentado de iniciativas governamentais e privadas, sem unificação real (ainda). Ele se divide em três camadas principais:
1. Sistema de Crédito Financeiro Tradicional: O PBOC (Banco Central da China) opera um sistema de credit scoring como qualquer banco central (similar ao Banco Central do Brasil com o SCR — Sistema de Informações de Crédito). Cobre ~560 milhões de pessoas (2023), foca em histórico de empréstimos/pagamentos. É o mais "normal" dos três.
2. Sistema de Crédito Corporativo/Comercial (Enterprise Social Credit): Este é o núcleo real do sistema, focado em governança da economia de mercado — combater fraudes, garantir segurança de produtos (após escândalos como leite contaminado com melamina que matou 6 bebês em 2008), e forçar cumprimento de contratos. Empresas que violam regras (poluem, vendem produtos falsificados, não pagam funcionários) vão para "listas negras" e sofrem sanções: proibidas de participar de licitações públicas, crédito restrito, CEOs impedidos de viajar de avião/trem-bala. Dados da National Development and Reform Commission (2020): 33 milhões de entradas em blacklists corporativas, 290 milhões de restrições aplicadas (ex.: 20 milhões de passagens aéreas negadas a executivos de empresas em blacklist).
3. Pilotos Municipais Experimentais (~40 cidades): Governos locais implementam sistemas próprios, muito diferentes entre si. Alguns são focados em trânsito (Shenzhen penaliza pedestres que cruzam fora da faixa com multas automáticas + reconhecimento facial), outros em "comportamento cívico" genérico. O mais famoso é Rongcheng (Shandong), onde cidadãos começam com 1.000 pontos e podem perder por: jogar lixo (-5 pontos), andar de bicicleta na calçada (-10), causar "perturbação" em protestos (definição vaga, -50). Ganhar pontos: doar sangue (+10), cuidar de idosos (+20), ser "modelo moral" (+50). Recompensas/punições: score alto = desconto em energia, prioridade em hospitais; score baixo = restrição de acesso a escolas melhores, dificuldade para alugar imóveis.
19.3.5 Scores Privados: Sesame Credit (Alibaba) e o Capitalismo de Vigilância Chinês
Paralelamente ao sistema estatal, empresas privadas chinesas desenvolveram seus próprios scores, sendo o mais conhecido o Sesame Credit (Zhima Credit, 芝麻信用) da Ant Financial (braço financeiro do Alibaba). Lançado em 2015, o Sesame Credit combina:
- Histórico de pagamentos (Alipay, cartões de crédito)
- Comportamento de compra (o que você compra no Taobao/Tmall — comprar fraldas aumenta score, comprar videogames diminui)
- Rede social (score dos seus amigos no Alipay influencia seu score)
- Características pessoais (formação educacional, profissão)
- Comportamento online (quanto tempo você passa online, que horas acessa)
Score vai de 350 a 950. Acima de 750, você consegue alugar carro sem depósito, pular filas de visto em alguns países, acessar crédito com juros baixos. Abaixo de 600, dificuldade para alugar apartamento, caução maior em serviços. O Sesame Credit é capitalismo de vigilância puro: Alibaba extrai dados comportamentais para vender crédito/seguros, enquanto disciplina usuários a se tornarem "bons consumidores" (comprar coisas "responsáveis", ter amigos com score alto).
19.3.6 A Crítica Correta: Convergência Global Rumo à Governança por Score
A crítica correta, portanto, não é a de uma distopia "orwelliana" exclusivamente chinesa já realizada, mas a de uma nova
forma de governança que representa uma intensificação e fusão de lógicas que já
existem no Ocidente. As três diferenças cruciais entre o modelo chinês e o ocidental são:
1. A Fusão Explícita Estado-Empresa: Enquanto no Ocidente há uma separação (pelo menos
formal) entre o score de crédito privado (Serasa, FICO) e o Estado (que só acessa via mandato judicial ou acordos específicos), o modelo chinês funde explicitamente o
poder de vigilância estatal com o poder de coleta de dados das corporações. O Partido Comunista tem assentos nos conselhos das gigantes tech (Alibaba, Tencent, Baidu) e pode requisitar dados a qualquer momento. Não há pretensão de separação.
2. A Expansão do Escopo para "Comportamento Cívico": Embora o foco principal seja econômico (compliance corporativo), a ambição declarada do
sistema é ir além do comportamento financeiro para incluir o comportamento "cívico" e social (respeitar pais idosos, ser "moral", não criar "desordem social"). Isso abre um perigoso precedente para o "function creep" (expansão gradual das funções) — a expansão gradual do sistema para
fins de controle político explícito. Já há casos documentados: ativistas de direitos humanos (Liu Hu, jornalista que expôs corrupção) foram colocados em blacklists e impedidos de viajar/comprar imóveis — punição por "espalhar rumores" (criticar o governo).
3. Transparência Zero + Ausência de Devido Processo: No Ocidente, você pode (teoricamente) contestar seu score de crédito, processar a agência, exigir correção de erros. Na China, a maioria dos sistemas de crédito social é opaca: você não sabe exatamente como é calculado, não pode contestar facilmente, e não há instância judicial independente para apelar. Se um comitê do Partido decide que você está na blacklist, não há apelação real.
19.3.7 A Análise Materialista: Capitalismo de Vigilância vs. Socialismo de Vigilância
A análise materialista correta não deve ser uma simples condenação do modelo chinês como uma aberração que
se opõe a um Ocidente "livre". A análise correta é ver uma convergência global em
direção a uma governança por score, com variações regionais:
Modelo Ocidental (Capitalismo de Vigilância): Poder de vigilância do capital privado, focado na disciplina econômica. Empresas (Google, Facebook, Serasa, Experian) coletam dados massivos, geram scores, vendem para outras empresas (seguradoras, bancos, empregadores). Estado acessa via compra de dados ou parcerias (Palantir vende análise de dados para ICE deportar imigrantes). Narrativa ideológica: "livre mercado", mas na prática é tirania corporativa algorítmica. Você é livre para não usar Facebook... mas então não consegue emprego (recrutadores checam perfil), não fica sabendo de eventos, fica socialmente isolado.
Modelo Chinês (Socialismo de Vigilância? Autoritarismo de Vigilância?): Fusão do poder do capital com o poder do Estado, buscando uma disciplina social e econômica total. Estado + Partido controlam big tech (Alibaba, Tencent), requisitam dados quando querem, usam para: 1) governança econômica (punir fraudes corporativas), 2) controle social (punir dissidência política). Narrativa ideológica: "construção de sociedade harmoniosa", mas na prática é controle totalitário com eficiência algorítmica. Você é livre para criticar o Partido... mas então seu score cai, filhos não entram em escola boa, não consegue viajar, vira unperson digital.
Ambos são profundamente problemáticos e apontam para futuros distópicos diferentes, mas intimamente relacionados, de
controle e classificação da vida social. A diferença não é "liberdade vs. controle", mas "controle privado capitalista vs. controle estatal-capitalista". Ambos usam os mesmos mecanismos técnicos (big data, machine learning, reconhecimento facial), apenas com propósitos ligeiramente diferentes.
19.3.8 O Futuro: Governança Algorítmica Democrática é Possível?
A questão crucial: existe terceira via? Governança algorítmica pode ser democrática e emancipatória? Algumas propostas emergentes:
1. Scores Auditáveis e Contestáveis: Legislações como GDPR (Europa) e LGPD (Brasil) já exigem que algoritmos de decisão sejam explicáveis. Mas precisamos ir além: código-fonte aberto de algoritmos públicos (se o governo usa algoritmo para decidir quem recebe benefício social, o código deve ser público e auditável por qualquer cidadão).
2. Governança Cooperativa de Dados: Ao invés de empresas privadas (Serasa) ou Estado autoritário (China) controlarem dados, criar trusts de dados geridos democraticamente por cidadãos. Modelo Barcelona (após Smart City fracassar): dados urbanos são "commons" geridos por conselho cidadão, empresas só acessam mediante autorização pública e pagando taxa que reverte para comunidade.
3. Abolição de Certos Scores: Algumas categorias de scoring deveriam ser simplesmente proibidas. Usar score de crédito para decidir emprego é discriminação econômica (pobres ficam pobres porque não conseguem emprego porque são pobres). Usar "score de personalidade" (como Amazon patenteou para decidir quem contratar) é eugenia digital.
A governança por score não vai desaparecer — é eficiente demais para capital e Estados renunciarem. A luta é por quem controla os scores, para que fins, com quais salvaguardas. Sem organização política massiva, convergiremos para o pior dos dois mundos: vigilância total com objetivos privados (lucro) + estatais (controle).
19.4 O Cooperativismo de Plataforma: A Internet dos Trabalhadores
19.4.1 Trebor Scholz e a Proposta Fundacional (2014-2016)
Em contraste direto com os modelos estatais (China, Cuba) e as distopias de vigilância (scores algorítmicos), uma alternativa de base tem ganhado força nos
últimos anos: o cooperativismo de plataforma. A ideia, popularizada pelo
pesquisador Trebor Scholz (2014-16), é simples e poderosa: e se as plataformas que usamos todos os dias —
como Uber, iFood ou Airbnb — fossem propriedade e geridas democraticamente por seus próprios
trabalhadores e usuários, em vez de serem controladas por investidores de capital de risco do
Vale do Silício?
A proposta de Scholz surge como resposta à uberização do trabalho (ver Cap 8): plataformas que precarizam trabalhadores (sem direitos, salários abaixo do mínimo, algoritmos opacos), extraem mais-valia brutal (30-40% de taxa), e concentram poder em poucos acionistas bilionários. O cooperativismo de plataforma inverte essa lógica: mesma tecnologia (apps, algoritmos, redes), propriedade e controle invertidos. Ao invés de Mark Zuckerberg ou Travis Kalanick decidirem sozinhos, decisões são tomadas democraticamente por quem trabalha e usa a plataforma.
🤝
Trebor Scholz: Do Ativismo de Mídia ao Cooperativismo Digital
Trebor Scholz (nascido 1968, Alemanha), acadêmico e ativista radicado em Nova York, é o principal teórico do cooperativismo de plataforma. Formado em artes e mídia, Scholz começou nos anos 1990 estudando comunidades online e trabalho digital. Em 2014, escreveu o ensaio viral "Platform Cooperativism vs. the Sharing Economy", cunhando o termo e propondo converter plataformas capitalistas (Uber, Airbnb) em cooperativas de propriedade de trabalhadores. Em 2016, publicou o livro-manifesto "Platform Cooperativism: Challenging the Corporate Sharing Economy", que virou referência global. Scholz fundou o Platform Cooperativism Consortium na New School (Nova York), que mapeia cooperativas digitais, oferece treinamento, e conecta desenvolvedores com trabalhadores querendo criar alternativas. Seu argumento central: cooperativas não são apenas "mais justas", são mais sustentáveis — trabalhadores-proprietários têm interesse de longo prazo na saúde da plataforma (não podem simplesmente vender e sair), enquanto VCs querem "exit" rápido (vender por bilhões em IPO). O desafio que Scholz reconhece: escala. Cooperativas têm acesso limitado a capital (não podem vender ações para VCs sem perder controle), então competir com Uber (que recebeu US$ 25 bilhões em investimentos) é brutalmente difícil. Solução proposta: Estado precisa apoiar — compras públicas priorizando cooperativas, fundos públicos de crédito, legislação facilitando conversão de empresas falidas em cooperativas (modelo italiano Legge Marcora). Scholz é um dos poucos acadêmicos que conecta teoria (marxismo, economia solidária) com prática (ajudou a fundar várias cooperativas de plataforma reais).
19.4.2 O Que É Uma Cooperativa de Plataforma? Definição e Princípios
Uma cooperativa de plataforma é, essencialmente, uma empresa de tecnologia organizada como uma
cooperativa. Ela segue os 7 princípios cooperativistas internacionais (estabelecidos pela International Cooperative Alliance, 1995), adaptados ao digital:
- 1. Adesão Livre e Voluntária: Qualquer trabalhador/usuário que atenda critérios mínimos pode se tornar membro-proprietário
- 2. Controle Democrático: Uma pessoa = um voto (não uma ação = um voto como em empresas capitalistas). Decisões sobre algoritmo, preços, condições de trabalho são tomadas em assembleia
- 3. Participação Econômica: Membros contribuem equitativamente para o capital, recebem lucros proporcionalmente ao trabalho/uso (não ao capital investido)
- 4. Autonomia e Independência: Cooperativa é controlada por membros, não por investidores externos ou governo
- 5. Educação, Treinamento e Informação: Cooperativa educa membros sobre direitos, treina em habilidades técnicas (programação, design)
- 6. Cooperação entre Cooperativas: Federações, redes, compartilhamento de infraestrutura (ex.: CoopCycle compartilha software de roteamento entre 30+ cooperativas de entrega)
- 7. Interesse pela Comunidade: Lucros revertem para comunidade local, não para acionistas distantes
O objetivo é usar a tecnologia digital para conectar produtores e consumidores, mas
sem a camada de extração de valor dos intermediários capitalistas. Os lucros são distribuídos
entre os membros, e as decisões sobre as regras da plataforma, os preços e as condições de
trabalho são tomadas de forma democrática.
19.4.3 Exemplos Reais Funcionando AGORA: A Prova de Conceito Global
Já existem centenas de exemplos reais em todo o mundo, provando que não é utopia, mas realidade operacional:
🚲 CoopCycle (França/Europa, 2017-hoje): Federação de 30+ cooperativas de entrega por bicicleta em 10 países (França, Bélgica, Alemanha, Espanha, UK, Canadá). Cada cidade tem uma cooperativa local de ciclistas-proprietários, mas todas usam o mesmo software livre (código aberto no GitHub) desenvolvido coletivamente. Algoritmo de roteamento é transparente (trabalhadores podem auditar), taxas são decididas democraticamente (15-20%, vs. 30-40% do Uber Eats/Deliveroo). Financiamento: 50% autofinanciamento (lucros retidos), 30% subsídios municipais (cidades europeias apoiam como alternativa à uberização), 20% crowdfunding. Desafio: competir com Deliveroo que tem bilhões em VC. Solução parcial: prefeituras de Paris, Barcelona, Bruxelas contratam CoopCycle para entregas públicas (merenda escolar, correios).
🏠 Fairbnb (Itália/Holanda, 2019-hoje): Alternativa cooperativa ao Airbnb. Diferença crucial: 50% das taxas revertem automaticamente para projetos comunitários locais escolhidos por assembleias de moradores. Exemplo: você aluga apartamento em Bolonha por 100€/noite, Fairbnb cobra 15€ de taxa (vs. 20-25€ do Airbnb), desses 15€, 7,50€ vão para fundo comunitário que financia restauração de praças públicas, bibliotecas, centros culturais. Objetivo: reverter gentrificação causada por Airbnb (que transforma bairros em hotéis, expulsando moradores). Ainda pequeno (500 listagens vs. 7 milhões do Airbnb), mas crescendo em cidades que querem controlar turismo predatório.
🧹 Up & Go (Nova York, 2017-hoje): Cooperativa de profissionais de limpeza, majoritariamente mulheres latinas e imigrantes. Permite aos clientes agendar serviços através de um aplicativo (como Handy/GetNinjas), mas com uma diferença brutal: 95% do pagamento vai diretamente para as trabalhadoras (vs. 50-60% em apps capitalistas). As próprias trabalhadoras desenvolveram o app com ajuda de desenvolvedores solidários, definiram preços (US$ 25-30/hora, acima do mercado), e controlam algoritmo de alocação de tarefas (sem ranking opaco que pune quem recusa serviço perigoso). Resultado: trabalhadoras ganham 40-50% mais que em agências tradicionais, têm seguro-saúde coletivo, e sentem orgulho de serem "patroas de si mesmas".
🎵 Resonate (Alemanha/Global, 2016-hoje): Plataforma de streaming musical de propriedade de artistas e ouvintes. Modelo de pagamento revolucionário: "stream-to-own" — primeira vez que você ouve uma música, paga 0,002€ (vai para artista), na nona vez que ouve, você "compra" a música automaticamente por 0,02€ total, e então pode ouvir infinitamente sem pagar mais (você passa a "possuir" digitalmente). Contraste com Spotify: artista recebe 0,003-0,004€ por stream infinitamente (0,02€ = ~5-7 streams no Spotify, mas em Resonate você já "possui"). Governança: artistas, ouvintes e trabalhadores da plataforma têm representação igual no conselho (multi-stakeholder cooperativa). Desafio: catálogo pequeno (5 mil artistas vs. 11 milhões do Spotify), mas atrai nicho de artistas independentes cansados de serem explorados.
📸 Stocksy (Canadá, 2013-hoje): Cooperativa de fotógrafos vendendo imagens stock (fotos para sites, anúncios). Modelo: fotógrafos são co-proprietários, recebem 50-75% da venda de cada foto (vs. 15-35% em Shutterstock/Getty Images). Lucros anuais são distribuídos: 50% para fotógrafos (dividendos proporcionais a vendas), 50% reinvestido na plataforma. Resultado: fotógrafos ganham 3-4x mais, têm voz nas decisões (assembleia anual vota prioridades), e não são tratados como "fornecedores descartáveis". Stocksy faturou US$ 15 milhões (2022), distribuiu US$ 7,5 milhões para 1.000+ fotógrafos-membros.
19.4.4 Brasil: Potencial Inexplorado e Casos Emergentes
O Brasil tem uma das maiores tradições cooperativistas do mundo (6.800+ cooperativas, 19 milhões de cooperados — dados OCB 2023), mas cooperativismo digital ainda é embrionário. Alguns casos emergentes:
🚗 Motorsapp (São Paulo, 2020-hoje): Cooperativa de mototaxistas (muitos ex-iFood/Uber Eats) cansados de taxas de 30-40% e algoritmos opacos. Desenvolveram app próprio (com ajuda de desenvolvedores voluntários da USP), cobram taxa de 12% (só para manter infraestrutura), e decidem democraticamente preços/condições. Desafio brutal: sem capital para marketing, crescimento é lento (2.000 cooperados vs. 300 mil entregadores de apps no Brasil). Mas resistem.
🛒 Celeiro (Porto Alegre, 2018-hoje): Cooperativa de consumo ecológico que conecta produtores orgânicos locais com consumidores urbanos via plataforma digital. Modelo: consumidores pagam mensalidade (R$ 50/mês) para acessar marketplace curado (só produtos de cooperativas agrícolas certificadas), produtores pagam taxa de 8% (vs. 25-30% de supermercados). Plataforma também organiza logística coletiva (caminhão cooperativo busca produtos de várias fazendas, reduz custo). Resultado: produtores recebem 30-40% mais, consumidores pagam 10-20% menos que em orgânicos de supermercado.
🎓 Cataki (Nacional, 2015-hoje): Rede que conecta catadores de materiais recicláveis com empresas/condomínios que querem destinar resíduos corretamente. App permite agendar coleta, rastrear material, e calcular impacto ambiental. Diferença do modelo "normal": Cataki é governada por cooperativas de catadores (não por "empreendedores sociais"), então decisões sobre preços, rotas, parcerias são tomadas por quem está na rua coletando. Expandiu para 100+ cooperativas em 15 estados.
19.4.5 O Desafio Estrutural: Por Que É Tão Difícil Escalar?
O desafio para o cooperativismo de plataforma é imenso e sistêmico. É extremamente difícil para pequenas
cooperativas competirem com as gigantes de tecnologia, que têm acesso a um capital quase
infinito e se beneficiam de fortes efeitos de rede (quanto mais usuários Uber tem, mais motoristas entram; quanto mais motoristas, mais usuários — loop de crescimento exponencial). As barreiras específicas:
1. Acesso a Capital: VCs despejaram US$ 25 bilhões no Uber (2009-2019) para queimar caixa e conquistar mercado (subsidiar corridas abaixo do custo real para matar táxis). Cooperativas não podem fazer isso porque: a) não podem vender ações (perderia controle democrático), b) crédito cooperativo é limitado, c) VCs não investem em cooperativas (retorno financeiro é menor porque lucro é distribuído entre trabalhadores, não concentrado em acionistas).
2. Efeitos de Rede e Lock-In: Usuários ficam em Uber/iFood porque "todo mundo usa", então sempre tem motorista/entregador disponível. Cooperativa pequena tem poucos trabalhadores, então tempo de espera é maior, então usuários desistem, então cooperativa não cresce — loop vicioso. Quebrar isso exige massa crítica inicial enorme.
3. Infraestrutura Tecnológica Cara: Desenvolver app + backend + sistema de pagamento + algoritmo de roteamento + suporte 24/7 custa milhões. Uber gastou US$ 1 bilhão+ em tecnologia (2009-2015). Cooperativas pequenas não têm esse dinheiro. Solução parcial: software livre compartilhado (CoopCycle modelo), mas ainda precisa expertise técnica (programadores, designers) que é cara.
4. Dumping Predatório: Quando cooperativa cresce e ameaça app capitalista, este pode fazer dumping — baixar preços abaixo do custo (queimando capital de VC) temporariamente para quebrar cooperativa. Exemplo: Uber fez isso com Lyft nos EUA (guerras de preço 2014-2017), e com 99 no Brasil (Uber baixou taxa para 5% por 6 meses em 2017 para matar 99). Cooperativa não tem bolsos fundos para sobreviver a guerra de preços.
5. Legislação Hostil: Leis trabalhistas e tributárias foram feitas para empresas capitalistas (hierarquia patrão-empregado), não para cooperativas (todos são sócios). Cooperativas enfrentam burocracia kafkiana: em muitos países, trabalhador não pode ser cooperado E empregado simultaneamente (então perde direitos trabalhistas). No Brasil, Lei 5.764/71 (legislação cooperativista) tem brechas que Receita Federal usa para barrar cooperativas de trabalho.
19.4.6 Estratégias de Sobrevivência e Escala: O Que Funciona?
Apesar das barreiras, cooperativas encontram caminhos:
1. Federação e Economia de Escala: Modelo CoopCycle — cooperativas locais pequenas, mas federadas em rede grande. Compartilham: software (custos divididos), marca (marketing coletivo), conhecimento (treinamento), e poder de barganha (negociar contratos públicos juntas). 30 cooperativas de 50 trabalhadores cada = 1.500 trabalhadores total, escala comparável a startup de entrega regional.
2. Nicho Antes de Massa: Ao invés de competir frontalmente com Uber (impossível), focar em nichos onde cooperativa tem vantagem. Exemplo: Up & Go domina nicho de clientes progressistas em NYC que querem apoiar trabalhadoras imigrantes (dispostos a pagar 10-20% mais); Fairbnb atrai turistas "conscientes" que querem evitar gentrificação. Construir base leal antes de escalar.
3. Apoio do Estado: Casos bem-sucedidos têm apoio governamental. Barcelona: prefeitura financiou desenvolvimento de software livre para cooperativas de entrega (€2 milhões, 2019-22), e agora contrata cooperativas para serviços públicos. Bologna (Itália): "Regolamento Beni Comuni" (2014) permite cooperativas usarem espaços públicos de graça em troca de cuidar de praças/escolas. Emilia-Romagna (região italiana): 30% do PIB é cooperativo porque governo regional subsidia formação de cooperativas há 40 anos.
4. Multi-Stakeholder Cooperatives: Ao invés de só trabalhadores, incluir usuários/consumidores como co-proprietários. Vantagem: usuários investem capital (pequenas quantias de muitos = grande capital agregado) E se tornam base de clientes fiel (são donos da plataforma que usam). Resonate (música) e Fairbnb (hospedagem) usam esse modelo.
19.4.7 Tecnologias Habilitadoras: Blockchain, IA, Software Livre
Tecnologias emergentes podem alavancar cooperativas:
Blockchain e DAOs: Organizações Autônomas Descentralizadas (DAOs) permitem governança cooperativa via smart contracts. Decisões (preços, alocação de recursos) podem ser votadas on-chain (transparência total), e execução é automática (sem diretoria que pode trair assembleia). Experimentos: DisCO (Distributed Cooperative Organizations), Colony, Aragon. Problema: DAOs ainda são dominadas por cripto-libertários que querem "destruir Estado", não construir solidariedade. Mas tecnologia é adaptável.
IA para Logística Cooperativa: Algoritmos de roteamento/precificação são caros de desenvolver, mas uma vez criados, podem ser software livre compartilhado entre cooperativas. Exemplo: OSRM (Open Source Routing Machine) é algoritmo de roteamento livre usado por CoopCycle — qualidade similar a Google Maps API, mas grátis e auditável. Cooperativas podem treinar IAs com seus próprios dados (sem vender para Google), melhorando algoritmo coletivamente.
Software Livre como Commons: Movimento de Software Livre (Stallman, FSF, GPL) provou que produção coletiva não-mercantil de tecnologia complexa funciona (Linux roda 90% dos servidores do mundo, Android, supercomputadores). Cooperativas podem se apropriar dessa infraestrutura: ao invés de cada cooperativa contratar programadores caros, federação mantém time de desenvolvedores que trabalham em software comum (modelo Apache Foundation, Mozilla). Custos divididos, benefícios compartilhados.
19.4.8 Visão de Futuro: Internet dos Trabalhadores ou Utopia Vencida?
No entanto, o movimento oferece uma visão
inspiradora de como a internet poderia ser: uma rede de plataformas democráticas e de
propriedade social, uma "internet dos trabalhadores". O debate crucial: é possível escalar cooperativas digitais a ponto de rivalizarem com gigantes tech? Três cenários:
Cenário 1 — Nichos Permanentes: Cooperativas permanecem pequenas e nichos (5-10% do mercado), atendendo clientes "conscientes" dispostos a pagar mais/esperar mais. Uber/Amazon dominam 90%. Cooperativas sobrevivem, mas não transformam estrutura.
Cenário 2 — Mudança Regulatória: Estados intervêm forçando competição justa: obrigar plataformas a abrirem APIs (interoperabilidade), proibir dumping predatório, financiar cooperativas públicas. Exemplo: se Brasil criasse "iFood público" (infraestrutura estatal, qualquer cooperativa pode usar), nivelaria campo. Cooperativas crescem para 30-40% do mercado. Semelhante a como Europa mantém setor cooperativo forte em energia (40% da energia na Dinamarca é de cooperativas eólicas).
Cenário 3 — Colapso e Reconstrução: Capitalismo de plataforma entra em crise (bolhas estouram, Uber/WeWork/Uber nunca ficam lucrativos, VCs param de queimar dinheiro). Plataformas capitalistas quebram ou são nacionalizadas. Vácuo é preenchido por cooperativas que já existiam e expandem rapidamente. Semelhante a como cooperativas europeias cresceram após 1ª Guerra Mundial (empresas capitalistas destruídas, trabalhadores assumiram controle).
O mais provável: combinação dos três. Cooperativas crescem lentamente em nichos (Cenário 1), Estados progressistas criam regulações favoráveis localmente (Cenário 2 — Barcelona, Bologna, Porto Alegre), e quando próxima crise financeira explodir (2025? 2030?), cooperativas estarão prontas para ocupar espaço (Cenário 3).
A lição de Trebor Scholz permanece: outra economia digital é possível, mas não vai cair do céu. Precisa de organização política consciente, apoio estatal, desenvolvimento tecnológico livre, e trabalhadores dispostos a serem donos coletivos ao invés de empregados precarizados. O futuro da internet será decidido por essa luta.
Conclusão: O Futuro do Planejamento é Distribuído — Mas Precisa de Poder Político
Síntese das Quatro Lições Históricas
O mosaico de experimentos que vimos neste capítulo, com seus sucessos parciais e fracassos instrutivos, aponta para
conclusões cruciais sobre o futuro de uma economia pós-capitalista:
Lição 1 — Iugoslávia: Autogestão + Mercado Capitalista = Contradição Insuperável. Democracia no chão de fábrica é insuficiente se as cooperativas competem sob lógica capitalista de maximização de lucro individual. O mercado pressiona cooperativas a se comportarem como empresas capitalistas — demitir trabalhadores, acumular desigualdades, ignorar solidariedade. Para funcionar, autogestão precisa de coordenação solidária que vá além do mercado: planejamento participativo (Cybersyn), federações com fundos de redistribuição (Mondragón), ou regulação estatal forte (Bologna).
Lição 2 — Cuba: Resiliência Local + Rigidez Central = Inovação Bloqueada. Cuba provou extraordinária capacidade de inovação comunitária (organopônicos, biotecnologia) em condições adversas. MAS estrutura de planejamento central burocrática atrasou e limitou essas inovações. Solução não é abolir coordenação central (mercado total), nem impor controle total (stalinismo), mas criar cibernética de 2ª ordem: centro fornece infraestrutura/recursos, decisões concretas ficam com comunidades locais, feedback constante ajusta plano. Cybersyn sonhava exatamente isso.
Lição 3 — Sistemas de Score (China/Ocidente): Governança Algorítmica Sem Democracia = Distopia Garantida. Tanto o modelo ocidental (vigilância privada para lucro) quanto o chinês (vigilância estatal para controle social) convergem para futuro distópico de classificação algorítmica total da vida. A tecnologia não é o problema — algoritmos podem ser ferramentas de coordenação democrática. O problema é quem controla, para quais fins, com quais salvaguardas. Sem organização política massiva exigindo transparência, auditabilidade e governança democrática de algoritmos, teremos pior dos dois mundos: eficiência totalitária a serviço de lucro + controle.
Lição 4 — Cooperativismo de Plataforma: Alternativa Existe e Funciona, MAS Escala Exige Apoio Estatal. Centenas de cooperativas digitais (CoopCycle, Up & Go, Fairbnb, Resonate) provam que outra economia digital é possível AGORA, não como utopia futura. Tecnologia não é barreira (temos software livre, algoritmos abertos, infraestrutura barata). Barreira é política: cooperativas sem capital bilionário de VCs não podem competir com Uber/Amazon em "mercado livre". Precisam de Estado democrático como aliado: financiamento público, compras governamentais priorizando cooperativas, regulação forçando interoperabilidade, legislação facilitando conversão de empresas em cooperativas.
A Falsa Dicotomia do Século XX: Mercado vs. Plano Central
O debate do século XX entre o planejamento central burocrático (URSS, OGAS) e o mercado capitalista (Ocidente) parece ter se esgotado. O primeiro se mostrou rígido, ineficiente e propenso à dominação
burocrática (Cap 17 — OGAS sabotado por burocratas defendendo feudos de poder). O segundo, como vimos ao longo de todo este livro (Caps 3, 8, 11, 13-16, 20-22), é inerentemente gerador de
desigualdade, crise, alienação, e destruição ecológica. Ambos falharam porque operam com cibernética de 1ª ordem — controle unidirecional, seja do Gosplan, seja do "mercado" (que é, na verdade, poder corporativo oligopolista disfarçado).
A Terceira Via: Coordenação Distribuída com Cibernética de 2ª Ordem
O futuro de uma economia pós-capitalista parece residir em formas de coordenação
distribuída, que combinem o poder da tecnologia digital com a propriedade social e
a governança democrática. Três pilares arquitetônicos:
1. Autonomia Local com Coordenação Global: Unidades produtivas (fábricas, cooperativas, comunidades) têm autonomia para decisões locais (o que produzir, como organizar trabalho, como distribuir localmente), MAS coordenam-se via plataformas digitais para alocar recursos escassos, evitar duplicação, e garantir solidariedade inter-regional. Modelo: VSM de Beer (Cap 18) aplicado a federação de cooperativas — cada cooperativa é "sistema viável" autônomo, federação fornece "sistema 4" (inteligência) e "sistema 5" (política/valores compartilhados).
2. Planejamento Participativo Habilitado por Tecnologia: Ao invés de Gosplan calculando 12 milhões de preços em Moscou, ou "mercado invisível" decidindo via oferta/demanda (que é, na prática, poder corporativo), criar plataformas digitais de deliberação onde trabalhadores/consumidores/comunidades negociam diretamente. Tecnologia (IA, blockchain, software livre) fornece: a) transparência total de dados (produção, estoques, demanda real), b) simulação de cenários (se alocarmos recursos assim, quais consequências?), c) votação/priorização democrática (orçamento participativo digital em escala nacional/global).
3. Propriedade Social Diversificada: Não existe "A" forma de propriedade social. Diferentes setores podem ter arranjos diferentes: cooperativas de trabalhadores (indústria, serviços), cooperativas de consumidores (varejo, habitação), propriedade estatal democrática (infraestrutura estratégica — energia, água, internet), commons digitais (software livre, conhecimento científico), propriedade comunitária (terra, florestas). O que unifica: ausência de propriedade privada capitalista (fim da extração de mais-valia por acionistas que não trabalham), + governança democrática (quem é afetado por decisão tem voz na decisão).
O Desafio Não é Técnico, é Político: Poder e Transição
A visão original do Cybersyn (Cap 18), com sua ênfase na autonomia das unidades
produtivas conectadas por redes de informação em tempo real, e a proposta contemporânea do cooperativismo de plataforma (este capítulo), com seu foco na
propriedade e gestão pelos trabalhadores, apontam nessa direção. O desafio não é mais técnico — sabemos como fazer. Em 1971, Beer fez Cybersyn funcionar com 1 mainframe IBM e telex dos anos 1930. Hoje temos internet, IA, IoT, blockchain, computação distribuída — fazer Cybersyn 2.0 seria 100x mais fácil tecnicamente.
O desafio é político: como construir poder suficiente para implementar essa transformação contra resistência de: a) capital que lucra com extração via plataformas, b) Estados que usam vigilância algorítmica para controle, c) inércia institucional (path dependence — já fazemos assim há décadas), d) captura ideológica ("não há alternativa" ao mercado)? Três lições dos experimentos históricos:
1. Não Basta Tecnologia Alternativa — Precisa Defender Militarmente: Cybersyn funcionou tecnicamente, MAS foi destruído porque Allende não conseguiu impedir golpe militar (Cap 18). OGAS foi sabotado porque Glushkov não tinha poder político para vencer burocratas (Cap 17). Cooperativas de plataforma podem ser esmagadas por dumping predatório se não houver regulação estatal protegendo. Soberania tecnológica exige soberania política — poder de Estado capaz de defender experimentos contra sabotagem interna/externa.
2. Democracia de Base + Coordenação Centralizada: Cuba mostrou que resistência/inovação local é crucial (organopônicos surgiram de baixo), MAS sem coordenação central eficaz, inovações ficam isoladas e não escalam. Iugoslávia mostrou que democracia de base sem coordenação solidária é esmagada por competição mercantil. Síntese: federalismo democrático — decisões locais onde possível, coordenação central onde necessário (infraestrutura, redistribuição, planejamento estratégico), SEMPRE com feedback bidirecional (centro não impõe sem ouvir base, base não ignora informações do centro).
3. Transição é Longa e Conflituosa — Preparar para Sabotagem: Todos os experimentos históricos enfrentaram sabotagem: OGAS (burocracia soviética), Cybersyn (CIA + golpe), Iugoslávia (FMI + nacionalismo), Cuba (bloqueio EUA 60 anos). Cooperativas enfrentam dumping, legislação hostil, falta de crédito. Não há "transição pacífica" para pós-capitalismo. Capital não vai entregar controle voluntariamente. Precisamos de: a) resiliência (redundância, descentralização para sobreviver ataques), b) solidariedade internacional (apoio mútuo entre experimentos — como CoopCycle faz federando cooperativas), c) estratégia de poder (construir maioria eleitoral + movimentos sociais capazes de resistir a golpes).
Palavras Finais: Coordenação Não é Oposta à Liberdade — Pode Ser Sua Expressão Máxima
O planejamento, na era da internet e da inteligência artificial, não precisa ser o oposto da liberdade;
ele pode ser a sua mais alta expressão. A diferença crucial: quem planeja, para quem, com quais ferramentas. Planejamento capitalista (algoritmos de Facebook/Amazon decidindo o que vemos/compramos) é tirania privada. Planejamento burocrático (Gosplan decidindo sem consultar trabalhadores) é tirania estatal. Planejamento democrático distribuído (trabalhadores/comunidades coordenando-se via plataformas digitais transparentes e auditáveis) seria liberdade coletiva — capacidade de moldarmos conscientemente nosso futuro comum ao invés de sermos arrastados por "forças cegas do mercado" (que são, na verdade, decisões de CEOs e algoritmos opacos).
Este é o horizonte que os experimentos deste capítulo apontam — não como garantia, mas como possibilidade real que depende de nossa ação política. A infraestrutura técnica existe. O conhecimento existe. Exemplos funcionando existem. O que falta é poder político organizado para generalizá-los. Os próximos capítulos (Parte V: Caps 20-22) vão analisar os constrangimentos geopolíticos reais que qualquer projeto emancipatório enfrenta hoje. Depois (Parte VI: Caps 23-28), retornaremos às propostas concretas, agora com os pés fincados na realidade do poder global. Mas guardemos essa lição do Cap 19: outra economia digital não é utopia — é luta política em curso.
---
🔑 Mini-Glossário do Capítulo
- Autogestão: Um sistema em que as empresas são geridas pelos próprios
trabalhadores, geralmente através de conselhos eleitos.
- Cooperativismo de Plataforma: Um movimento que propõe a criação de plataformas
digitais (aplicativos, sites) que são propriedade e geridas democraticamente por seus
trabalhadores e usuários.
- Governança Algorítmica: O uso de algoritmos e análise de dados para gerenciar
e controlar populações e processos sociais.
- Período Especial: A profunda crise econômica enfrentada por Cuba após o
colapso da União Soviética em 1991.
- Sistema de Crédito Social: Um conjunto de sistemas em desenvolvimento na China
para avaliar a "confiabilidade" de cidadãos e empresas com base em uma variedade de dados.
- Trebor Scholz: Um pesquisador e ativista alemão-americano, considerado o
principal proponente e teórico do cooperativismo de plataforma.
💭 Exercícios de Análise
1. O Dilema da Cooperativa: Pesquise sobre uma cooperativa de plataforma que
atue na sua cidade, região ou país. Quais são os principais serviços que ela oferece? Quais são
os maiores desafios que ela enfrenta para competir com as plataformas capitalistas tradicionais?
2. Vigilância Ocidental: O sistema de crédito social chinês é frequentemente
descrito como "orwelliano". No entanto, plataformas como Google, Facebook e empresas de crédito
como a Serasa também coletam uma quantidade massiva de dados sobre nós e os usam para nos dar um
"score" que afeta nossa vida. Quais são as semelhanças e as diferenças fundamentais entre o
modelo chinês e o modelo ocidental de vigilância e pontuação?
3. Autogestão Hoje: O modelo de autogestão iugoslavo falhou, mas a ideia de
democracia no local de trabalho continua viva. Pesquise sobre o movimento de "fábricas
recuperadas" na Argentina ou em outros países. Como os trabalhadores se organizam para gerir as
empresas que foram abandonadas por seus antigos donos?
🔗 Conexões com Outros Capítulos
🔄 Fundamentos Históricos Aplicados
Cap 17 (OGAS + Cybersyn): Se Cap 17
mostrou por que fracassaram (OGAS = sabotagem burocrática,
Cybersyn = golpe militar), este capítulo pergunta: o que podemos
aprender para não repetir erros? Lição Cybersyn: autonomia local +
coordenação democrática via informação em tempo real = modelo viável.
Cooperativas de plataforma (cooperativismo digital) aplicam
EXATAMENTE essa lição: propriedade descentralizada (trabalhadores), coordenação
via tecnologia (app), decisões democráticas (assembleias). Cybersyn 2.0 =
federação de cooperativas de entrega (CoopCycle).
Cap 18 (Stafford Beer + VSM):
Modelo do Sistema Viável (Beer) é DNA teórico das cooperativas.
VSM ensina: sistema sobrevive com autonomia das partes (cada
cooperativa local auto-organizada) + coesão do todo (federação/rede
para escala). Fairbnb, Up & Go, CoopCycle são VSM aplicado ao digital — não são
"empresas pequenas", são células auto-organizadas conectadas em
rede viva. Beer sonhava com isso em 1971; hoje é possível via internet +
software livre.
Cap 4 (Cálculo Socialista): Debate Mises
vs. Lange (1920s) sobre "socialismo pode calcular sem mercado?" ganha RESPOSTA
PRÁTICA. Cooperativas de plataforma provam: sim, pode — via
dados em tempo real, algoritmos transparentes, decisões democráticas sobre
preços/distribuição. Não é planejamento central burocrático (Lange) NEM mercado
privado (Mises), mas terceiro caminho: coordenação distribuída
via tecnologia de propriedade social.
💡 Conexões com Trabalho e Resistência
Cap 8 (Trabalho Imaterial): Se Cap 8
diagnosticou precarização via plataformas (uberização,
gerenciamento algorítmico), este capítulo propõe solução via
cooperativas. Mesma tecnologia (app, algoritmo, rede), controle
invertido: ao invés de acionistas do Silicon Valley extraindo valor,
trabalhadores-proprietários decidem democraticamente. Up & Go (limpeza)
e CoopCycle (entrega) são anti-iFood, anti-Uber — tecnologia a
serviço de quem trabalha, não contra.
Cap 9 (Pós-Operaísmo): Conceito de
Comum (Negri/Hardt) ganha materialização prática. Cooperativas
de plataforma são produção do Comum: conhecimento (software livre),
infraestrutura (servidores cooperativos), valor (distribuído entre
trabalhadores) geridos coletivamente. Não é propriedade privada (Capital) NEM
propriedade estatal (burocracia), mas propriedade social —
terceira via que pós-operaísmo teorizou, cooperativismo pratica.
Cap 12 (Ciberfeminismo): Cooperativas
digitais podem ser feministas e antirracistas por design. Up &
Go (Nova York) é cooperativa de mulheres latinas/imigrantes fazendo limpeza — ao
invés de agências que exploram, elas possuem tecnologia e decidem
preços/condições. Diferença brutal: algoritmo não as monitora (elas controlam
algoritmo); lucro não vai para investidor (elas SÃO investidoras coletivas).
Tecnologia a serviço de quem historicamente foi mais explorado.
🌍 Conexões Globais e Geopolíticas
Cap 20 (Geopolítica): Cooperativas de
plataforma são resistência à colonialidade digital. Uber/iFood
extraem valor do Sul Global (entregadores brasileiros) para concentrar lucro no
Norte (acionistas EUA). Cooperativas reterritorializam valor: lucro
fica na comunidade local. Fairbnb (alternativa cooperativa ao Airbnb) reverte
50% taxas para projetos comunitários — ao invés de gentrificação global,
desenvolvimento local.
Cap 25 (China): Debate "crédito social
chinês vs. crédito privado ocidental" (seção 19.3) prepara Cap 25. Ambos são
governança algorítmica — diferença: China funde Estado +
Empresa explicitamente, Ocidente faz fusão via mercado (Google vende dados para
governo, governo compra serviços de Amazon). Cooperativas oferecem
terceira via: governança algorítmica democrática
(código aberto, auditável, controlado por assembleia de trabalhadores).
Caps 26-28 (Cosmotécnicas):
Cooperativismo de plataforma não precisa ser modelo único global — pode se
adaptar a cosmotécnicas locais. Cooperativa guarani pode usar
app para coordenar economia do Nhandereko (bom viver). Cooperativa
quechua pode aplicar Sumak Kawsay (bem viver andino). Tecnologia não
impõe monocultura — pode amplificar diversidade cultural se propriedade for
local/coletiva.
⚖️ Aplicação em Políticas Públicas
Cap 24 (Políticas): Este capítulo fornece
modelo concreto para 5 políticas do Cap 24:
- Fundo Público para Cooperativas: Estado financia
formação/infraestrutura de cooperativas de plataforma (competir com
Uber/iFood que têm bilhões em capital de risco). Não subsídio permanente,
mas investimento inicial em alternativa democrática.
- Compras Públicas Cooperativas: Governo prioriza contratar
cooperativas (limpeza escolas via Up & Go, entrega merenda via CoopCycle).
Cria demanda estável, ajuda cooperativas escalarem.
- Interoperabilidade Forçada: Obrigar Uber/iFood a permitir
que cooperativas acessem mesma base de clientes (via API aberta). Quebra
lock-in, cria competição justa.
- Conversão Empresa → Cooperativa: Criar incentivos fiscais
para trabalhadores comprarem empresa (via financiamento público) e
transformarem em cooperativa. Modelo italiano "Legge Marcora" (1985) pode
ser adaptado ao digital.
- Software Público Livre: Estado financia desenvolvimento de
stack tecnológico livre (app, backend, algoritmo) que QUALQUER cooperativa
pode usar. Não criar "Uber estatal", mas infraestrutura pública
para cooperativas construírem em cima.
🔬 Face de LIBERAÇÃO da Cibernética
Cap 6 (Cibernética 2ª Ordem): Cooperativas
de plataforma são cibernética de 2ª ordem aplicada à economia:
- Auto-organização: Trabalhadores decidem regras, não
gerente/acionista externo
- Feedback democrático: Assembleia discute algoritmo, preços,
condições — input direto no sistema
- Aumento de variedade: Multiplicidade de cooperativas com
modelos diferentes (não monocultura Uber)
- Recursividade: Cooperativas locais se federaram em redes
maiores (CoopCycle = federação europeia de +30 cooperativas de entrega)
Cap 23 (Dupla Face): Este capítulo mostra
face de LIBERAÇÃO que sintetizaremos no Cap 23. Se Caps
8/13/14/21/22 mostraram face de CONTROLE (uberização, vício, fascismo), este
capítulo prova: mesma tecnologia digital pode ser organizada para
libertar. Não é utopia — são centenas de cooperativas funcionando AGORA
(Up & Go, Fairbnb, CoopCycle, Stocksy, Resonate). Desafio não é técnico
(tecnologia existe), mas político: como escalar contra Capital
que tem bilhões?
🌱 Mensagem-Chave: Cooperativas de plataforma provam que
outra economia digital é possível — não como utopia futura, mas
como realidade presente (centenas funcionando em 40+ países). Não é "volta ao
passado" (cooperativismo século XIX), mas salto ao futuro: tecnologia de
ponta (IA, blockchain, apps) + propriedade social + governança democrática. O
problema não é técnico (sabemos como fazer), mas político: como competir com
gigantes que têm acesso a bilhões em capital de risco? Resposta: Estado
precisa tomar lado — financiar cooperativas, comprar delas, forçar
interoperabilidade, criar infraestrutura pública. Mercado "livre" sempre favorece
quem já tem capital. Cooperativas precisam de Estado democrático como aliado.
🚀 Para Ação: Você pode começar AGORA: 1) Pesquise cooperativas
digitais no Brasil (Brasil tem +1.000 cooperativas de trabalho, várias usando apps),
2) Prefira cooperativas quando possível (consumo é político), 3) Se é trabalhador de
app, articule-se com colegas (sindicalização + conversão para cooperativa é legal no
Brasil — Lei 5.764/71), 4) Pressione governo local para compras públicas
cooperativas. Cooperativismo não é caridade — é organização política do
trabalho.
📚 Leituras Complementares
- Nível Intermediário:
- Scholz, T. (2016). Platform Cooperativism: Challenging the Corporate Sharing Economy.
(O manifesto que lançou o movimento do cooperativismo de plataforma).
- Artigo: "China's Social Credit System: A Mark of Progress or a Threat to Privacy?" (Busque por
artigos recentes na The Economist, The Guardian ou outras fontes confiáveis para ter uma visão
geral e atualizada do sistema chinês).
- Nível Avançado:
- Uvalić, M. (2014). Workers' Self-Management in Yugoslavia. In: The Oxford
Handbook of the Economics of the Pacific Rim. (Um capítulo de livro acadêmico que
oferece uma análise detalhada do modelo iugoslavo).
- Wright, E. O. (2010). Envisioning Real Utopias. (Um livro fundamental que analisa
diferentes modelos de empoderamento social, incluindo a economia cooperativa, como blocos de
construção para uma alternativa ao capitalismo).
---
Parte V: Análise de Conjuntura
📍 Você está aqui
Partes
I-IV ✓
→
Parte
V
→
Parte VI
→
Parte VII
→
Parte VIII
Progresso: ~65% do livro |
Tempo estimado: 1.5-2 horas para Parte V
🎯 O que você vai
aprender nesta Parte
- Guerra Cibernética Global: EUA vs China, controle de infraestrutura
(Cap 20)
- Brasil Periférico Digital: Inserção subordinada, dependência
tecnológica (Cap 21)
- Necropolítica Digital: Algoritmos racistas, genocídio periférico (Cap
22)
💡 Por que isso importa
Não dá para propor alternativas sem entender
os constrangimentos geopolíticos reais. Esta Parte analisa o mundo como ele
é AGORA, preparando o terreno para as propostas da Parte VI.
Da Autogestão Local à Soberania
Global: Os experimentos históricos que acabamos de examinar — do OGAS soviético ao
Cybersyn chileno, das cooperativas iugoslavas ao cooperativismo de plataforma contemporâneo —
revelaram uma lição fundamental: alternativas tecnológicas ao capitalismo são possíveis,
mas exigem soberania sobre a infraestrutura. Glushkov foi derrotado porque a
burocracia soviética tinha interesse em manter o controle. Beer foi derrubado pelo golpe apoiado
pelos EUA porque Allende ameaçava interesses imperiais. As cooperativas de plataforma lutam para
sobreviver porque operam dentro de um ecossistema digital dominado por monopólios.
Esta Parte V expande a escala da
análise: das experiências locais de autogestão para o contexto geopolítico
macro no qual qualquer projeto emancipatório precisa se inserir. A luta por uma
tecnologia democrática não pode ser vencida apenas no nível da organização cooperativa ou do
código aberto — ela precisa enfrentar a arquitetura global do poder digital: quem controla os
cabos submarinos, os servidores, os protocolos de pagamento, os sistemas de vigilância. A
soberania de rede é a condição de possibilidade para a autonomia tecnológica.
Vamos decifrar o presente para entender os constrangimentos e as possibilidades da luta futura.

Capítulo 20
Capítulo 20: A Guerra das Redes: Geopolítica Cibernética, BRICS Pay e a Batalha pelos Meios de
Pagamento
🔄 Recapitulando: Do Laboratório Histórico ao Mundo
Atual
Transição importante: Completamos a Parte
IV (Caps 17-19: experimentos históricos). Agora entramos na Parte
V — o capitalismo digital hoje, com foco na geopolítica e no Brasil.
🏛️ O que aprendemos com a História (Caps 17-19)
- OGAS (Cap 17): Planejamento cibernético falhou na URSS não por
limites técnicos, mas por resistência burocrática
- Cybersyn (Cap 18): Cibernética democrática era possível no Chile,
mas foi esmagada pelo golpe militar de Pinochet
- Cooperativas (Cap 19): Experimentos contemporâneos mostram que
alternativas existem, mas enfrentam escala e poder das plataformas
- Lição-chave: Tecnologia sozinha não basta — é sempre uma questão de
poder político
🌍 Agora (Caps 20-22): Vamos aplicar tudo que
aprendemos ao cenário contemporâneo. Como as disputas geopolíticas (BRICS
vs Ocidente, Cap 20), o capitalismo periférico brasileiro (Cap 21), e as necropolíticas
digitais (Cap 22) moldam nosso presente? Esta é a parte mais urgente — é sobre o mundo
neste exato momento.
Introdução: A Geopolítica como Guerra de Redes
Bem-vindo à Parte V do nosso livro. Após termos construído nosso arcabouço teórico e analisado as
experiências históricas, vamos agora aplicar essas ferramentas para decifrar o presente. E o
palco central da disputa geopolítica do século XXI não é mais apenas o território físico, mas a
infraestrutura informacional que sustenta o sistema global. O poder não reside apenas na força
militar ou econômica, mas na capacidade de controlar as redes, os protocolos e os fluxos de
informação. Este capítulo argumentará que a batalha pelos meios de pagamento globais é o
principal campo dessa nova guerra cibernética, uma disputa para definir quem controla a
arquitetura do poder mundial.
20.1 A Arquitetura Cibernética do Império do Dólar
Para entender a batalha atual, precisamos primeiro mapear a arquitetura de poder existente. O
sistema financeiro global, como ele funciona hoje, pode ser perfeitamente analisado como um
sistema cibernético centralizado. Neste sistema, o dólar americano não funciona
apenas como a principal moeda de reserva, mas como o protocolo universal da
economia global. A grande maioria do comércio internacional, incluindo o de commodities
essenciais como o petróleo, é cotada e liquidada em dólares. Isso confere aos Estados Unidos um
poder extraordinário, muitas vezes chamado de "privilégio exorbitante".
📊
Números do Império: A Escala da Hegemonia do Dólar
- 88% das transações cambiais globais envolvem o dólar (Bank for International Settlements, 2022)
- 59% das reservas globais dos bancos centrais estão em dólares (FMI, 2024) — caiu de 71% em 2001, mas ainda dominante
- 84% das transações SWIFT são denominadas em dólares ou euros (apenas 2% em yuan, apesar da China ser a 2ª maior economia)
- US$ 6,6 trilhões circulam FORA dos EUA — mais dólares fora que dentro do território americano
- Petrodólar: Acordo Nixon-Saud (1974) garantiu que petróleo seja vendido em dólares — criando demanda artificial permanente pela moeda americana
Consequência: EUA podem imprimir dinheiro para financiar déficits sem sofrer inflação devastadora (a inflação é "exportada" para o resto do mundo).
Déficit comercial americano de ~US$ 1 trilhão/ano (2023) é sustentável justamente porque o mundo precisa acumular dólares.
Nenhum outro país pode fazer isso — Argentina tenta e entra em hiperinflação; EUA fazem e chamam de "política monetária expansionista".
💵
O que é o "Privilégio Exorbitante" do Dólar?
O termo "privilégio
exorbitante" foi cunhado pelo ministro francês Valéry Giscard d'Estaing nos anos 1960
para descrever a vantagem estrutural que os EUA têm por emitirem a moeda de reserva
global. Como o dólar é usado para a maioria das transações internacionais (comércio de
petróleo, pagamentos entre países, reservas de bancos centrais), os EUA podem imprimir
dólares para pagar suas importações e dívidas — algo que nenhum outro país pode fazer
sem sofrer inflação ou crise cambial. Na prática, isso significa que os EUA podem manter
déficits comerciais gigantescos indefinidamente, financiar guerras sem aumentar
impostos, e impor sanções econômicas devastadoras a outros países simplesmente
excluindo-os do sistema financeiro em dólar (via SWIFT). Esse privilégio é sustentado
por três pilares: o poder militar dos EUA (que garante a "ordem" global), a profundidade
dos mercados financeiros americanos, e a inércia institucional (todo mundo usa dólar
porque todo mundo usa dólar). Mas esse privilégio está sendo contestado: a China, a
Rússia e outros países estão tentando criar sistemas de pagamento alternativos e reduzir
sua dependência do dólar. A "guerra das redes" de pagamento é, no fundo, uma disputa
pela soberania monetária global.
No entanto, um protocolo precisa de uma rede para operar. A infraestrutura que garante a
hegemonia do dólar é o SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication). Embora formalmente seja uma cooperativa neutra sediada na
Bélgica, o SWIFT, que processa milhões de mensagens financeiras entre milhares de bancos todos
os dias, é, na prática, um instrumento de poder geopolítico dos EUA. Por ter jurisdição sobre as
transações em dólar, Washington pode pressionar o SWIFT a cumprir suas decisões políticas.
🏦
SWIFT: A Rede Neural do Capitalismo Global
Fundada em 1973 por 239 bancos de 15 países, a SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)
opera hoje como o sistema nervoso central das finanças globais. Não transfere dinheiro —
transfere mensagens sobre dinheiro. É uma infraestrutura de informação pura.
- 11.000+ instituições financeiras em 200+ países conectadas
- 44,8 milhões de mensagens/dia (2023) — cada uma representa uma transação financeira
- Sede na Bélgica, mas sujeita à lei americana via "jurisdição extraterritorial" —
qualquer transação em dólar passa por correspondente bancário americano, logo, EUA podem monitorar/bloquear
- Código BIC (Bank Identifier Code): Todo banco no mundo tem um — ex: BBDEBRSPXXX (Bradesco Brasil).
Sem código SWIFT = invisível ao sistema financeiro global
Paradoxo: SWIFT é legalmente uma "cooperativa neutra" (cada banco-membro tem um voto),
mas geopoliticamente funciona como extensão do Tesouro dos EUA. Em 2012, sob pressão americana,
SWIFT desconectou bancos iranianos — primeira vez que a "neutralidade" foi quebrada explicitamente.
Estabeleceu precedente: conectividade financeira é condicional à obediência geopolítica.
Isso nos leva ao conceito de sanções financeiras como guerra de informação. O
exemplo mais claro foi a exclusão de vários bancos russos do SWIFT após a invasão da Ucrânia em
2022. Este ato não foi uma apreensão de ativos, mas algo mais sutil e poderoso: foi o ato de
desconectar um nó da rede. Ao impedir que os bancos russos se comuniquem com o
resto do sistema financeiro global, os EUA demonstraram o imenso poder que o controle da
infraestrutura de informação confere. É a capacidade de isolar e sufocar economicamente um
adversário sem disparar um único tiro, a forma mais pura de poder de rede.
⚔️
Caso: Sanções Russas 2022 — Quando a Rede Vira Arma
Em 26 de fevereiro de 2022, quatro dias após a invasão da Ucrânia, EUA/UE/Reino Unido anunciaram
a exclusão de sete grandes bancos russos do SWIFT (incluindo VTB, o segundo maior).
Impacto foi imediato e devastador:
- Rublo desabou 30% em uma semana (1 USD = 83 rublos → 120 rublos)
- Reservas cambiais congeladas: US$ 300 bilhões das reservas russas (metade do total)
ficaram inacessíveis — estavam em contas no Ocidente
- Importações despencaram: Empresas russas não conseguiam pagar fornecedores estrangeiros;
exportações de gás/petróleo continuaram (deliberadamente excluídas das sanções), mas pagamentos complicados
- Inflação explodiu: De 2% (jan/2022) para 17% (abril/2022) — escassez de produtos importados
Mas a história não acabou aí. Exclusão foi parcial (Sberbank, maior banco russo,
não foi desconectado — Alemanha/Itália dependem dele para pagar gás). Rússia ativou plano B:
- SPFS (sistema de pagamento russo) foi expandido para países parceiros — China, Irã, Turquia
- Comércio em moedas locais: Rússia-China passaram a usar yuan/rublo; Rússia-Índia usam rúpias
- Criptomoedas: Volume de transações em Bitcoin na Rússia aumentou 400% (usadas para evadir sanções)
- 2023-2024: Economia russa não colapsou — cresceu 3,6% (2023) e 3,9% (2024 projetado),
contrariando previsões. Sanções falharam?
Lição geopolítica: Sanções via SWIFT funcionam como choque inicial devastador,
mas países têm tempo de 6-12 meses para construir rotas alternativas. A exclusão da Rússia acelerou
a desdolarização global — países perceberam que depender 100% do SWIFT é risco existencial.
China, Índia, Brasil intensificaram esforços para criar sistemas próprios. Paradoxo:
EUA usaram a arma mais poderosa... e revelaram que ela pode ser contornada. Foi o início do fim do monopólio do SWIFT.
20.2 O Desafio Multipolar: CIPS, SPFS e a Busca por Soberania de Rede
Diante da crescente utilização das sanções financeiras como arma de guerra, as potências
emergentes, notadamente a China e a Rússia, começaram a construir infraestruturas alternativas
para se protegerem da hegemonia do dólar. Esta é a essência do desafio multipolar: a busca por
soberania de rede.
🇨🇳 CIPS: O Sistema de Pagamento Chinês
O CIPS Chinês: A iniciativa mais avançada é o Cross-Border Interbank
Payment System (CIPS) da China. É importante entender que o CIPS não é, ainda, um
substituto direto do SWIFT. Ele é primariamente um sistema de liquidação para
transações em yuan, enquanto o SWIFT é um sistema de mensagens. Na prática,
muitas transações do CIPS ainda usam o SWIFT para a comunicação. No entanto, o CIPS é a semente
de uma infraestrutura paralela, que, se combinada com a expansão do yuan digital, pode
eventualmente oferecer um ecossistema completo e independente do dólar.
🏛️
CIPS: Arquitetura e Escala da Alternativa Chinesa
Lançado em 2015 pelo Banco Popular da China (PBOC), o CIPS (Cross-Border Interbank Payment System)
é a resposta direta de Pequim à vulnerabilidade do SWIFT. Dados de 2024:
- 1.444 participantes diretos e indiretos em 109 países (vs. 11.000 do SWIFT, mas crescendo 15%/ano)
- ~80 mil transações/dia (2023) — ínfimo comparado aos 44 milhões do SWIFT, mas já processa
US$ 98 trilhões/ano em volume
- Cobertura geográfica: Ásia (50% dos participantes), Europa (30%), África (12%), América Latina (5%)
- Moedas: Primariamente yuan (CNY), mas aceita 28 moedas para conversão
- Protocolo híbrido: Usa ISO 20022 (padrão SWIFT), mas desenvolveu extensões próprias — interoperável, mas controlado pela China
Diferença crucial: CIPS liquida transações (transfere dinheiro de fato), enquanto SWIFT apenas
envia mensagens sobre transferências. Isso significa que o CIPS pode, teoricamente, funcionar de forma totalmente
independente — não precisa do SWIFT se tiver sua própria camada de mensagens.
Limitações: Yuan ainda é apenas 2-3% das reservas globais (vs. 59% do dólar). CIPS cresce rápido,
mas ainda é regional (Ásia + parceiros da Rota da Seda). Para se tornar alternativa global, yuan precisaria ser conversível
sem restrições — mas China mantém controle de capital rígido (não quer especulação contra yuan).
Dilema: liberalizar yuan para internacionalização OU manter controle para estabilidade? China tenta as duas coisas simultaneamente via yuan digital (e-CNY).
🇷🇺 SPFS: A Resposta Russa às Sanções
O SPFS Russo: Após a anexação da Crimeia em 2014 e as primeiras ameaças de
exclusão do SWIFT, a Rússia desenvolveu seu próprio sistema de mensagens, o System for
Transfer of Financial Messages (SPFS). Inicialmente um sistema doméstico, o SPFS
tem se expandido lentamente, conectando-se a bancos em outros países da esfera de influência
russa. Ele é menos sofisticado que o SWIFT, mas funcional como uma alternativa de emergência.
🛡️
SPFS: Sistema de Sobrevivência Financeira da Rússia
Criado em 2014 pelo Banco Central da Rússia como resposta às sanções da Crimeia, o SPFS
(Sistema para Transferência de Mensagens Financeiras, em russo) é a linha de defesa russa contra isolamento:
- 556 participantes (2024) — inclui todos os bancos russos + 159 instituições de 20 países
(Bielorrússia, Armênia, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão + países parceiros como Irã, Venezuela, Cuba)
- ~2,5 milhões de mensagens/dia (2023) — 20% de todas as transações domésticas russas já usam SPFS;
meta é 80% até 2025
- Tecnologia: Usa padrão russo (não ISO 20022) — intencionalmente incompatível com SWIFT para forçar independência
- Custo: 10x mais barato que SWIFT (comissões mínimas) — atrativo para países sob sanções
Casos de uso emergentes:
- Rússia-China: 23% do comércio bilateral (2023) já usa SPFS/CIPS ao invés de SWIFT/dólar
- Rússia-Irã: Acordo de 2023 conectou SPFS ao sistema bancário iraniano — pagamentos em rublo/rial
- Rússia-Índia: Comércio de petróleo russo usa sistema misto (SPFS + bancos intermediários em Dubai/Hong Kong)
- BRICS: SPFS proposto como uma das camadas técnicas do BRICS Pay (junto com CIPS e sistema indiano)
Limitação crítica: SPFS funciona, mas é lento e burocrático (mensagens demoram horas, não segundos).
É suficiente para sobrevivência, mas não para competir com SWIFT em eficiência. Funciona como "modo de emergência" —
ninguém quer usá-lo, mas é melhor que nada quando EUA desconectam você.
Analogia: É como ter um gerador diesel em casa — barulhento, caro, poluente, mas salva você quando a rede elétrica cai.
🌍 BRICS Pay: O Projeto Mais Ambicioso
O Projeto BRICS Pay: A proposta mais ambiciosa, no entanto, é o BRICS
Pay. Anunciado pelo bloco composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul
(e agora expandido), o projeto não visa criar um único sistema, mas uma plataforma que
integre os sistemas de pagamento digital já existentes em cada país (como o Pix no
Brasil, o UPI na Índia, etc.). A ideia é permitir que os países membros realizem transações
comerciais e financeiras diretamente em suas moedas locais, contornando completamente o dólar e
o SWIFT. A estratégia da desdolarização é, em sua essência, uma busca por
resiliência cibernética: a criação de redundância no sistema global para se
proteger de ataques (sanções) provenientes do nó central.
🌐
BRICS Pay: Arquitetura Federada para Multipolaridade
Anunciado na Cúpula BRICS de Joanesburgo (2023) e detalhado em Kazan (2024), o BRICS Pay não é um "banco central dos BRICS"
nem uma "moeda única BRICS" — é algo mais inteligente e pragmático: uma camada de interoperabilidade
entre sistemas nacionais já existentes.
Arquitetura técnica proposta (2024):
- Camada 1 — Sistemas nacionais: Pix (Brasil), UPI (Índia), FPS (Rússia), Alipay/WeChat Pay (China),
sistemas sul-africanos. Cada país mantém soberania total sobre seu sistema.
- Camada 2 — Bridge/Ponte: Protocolo comum de tradução entre sistemas (similar ao modelo IXP da internet).
Usa blockchain permissionada (provavelmente Hyperledger ou similar, não Bitcoin/Ethereum públicas).
- Camada 3 — Conversão de moedas: Pool de liquidez compartilhado. Quando brasileiro paga indiano,
sistema converte BRL→INR instantaneamente usando taxa de mercado. Sem dólar como moeda intermediária.
- Camada 4 — Governança: Decisões por consenso BRICS (cada país tem veto). Código aberto (previsto).
Auditoria pública das transações (privacidade individual, mas transparência sistêmica).
Dados e potencial:
- População BRICS (ampliado, 2024): 3,5 bilhões de pessoas (45% da humanidade)
- PIB combinado: US$ 28 trilhões (28% do PIB global, superando G7 em paridade de poder de compra)
- Comércio intra-BRICS: US$ 422 bilhões/ano (2023) — potencial imediato de desdolarização
- Sistemas de pagamento instantâneo existentes: Pix (Brasil, 155 milhões usuários), UPI (Índia, 300 milhões),
WeChat Pay (China, 1,3 bilhão) — infraestrutura pronta, só falta integrar
- Timeline: Fase-piloto prevista para 2025 (pagamentos pequenos, remessas), implementação completa 2027-2030
Visão estratégica: BRICS Pay não compete com dólar/SWIFT imediatamente — começa com nicho
(comércio entre países BRICS, remessas, turismo). Mas se funcionar, cria efeito de rede:
outros países do Sul Global vão querer entrar (Argentina, Arábia Saudita, Indonésia já demonstraram interesse).
Aos poucos, dólar deixa de ser necessário para comércio internacional — torna-se opcional.
Isso é desdolarização: não banir o dólar, mas torná-lo redundante.
⚠️
Desafios e Obstáculos do BRICS Pay
Apesar do potencial, BRICS Pay enfrenta obstáculos formidáveis — técnicos, políticos, econômicos:
- Divergência de interesses: China quer internacionalizar yuan (quer que BRICS Pay seja CIPS 2.0),
Rússia quer isolamento de sanções, Brasil/Índia querem autonomia (não trocar dependência do dólar por dependência do yuan).
Consenso é difícil.
- Confiança entre membros: Índia e China têm disputas territoriais (fronteira Himalaia).
Brasil historicamente desconfia de ambos. Como criar sistema financeiro compartilhado entre países que não confiam totalmente uns nos outros?
- Volatilidade cambial: Moedas BRICS flutuam muito (rublo desabou 30% em 2022, real varia 15-20%/ano).
Pool de liquidez para conversão BRL→INR→CNY sem dólar como âncora requer reservas massivas. Quem paga?
- Infraestrutura tecnológica: Brasil tem Pix (tecnologia de ponta), Rússia tem SPFS (funcional mas lento),
África do Sul tem sistema fragmentado. Integrar sistemas heterogêneos é pesadelo técnico.
- Pressão americana: EUA vão permitir passivamente? Já há ameaças de "sanções secundárias"
(punir empresas/países que usarem BRICS Pay). Brasil/Índia podem não aguentar pressão.
- Efeito de rede do dólar: Dólar é usado porque todo mundo usa dólar. Quebrar essa inércia
requer massa crítica — BRICS Pay precisa de 20-30% do comércio global para ser "incontornável".
Vai demorar décadas.
Paradoxo: BRICS Pay é tecnicamente viável (Pix do Brasil prova que sistemas públicos instantâneos funcionam),
mas politicamente complexo. Não é problema de engenharia — é problema de geopolítica.
Sucesso depende de países conseguirem superar desconfianças mútuas e resistir a pressões americanas simultaneamente.
História mostra que alianças Sul-Sul sempre foram sabotadas (Movimento Não-Alinhado nos anos 60-70,
Novo Banco de Desenvolvimento teve impacto limitado). Mas: sanções russas de 2022 mudaram cálculo —
países perceberam que dependência do dólar é risco existencial. Pode ser momento histórico de virada.
20.3 A Batalha pela Variedade: Uma Análise a partir de Stafford Beer
Podemos usar a teoria cibernética de Stafford Beer, que vimos no Capítulo 18, para analisar essa
disputa geopolítica. O sistema unipolar, centrado no dólar e no SWIFT, é um sistema de
baixa variedade, no sentido de Beer. Há poucas opções de moedas e protocolos, o
que confere um poder imenso ao centro da rede (os EUA), que pode monitorar e controlar tudo.
Para o centro, o sistema é eficiente; para a periferia, ele é frágil e autoritário, pois não há
alternativas em caso de conflito.
Nessa ótica, a criação de sistemas como o CIPS e o BRICS Pay pode ser interpretada como uma
tentativa de aumentar a variedade do sistema financeiro global. Um sistema com
múltiplas moedas de reserva e múltiplas redes de pagamento é, por definição, mais complexo e
talvez menos "eficiente" do que um sistema unipolar. No entanto, ele é também muito mais
resiliente. Se um nó ou uma rede falhar ou for usado como arma, outros podem
assumir seu lugar. O poder do nó central é diluído. A luta geopolítica atual é, portanto, uma
batalha pela variedade: os EUA tentando manter a baixa variedade para preservar
seu poder de controle, e o bloco multipolar tentando aumentar a variedade para ganhar autonomia
e soberania.
🔬
Lei de Ashby Aplicada à Geopolítica: Variedade Requisita em Redes Financeiras
A Lei de Variedade Requisita de W. Ross Ashby (1956), fundamental na cibernética de Beer,
afirma: "Apenas variedade absorve variedade". Para controlar um sistema complexo,
o controlador precisa ter variedade (opções, estados possíveis) equivalente ou superior ao sistema controlado.
Aplicação ao sistema financeiro global:
- Sistema unipolar (dólar/SWIFT): Baixa variedade no topo, alta variedade na base.
Centro (EUA) tem 1 protocolo, 1 moeda dominante — baixa variedade própria, mas controla variedade alheia.
Periferia (193 países) tem alta variedade (múltiplas moedas, economias, culturas), mas é forçada a usar 1 protocolo.
Resultado: Centro pode "absorver" variedade da periferia via SWIFT — monitora/bloqueia/sanciona.
Periferia não pode absorver variedade do centro (não tem como retaliar sanções).
- Sistema multipolar (BRICS/CIPS/SPFS): Aumenta variedade no topo. Agora há
múltiplos protocolos (SWIFT, CIPS, SPFS, BRICS Pay), múltiplas moedas de reserva (dólar, yuan, euro, cesta BRICS).
Centro (EUA) perde capacidade de absorver toda variedade — não pode sancionar país que tem alternativa.
Resultado: Periferia ganha autonomia (pode escolher protocolo), mas sistema global fica mais complexo/caótico.
Paradoxo da eficiência vs. resiliência:
- Baixa variedade (sistema unipolar): Máxima eficiência — 1 protocolo, sem atrito,
economias de escala. Mas fragilidade extrema — ponto único de falha. Se SWIFT cai ou é usado como arma,
sistema inteiro colapsa ou se submete.
- Alta variedade (sistema multipolar): Menos eficiente — múltiplos protocolos,
custos de conversão, fragmentação. Mas resiliência máxima — redundância sistêmica.
Se um protocolo falha ou vira arma, outros compensam. Sistema sobrevive a ataques.
Insight de Beer: EUA não defendem sistema unipolar por ser "melhor" tecnicamente —
defendem porque baixa variedade = máximo poder de controle. É uma escolha política
disfarçada de "eficiência técnica". Multipolaridade não é "caos" — é distribuição de poder.
Luta atual é: concentração imperial de variedade (EUA) vs. distribuição democrática de variedade (BRICS).
Beer estaria do lado da variedade distribuída — sistemas viáveis precisam de autonomia local, não controle central.
🎯
VSM (Viable System Model) da Geopolítica: Os 5 Sistemas em Ação
O Modelo de Sistema Viável (VSM) de Beer identifica 5 subsistemas necessários para qualquer organização sobreviver.
Podemos aplicá-lo tanto ao sistema unipolar quanto ao multipolar:
| Sistema VSM |
Sistema Unipolar (Dólar/SWIFT) |
Sistema Multipolar (BRICS) |
S1: Operações
Unidades que executam trabalho |
Bancos nacionais conectados ao SWIFT. Executam transações, mas sem autonomia (dependem do centro). |
Sistemas de pagamento nacionais (Pix, UPI, FPS) com autonomia. Executam transações localmente, conectam-se globalmente quando necessário. |
S2: Coordenação
Anti-oscilação, estabilidade |
SWIFT como protocolo único — previne "oscilação" (países tentando criar alternativas). Estabilidade via homogeneização forçada. |
BRICS Pay como camada de interoperabilidade — permite diversidade, mas coordena conversões. Estabilidade via cooperação voluntária, não imposição. |
S3: Controle
Otimização, auditoria |
Tesouro dos EUA + Reserva Federal. Monitoram TODAS as transações em dólar, aplicam sanções, ajustam taxas de juros globalmente. |
Bancos centrais nacionais. Controle descentralizado — cada país audita seu sistema, cooperação BRICS é horizontal (não hierárquica). |
S4: Inteligência
Adaptação ao ambiente |
FMI, Banco Mundial, think tanks americanos. Monitoram tendências, propõem ajustes. Mas lento — levou 10 anos pra reconhecer que sanções impulsionam desdolarização. |
Novo Banco de Desenvolvimento BRICS, institutos nacionais. Resposta mais rápida — sanções russas 2022 aceleraram BRICS Pay em 5 anos (previsto 2035, agora 2027). |
S5: Política
Identidade, propósito |
Hegemonia americana. Propósito: manter "ordem internacional liberal" (eufemismo para controle geopolítico via finanças). |
Multipolaridade. Propósito: autonomia e não-interferência ("Princípios de Bandung" atualizados). Resistência à unipolaridade. |
Diagnóstico VSM: Sistema unipolar tem S3 hipertrofiado (Controle excessivo pelo centro)
e S1 atrofiado (Operações locais sem autonomia). É "viável" apenas para o centro —
periferia sobrevive apesar do sistema, não por causa dele. Sistema multipolar busca S1 robusto
(autonomia local forte) + S2 cooperativo (coordenação horizontal), reduzindo S3 central.
É VSM distribuído — Beer diria que é mais "viável" para o sistema como um todo, mesmo que menos controlável pelo centro.
20.4 Infraestrutura Física da Soberania: Cabos, Satélites e Data Centers
A batalha geopolítica não acontece apenas no plano abstrato dos protocolos e moedas.
Ela se materializa em infraestrutura física: cabos submarinos que cruzam oceanos,
data centers que processam bilhões de transações, satélites que orbitam o planeta.
Controlar a infraestrutura física é controlar o fluxo de informação — e, portanto, o poder.
🌊
Cabos Submarinos: As Artérias Invisíveis do Império Digital
99% do tráfego de internet entre continentes passa por cabos submarinos
(não satélites, como muitos pensam). São ~530 cabos ativos (2024), totalizando 1,4 milhão de km —
poderiam dar 35 voltas ao redor da Terra.
Concentração de propriedade:
- Google: Proprietário ou co-proprietário de 33 cabos (incluindo o Curie, que liga EUA à Chile,
e o Equiano, África-Europa). Investe US$ 3-5 bilhões/ano em infraestrutura submarina.
- Meta (Facebook): 17 cabos, incluindo 2Africa (mais longo do mundo, 45.000 km, contorna toda a África).
- Amazon: 14 cabos (suporta AWS).
- Microsoft: 12 cabos (suporta Azure).
- Empresas chinesas (HMN Tech, China Telecom): 25 cabos, crescimento 400% desde 2015.
Conectam China à África, América Latina, Sudeste Asiático — Rota da Seda Digital.
- Empresas estatais tradicionais: Cada vez mais marginalizadas.
Até anos 2000, telecom estatais dominavam; hoje, big techs controlam 70% dos novos cabos.
Rotas e geopolítica:
- Concentração transatlântica: 20+ cabos ligam EUA-Europa (Nova York-Londres é a rota mais densa).
Herança colonial — cabos seguem rotas imperiais históricas.
- Sul-Sul subdesenvolvido: África-América Latina tem ZERO cabos diretos.
Tráfego São Paulo-Lagos passa por... Miami ou Lisboa (adiciona 200ms de latência).
Dependência estrutural: Sul Global precisa do Norte como intermediário.
- Pontos de estrangulamento: Estreito de Malaca (12 cabos, 40% do tráfego Ásia-Ocidente),
Canal de Suez (8 cabos), Estreito de Bering (2 cabos). Vulnerabilidade militar:
cortar poucos cabos isola continentes inteiros.
- Espionagem NSA: Edward Snowden revelou (2013) que NSA intercepta cabos em pontos de
aterrissagem (especialmente Reino Unido, via parceria GCHQ). Programa TEMPORA copia literalmente
todo tráfego que passa por cabos britânicos. Não há privacidade estrutural.
Lição geopolítica: Infraestrutura é destino. Países sem cabos próprios, sem rotas Sul-Sul,
sem capacidade de construir/manter infraestrutura submarina não têm soberania digital.
Brasil, por exemplo, tem apenas 1 cabo diretamente operado pelo governo (cabos comerciais são privados/estrangeiros).
BRICS precisa urgentemente construir cabos Sul-Sul: Brasil-África, Índia-África, China-América Latina.
Infraestrutura física é pré-condição para BRICS Pay funcionar — não adianta ter protocolo alternativo se
dados passam por cabos americanos interceptados pela NSA.
🛰️
Starlink e a Militarização do Espaço-Informação
A Starlink de Elon Musk (SpaceX) representa uma nova fronteira na disputa por soberania de rede:
internet via satélites em órbita baixa (LEO), contornando completamente a infraestrutura terrestre.
Números da constelação (2024):
- 5.500 satélites ativos (60% de TODOS os satélites em órbita). Meta: 42.000 até 2027.
- 2,6 milhões de assinantes em 70 países (2024). Cresce 300k/mês.
- Latência ~20-40ms (vs. 600ms de satélites geoestacionários tradicionais) —
competitivo com cabos submarinos para regiões remotas.
- Velocidade 50-200 Mbps — suficiente para uso pessoal/empresarial, mas não para data centers massivos.
Uso militar e geopolítica:
- Ucrânia (2022-2024): Musk doou 20 mil terminais Starlink para forças ucranianas.
Permitiu comunicação militar quando infraestrutura terrestre foi destruída. Mas: Musk tem controle
total — desligou Starlink em áreas controladas por Rússia (alegou querer prevenir "escalada").
Lição: Infraestrutura privada pode ser desligada por capricho de um bilionário.
- Taiwan: Governo taiwanês tentou integrar Starlink na defesa nacional contra possível invasão chinesa.
Musk recusou — teme retaliação chinesa (Tesla vende 25% da produção na China). Geopolítica privatizada.
- Brasil: Starlink é dominante na Amazônia (200k assinantes, única opção em áreas remotas).
Governo Lula tentou regular (obrigar Musk a ter representante legal no Brasil, bloqueio X/Twitter 2023-24 foi teste).
Tensão: como regular infraestrutura crítica controlada por empresa estrangeira?
Alternativas em construção:
- China: Guowang (国网, "Rede Nacional") — plano de 13.000 satélites até 2030.
Resposta direta ao Starlink. Testado em 2023, lançamentos massivos começam 2025.
- Rússia: Sfera (Сфера) — 640 satélites até 2030. Atrasado por sanções (componentes importados bloqueados).
- União Europeia: IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) —
290 satélites, €6 bilhões de investimento, operacional 2027. Objetivo: não depender de Musk.
- Índia: ISRO planeja constelação de 200 satélites para internet rural. Fase piloto 2024-25.
- Brasil: Sem plano soberano. Dependência total de Starlink/Amazon Kuiper (segunda maior constelação, 3.200 satélites até 2027).
Paradoxo: Satélites LEO democratizam acesso (zonas rurais ganham internet banda larga),
mas centralizam controle (pouquíssimas empresas/países podem lançar/operar constelações).
Risco: criar feudalismo digital espacial — Musk/Bezos controlam acesso global,
desligam regiões/países a seu bel-prazer, não há regulação internacional efetiva.
ONU/ITU (União Internacional de Telecomunicações) são lentos demais — enquanto regulam, Starlink já tem 10.000 satélites.
Corrida espacial 2.0: Quem controlar órbita baixa controla internet do futuro.
💾
Data Centers e a Geografia do Processamento
Cabos transportam dados, mas data centers processam e armazenam.
Localização dos data centers define soberania sobre dados — e, portanto, sobre informação financeira,
governamental, pessoal.
Monopólio das nuvens (2024):
- AWS (Amazon): 32% do mercado global de nuvem. 105 "zonas de disponibilidade" em 33 regiões.
Receita: US$ 90 bilhões/ano (2023) — mais que PIB de 100+ países.
- Azure (Microsoft): 23% do mercado. 60+ regiões. Focado em empresas/governos.
- Google Cloud: 11% do mercado. Forte em IA/machine learning.
- Alibaba Cloud (China): 4% global, mas 40% na Ásia. Proibido de operar em EUA/Europa (sanções).
- Total "Big 3" americanos: 66% do mercado. Concentração absurda —
dois terços dos dados processados globalmente passam por empresas americanas.
Problema: jurisdição e espionagem
- CLOUD Act (EUA, 2018): Lei permite governo americano requisitar dados armazenados por
empresas americanas, mesmo que estejam em servidores fora dos EUA. Microsoft tem data center em Dublin?
FBI pode exigir acesso aos dados de clientes europeus. Viola GDPR europeia — tensão jurídica não resolvida.
- Caso Huawei/5G: EUA pressionaram aliados (Austrália, Reino Unido, Canadá) a banir equipamentos
Huawei alegando "risco de espionagem chinesa". Hipocrisia: Snowden provou que Cisco/Juniper (empresas americanas)
têm backdoors da NSA desde anos 90. Disputa não é sobre privacidade — é sobre qual império espiona.
- Brasil: 70% dos dados governamentais/empresariais brasileiros estão em nuvens americanas.
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD, 2020) exige que dados sensíveis fiquem no Brasil, mas não há infraestrutura
pública suficiente. Empresas pagam multas ou usam "data centers locais" da AWS (que são apenas pontos de presença
conectados a infraestrutura americana).
Alternativas em construção:
- Europa — Gaia-X: Projeto de nuvem soberana europeia (2019-presente). Objetivo: criar alternativa a AWS/Azure.
Status: Patinando — empresas europeias (SAP, Deutsche Telekom) não têm escala para competir.
Virou "selo de certificação" ao invés de infraestrutura real.
- China: Não precisa de alternativa — já tem monopólio estatal-privado (Alibaba, Tencent, Huawei).
"Grande Firewall" garante que dados chineses fiquem na China. Problema: réplica do imperialismo americano
com características chinesas — exporta vigilância via Rota da Seda Digital.
- Brasil — Serpro/Data Centers Públicos: Serpro (empresa pública de TI) opera data centers para governo federal.
Mas capacidade limitada (20 petabytes vs. 200+ exabytes da AWS). Não comporta setor privado.
Proposta: Criar "AWS pública" brasileira, interoperável com BRICS (China/Índia/África do Sul).
Requer investimento de R$ 50-100 bilhões em 10 anos — politicamente difícil.
- Índia: MeghRaj (2013) — nuvem governamental indiana. Obriga dados governamentais a ficarem em território indiano.
Funciona, mas não tem escala comercial para competir com AWS.
Conclusão infraestrutural: Soberania digital sem data centers próprios é impossível.
Discutir BRICS Pay, yuan digital, desdolarização é inútil se todos os dados transitam e são processados
em infraestrutura americana. É como planejar revolução usando telefones da CIA.
BRICS precisa urgentemente: 1) Construir data centers públicos regionais (Brasil-LATAM, Índia-Ásia, África do Sul-África),
2) Cabos submarinos Sul-Sul (sem passar por EUA/Europa), 3) Constelações de satélites próprias (alternativa a Starlink).
Custo estimado: US$ 200-500 bilhões em 15 anos. Parece caro? Defesa nacional dos EUA custa US$ 900 bilhões/ano.
Infraestrutura digital é defesa nacional do século XXI.
Conclusão: Rumo a um Planeta de Redes
A análise cibernética da geopolítica nos permite ver além da retórica de "nações" e "blocos".
Estamos testemunhando a transição de um mundo de Estados-nação para um mundo de redes
sobrepostas: a rede do dólar, a rede do yuan, a rede dos BRICS, a rede da União
Europeia. A soberania no século XXI será cada vez menos uma questão de controle territorial e
cada vez mais uma questão de soberania de rede: a capacidade de um país ou
bloco de operar sua própria infraestrutura de informação, finanças e logística, garantindo sua
autonomia em um mundo caótico e interconectado. A guerra fria do século XXI não será (apenas)
sobre mísseis e tanques, mas sobre protocolos, cabos submarinos e sistemas de pagamento.
---
🔑 Mini-Glossário do Capítulo
BRICS Pay: Plataforma de integração de sistemas de pagamento nacionais (Pix, UPI, etc.)
para facilitar comércio em moedas locais entre países BRICS, contornando dólar e SWIFT.
Cabos Submarinos: Infraestrutura física que transporta 99% do tráfego de internet entre continentes.
Controlados majoritariamente por big techs americanas (Google, Meta, Amazon) e empresas chinesas.
CIPS (Cross-Border Interbank Payment System): Sistema chinês de liquidação de pagamentos transfronteiriços em yuan.
Alternativa em construção ao sistema SWIFT/dólar.
CLOUD Act: Lei americana (2018) que permite governo dos EUA requisitar dados armazenados por empresas americanas,
mesmo que fisicamente localizados fora do território americano.
Desdolarização: Processo de redução da dependência do dólar como moeda de reserva, comércio e investimento.
Acelerado pós-sanções russas 2022.
Lei de Ashby (Variedade Requisita): Princípio cibernético: "Apenas variedade absorve variedade".
Sistema de controle precisa ter complexidade equivalente ou superior ao sistema controlado.
Petrodólar: Sistema estabelecido em 1974 (acordo Nixon-Saud) que garante venda de petróleo exclusivamente em dólares,
criando demanda artificial permanente pela moeda americana.
Privilégio Exorbitante: Vantagem estrutural dos EUA por emitirem a moeda de reserva global —
podem imprimir dólares para financiar déficits sem sofrer inflação (exportada ao resto do mundo).
Soberania de Rede: Capacidade de um Estado ou bloco controlar sua própria infraestrutura de informação
(cabos, data centers, sistemas de pagamento), garantindo autonomia geopolítica.
SPFS (System for Transfer of Financial Messages): Sistema russo de mensagens financeiras,
criado após sanções de 2014 como alternativa emergencial ao SWIFT.
Starlink: Constelação de satélites em órbita baixa da SpaceX (Elon Musk) que fornece internet banda larga.
5.500 satélites ativos (2024), meta de 42.000 até 2027. Domina 60% de todos os satélites em órbita.
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication): Rede cooperativa de mensagens financeiras
que conecta 11.000+ bancos em 200+ países. Processa 44,8 milhões de mensagens/dia (2023).
Formalmente neutra, mas usado como arma geopolítica americana.
VSM (Viable System Model): Modelo de Sistema Viável de Stafford Beer. Identifica 5 subsistemas necessários
para qualquer organização/sistema sobreviver: Operações, Coordenação, Controle, Inteligência, Política.
💭 Exercícios de Análise
1. Sanções como Arma de Informação: Analise as sanções financeiras impostas a Rússia (2022), Irã (2012-presente)
e Venezuela (2017-presente). Compare: a) velocidade do colapso econômico inicial, b) capacidade de adaptação (rotas alternativas de pagamento),
c) impacto humanitário (acesso a medicamentos, alimentos). O que determina se um país consegue sobreviver a sanções?
Quais lições os BRICS podem extrair?
2. O Dilema Brasileiro: Brasil faz parte dos BRICS (apoia desdolarização) mas tem forte integração com EUA
(comércio bilateral US$ 80 bi/ano, investimentos americanos US$ 120 bi). Avalie: a) Quais setores brasileiros mais dependem de SWIFT/dólar?
b) Se EUA sancionarem Brasil (cenário hipotético), quanto tempo levaria para reconfigurar para BRICS Pay/CIPS?
c) Brasil deveria investir em infraestrutura redundante (data centers públicos, cabos Sul-Sul) como "seguro geopolítico" mesmo sem ameaça imediata?
3. Variedade vs. Eficiência (Lei de Ashby): Sistema multipolar (múltiplas moedas/protocolos) é menos eficiente que unipolar
(custos de conversão, fragmentação). Mas é mais resiliente. Calcule: a) Custo de transação Brasil-Índia via dólar/SWIFT (spreads cambiais,
taxas SWIFT, tempo de liquidação), b) Custo projetado via BRICS Pay direto (BRL→INR), c) A diferença justifica o investimento em infraestrutura alternativa?
Use modelo de Beer: quando variedade adicional compensa perda de eficiência?
4. Infraestrutura Física: Pesquise quantos cabos submarinos conectam seu país ao mundo. Quantos são controlados por
empresas nacionais vs. estrangeiras? Há cabos diretos Sul-Sul ou tudo passa por EUA/Europa? Se um cabo fosse cortado (acidente ou sabotagem),
qual seria o impacto? Seu país tem plano de contingência?
5. Starlink e Soberania: Elon Musk controla 60% dos satélites em órbita. Pode desligar internet de um país inteiro
(como fez parcialmente na Ucrânia/Crimeia). Isso é compatível com democracia e soberania nacional? Avalie: a) Deve-se regulamentar Starlink
como infraestrutura crítica (obrigar presença local, licenças revogáveis)? b) Governo deve construir alternativa pública
(constelação nacional de satélites)? c) Ou isso é impossível (custo proibitivo, apenas 5-6 países têm capacidade de lançamento)?
6. CBDCs e Vigilância: Moedas Digitais de Banco Central (Drex no Brasil, e-CNY na China, euro digital na UE)
aceleram desdolarização (facilitam pagamentos internacionais) mas podem aumentar vigilância estatal (rastreamento total de transações).
Avalie trade-off: vale trocar privacidade financeira por soberania monetária? Como desenhar CBDC que minimize vigilância
(criptografia de conhecimento zero, transações anônimas para valores pequenos)?
🔗 Conexões com Outros Capítulos
🔄 Fundamentos Teóricos Aplicados
Cap 4 (Teoria da Dependência): Geopolítica
digital é dependência 2.0. Se Cap 4 analisou dependência via
exportação de commodities (café, minério), este capítulo mostra dependência via
infraestrutura digital: cabos submarinos (70% controlados por EUA),
data centers (AWS/Google/Azure dominam), SWIFT (excluir país = colapso
econômico). Desdolarização (BRICS Pay) é tentativa de
"industrialização digital" — criar alternativas para não depender de uma única
rede (EUA).
Cap 18 (Stafford Beer + VSM): Conceito de
variedade requisita (Beer) explica disputa geopolítica. Sistema
unipolar (dólar + SWIFT = nó único) tem baixa variedade — centro
controla tudo, periferia é vulnerável. Sistema multipolar (BRICS Pay + CIPS
chinês + SPFS russo) tem alta variedade — mais resiliente, menos
controlável. EUA quer baixa variedade (manter poder), China/Rússia/Sul Global
quer alta variedade (ganhar autonomia). É batalha pela
variedade de Beer aplicada à geopolítica.
Cap 7 (Pós-Colonialismo/Fanon):
Colonialidade digital é expansão do colonialismo via
infraestrutura. SWIFT não é "neutro" — é ferramenta geopolítica ocidental
(sanções a Irã/Venezuela/Rússia provam). Internet não é "livre" — cabos
submarinos seguem rotas coloniais (conectam ex-metrópoles a ex-colônias, não
Sul-Sul). Crítica fanoniana: tecnologia chega com inscrição imperial.
BRICS tenta descolonizar infraestrutura digital.
🌍 Conexões com Brasil e Sul Global
Cap 21 (Brasil): Este capítulo prepara
análise do Cap 21 sobre inserção subordinada brasileira. Brasil
faz parte dos BRICS (apoia desdolarização), mas economia profundamente integrada
ao dólar/SWIFT. Dilema: abraçar multipolaridade (BRICS Pay) OU
manter alinhamento com EUA? Cap 21 mostrará: Brasil tenta "equilibrar", mas
acaba subordinado a ambos os lados — não tem soberania de rede própria (nem
alternativa chinesa, nem poder americano).
Cap 19 (Cooperativas): Pix
brasileiro (2020) é exemplo de soberania de rede nacional. Antes:
pagamentos digitais monopolizados por Visa/Mastercard (empresas americanas).
Depois: Banco Central cria sistema público, gratuito, instantâneo — maior
sucesso de política pública digital da década. Lição: infraestrutura de
pagamento PODE ser pública/soberana. BRICS Pay tenta replicar Pix em escala
internacional — sistema público de transferências entre países, fora do controle
SWIFT/dólar.
Cap 12 (Ciberfeminismo): Sanções via SWIFT
têm impacto de gênero brutal. Quando EUA excluem
Irã/Venezuela/Afeganistão do SWIFT, quem mais sofre são mulheres:
impossibilidade de transferir remessas, comprar medicamentos, receber salários
de ONGs internacionais. Geopolítica masculinizada ignora que infraestrutura
financeira sustenta economia do cuidado. Análise interseccional necessária.
🔮 Futuros Alternativos
Cap 25 (China): CIPS chinês (seção 20.2
deste capítulo) será analisado em detalhe no Cap 25. China não quer "substituir
EUA como império único" — quer multipolaridade (vários centros
de poder). CIPS + yuan digital + Rota da Seda = infraestrutura alternativa.
Pergunta: China criará império próprio OU facilitará mundo multipolar de fato?
Cap 25 debaterá.
Caps 26-28 (Cosmotécnicas): BRICS Pay
pode ser mais que "desdolarização" — pode ser pluriverso
financeiro. Ao invés de "moeda única global" (dólar OU yuan),
sistema que permita múltiplas moedas coexistirem: real, rúpia, rand, yuan,
rublo. Cosmotécnica financeira: infraestrutura que respeita soberanias
locais, não impõe monocultura. Tecnologia para pluralismo, não universalismo.
⚖️ Políticas e Estratégias
Cap 24 (Políticas): Este capítulo
fundamenta 4 políticas de soberania digital:
- Investir em BRICS Pay: Brasil deve liderar implementação
técnica (já temos Pix, experiência em pagamentos digitais públicos). Não é
"anti-americanismo" — é redundância estratégica (ter alternativas).
- Criar data centers públicos regionais: Sul Global precisa
de infraestrutura própria (AWS/Google/Azure = monopólios americanos).
Cooperação Brasil-África-Índia para data centers públicos, interoperáveis,
auditáveis.
- Regular cabos submarinos: Obrigar empresas de telecom a
diversificar rotas (não concentrar em EUA/Europa). Financiar cabos Sul-Sul
(Brasil-África, Índia-África, LATAM-Ásia).
- Proteger infraestrutura crítica: SWIFT, CIPS, Pix são
infraestrutura crítica — ataques cibernéticos = ato de guerra. Cooperação
BRICS em cibersegurança, compartilhamento de inteligência, defesa mútua.
Argumento central: Soberania digital não é opcional — países sem
infraestrutura própria são colônias digitais. "Nuvem" de AWS/Google não é nuvem
— são servidores físicos em território americano, sujeitos a leis americanas,
espionagem NSA.
🧭 Posicionamento Cibernético
Cap 6 (Cibernética 2ª Ordem): Geopolítica
digital revela duas cibernéticas:
- Cibernética de 1ª ordem (controle): Sistema unipolar
SWIFT/dólar = feedback negativo (homeostase imperial). EUA usa sanções para
reduzir variedade (forçar países desviantes a voltar ao padrão).
Monitoramento total via SWIFT = panóptico financeiro global.
- Cibernética de 2ª ordem (auto-organização): Sistema
multipolar BRICS = feedback positivo (amplificação de variedade). Múltiplas
redes = aumento de possibilidades. Países podem escolher rotas,
moedas, parcerias. Sistema evolui via cooperação descentralizada, não
controle central.
Cap 23 (Dupla Face): Cap 23 sintetizará:
infraestrutura digital pode ser arma imperial (SWIFT como ferramenta de
sanção) OU ferramenta de liberação (BRICS Pay como alternativa
cooperativa). Mesma tecnologia (sistemas de pagamento), usos
opostos. Disputa não é técnica — é política: quem controla os
protocolos, quem define as regras, quem pode excluir quem.
🌐 Mensagem-Chave: Geopolítica do século XXI não é mais sobre
territórios, mas sobre redes. Poder não vem de exércitos (só), mas
de controlar infraestrutura: cabos, data centers, protocolos de pagamento. SWIFT é
arma mais poderosa que bombas — isolar país financeiramente = colapso econômico sem
disparar um tiro. Brasil e Sul Global precisam urgentemente construir
soberania de rede — ter infraestrutura própria, redundante,
interoperável. Dependência digital é dependência permanente.
💡 Contexto Urgente: Sanções russas pós-2022 (exclusão parcial do
SWIFT) aceleraram desdolarização globalmente. China/Rússia/Irã/BRICS intensificaram
comércio em moedas locais. Até 2030, sistema financeiro global pode ser
bipolar (bloco dólar vs. bloco yuan/BRICS) ou multipolar (várias
redes coexistindo). Brasil está na encruzilhada: escolher lado OU construir ponte
entre blocos. Decisão dos próximos anos definirá soberania do século XXI.
📚 Leituras Complementares
Nível Introdutório:
- Greenwald, G. (2014). No Place to Hide: Edward Snowden, the NSA, and the U.S. Surveillance State.
— Relato jornalístico sobre espionagem da NSA em cabos submarinos e infraestrutura de internet.
- Starosielski, N. (2015). The Undersea Network. Duke University Press.
— História e geografia dos cabos submarinos, acessível para leigos. Explica como infraestrutura molda geopolítica.
- Artigo: TeleGeography. "Submarine Cable Map" (telegeography.com/submarine-cable-map)
— Mapa interativo de TODOS os cabos submarinos do mundo. Essencial para visualizar dependências.
Nível Intermediário:
- Farrell, H., & Newman, A. L. (2019). Of Privacy and Power: The Transatlantic Struggle over
Freedom and Security. Princeton University Press.
— Análise acadêmica sobre como infraestrutura de rede virou fonte de poder geopolítico. Foco em tensões EUA-Europa.
- Helleiner, E., & Kirshner, J. (Eds.). (2022). The Geopolitics of the Dollar. Cornell University Press.
— Coletânea sobre privilégio exorbitante, sanções financeiras, e desafios à hegemonia do dólar. Inclui capítulo sobre BRICS.
- Artigos: Financial Times / The Economist — séries sobre desdolarização, BRICS Pay, e infraestrutura digital
(buscar por "dedollarization", "BRICS currency", "SWIFT weaponization").
- Drezner, D. W. (2021). The Uses and Abuses of Weaponized Interdependence. Brookings Institution.
— Paper sobre como EUA transformou interdependência econômica em arma via SWIFT/dólar.
Nível Avançado:
- De Goede, M., & Westermeier, C. (2022). "Infrastructural Geopolitics." International Studies Quarterly, 66(2).
— Artigo acadêmico que fundamenta análise de geopolítica infraestrutural. Usa teoria ANT (Actor-Network Theory).
- Gopinath, G. (2024). Geopolitics and its Impact on Global Trade and the Dollar. IMF Working Paper.
— Economista-chefe do FMI analisa riscos de fragmentação do sistema global. Dados quantitativos sobre desdolarização.
- Ashby, W. R. (1956). An Introduction to Cybernetics. Chapman & Hall. (Capítulos 7 e 11)
— Fonte original da Lei de Variedade Requisita. Difícil, mas essencial para entender fundamentos cibernéticos.
- Beer, S. (1972). Brain of the Firm. Wiley. (Parte II: "VSM")
— Modelo de Sistema Viável aplicado a organizações. Cap 20 deste livro aplica VSM à geopolítica — leia Beer para entender rigor original.
- Eichengreen, B. (2011). Exorbitant Privilege: The Rise and Fall of the Dollar. Oxford University Press.
— História econômica do dólar como moeda de reserva. Análise de crises passadas e projeções futuras.
- Relatório: Atlantic Council. "Dollar Dominance Monitor" (atlanticcouncil.org)
— Dashboard quantitativo sobre uso global do dólar, atualizado trimestralmente. Dados sobre comércio em moedas alternativas.
- China Policy. (2023). CIPS: China's Alternative to SWIFT. Center for Strategic and International Studies (CSIS).
— Análise técnica e geopolítica do sistema CIPS. Dados de conectividade, volume, participantes.
Recursos Online e Documentários:
- Citizenfour (2014, dir. Laura Poitras) — Documentário sobre Edward Snowden e revelações da NSA.
Ganhou Oscar. Mostra espionagem em tempo real.
- The Great Hack (2019, Netflix) — Sobre Cambridge Analytica, mas contexto útil sobre manipulação via dados/infraestrutura.
- Podcast: War on the Rocks (episódios sobre "cyber geopolitics" e "undersea cables")
— Análises de especialistas em defesa sobre vulnerabilidades de cabos submarinos.
- Website: BRICS Information Centre (University of Toronto) — Documentos oficiais de cúpulas BRICS,
incluindo declarações sobre BRICS Pay e desdolarização.
---

Capítulo 21
Capítulo 21: A Inserção Subordinada do Brasil na Globalização Digital
Introdução: O Mito do Empreendedorismo Digital
A narrativa dominante no Brasil apresenta a economia digital como uma grande oportunidade, um
caminho para o "salto" tecnológico que nos tiraria da condição de subdesenvolvimento. A
ideologia do "empreendedorismo de palco", dos unicórnios e das startups, vendida em conferências
e na mídia de negócios, promete um futuro de inovação e prosperidade. No entanto, este capítulo
argumentará que esta é uma perigosa ilusão. Utilizando as ferramentas da Teoria da Dependência,
que vimos no Capítulo 4, mostraremos que a transformação digital, nos moldes em que está
ocorrendo, está, na verdade, aprofundando a condição histórica de dependência e
subdesenvolvimento do Brasil. A lógica do Vale do Silício, aplicada a uma nação periférica, não
cria um novo Vale do Silício, mas sim uma nova e mais sofisticada forma de plantation.
21.1 O Novo Extrativismo: O Brasil como Fazenda de Dados
A primeira dimensão da nossa inserção subordinada é o extrativismo de dados.
Assim como o Brasil foi, historicamente, um exportador de matérias-primas como o pau-brasil, o
açúcar e o café, hoje nos tornamos um dos maiores produtores e exportadores de uma nova
commodity: dados brutos. Cada clique, cada busca, cada interação social dos mais de 180 milhões
de brasileiros conectados à internet gera um volume colossal de dados. Esta é a nossa nova
riqueza natural, a "soja digital".
No entanto, quem colhe e processa essa riqueza não somos nós. A infraestrutura de coleta e
armazenamento de dados é quase inteiramente controlada por plataformas estrangeiras: Google,
Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), TikTok, Amazon, Microsoft. Os dados dos brasileiros são
extraídos e enviados para data centers localizados nos países centrais, principalmente nos
Estados Unidos. É lá que o verdadeiro valor é gerado. O processamento desses dados brutos com
algoritmos de Inteligência Artificial — o nosso "trator digital" — é um monopólio das Big Techs.
Elas usam nossos dados para treinar seus modelos de IA, desenvolver novos produtos e serviços, e
vender publicidade direcionada, gerando lucros astronômicos que são remetidos para suas
matrizes.
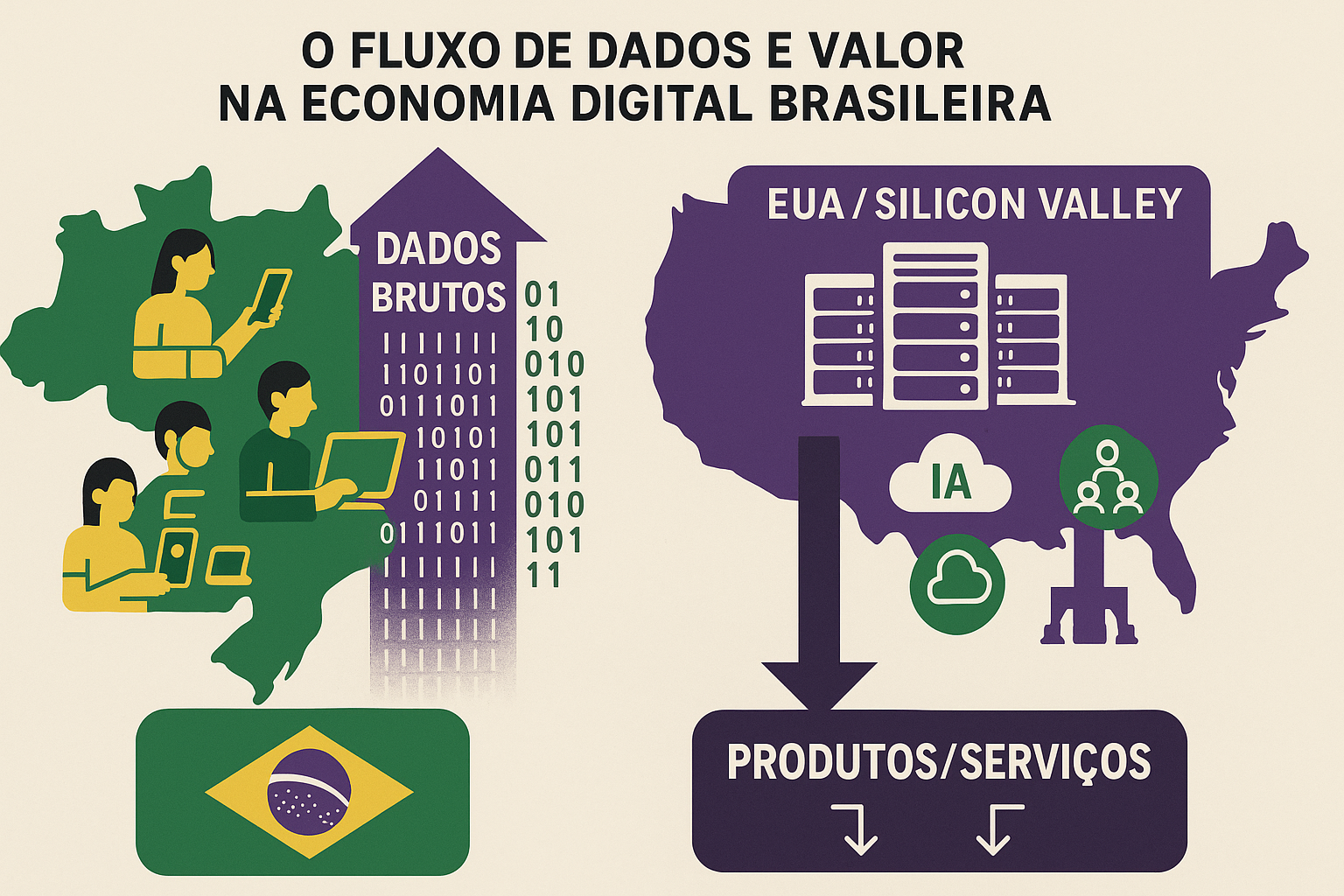
O Fluxo de
Dados e Valor na Economia Digital Brasileira
Esta dinâmica é a essência do colonialismo digital. Nós fornecemos a
matéria-prima (dados) a custo zero, e depois importamos os produtos manufaturados (software,
serviços de nuvem, plataformas de IA) a um custo altíssimo. O resultado é a perpetuação da nossa
dependência tecnológica e um déficit comercial crônico na balança de serviços de tecnologia. O
Brasil se especializa em ser um mero consumidor de tecnologia, enquanto o centro do sistema se
especializa em ser o produtor. A riqueza informacional do país é drenada, aprofundando o nosso
subdesenvolvimento.
21.2 A Nova Maquila: O Brasil como Fábrica de Cliques
Se o extrativismo de dados é um lado da moeda da dependência digital, o outro é a precarização do
trabalho. O Brasil se tornou uma vasta "fábrica de cliques", uma versão digital das maquiladoras
mexicanas, onde uma massa de trabalhadores executa tarefas simples e mal remuneradas para as
plataformas globais. Este fenômeno pode ser analisado com precisão através do conceito de
superexploração do trabalho de Ruy Mauro Marini.
A superexploração ocorre quando o capital, para compensar sua posição desfavorável na troca
desigual com os países centrais, aumenta a intensidade da exploração da força de trabalho local
para além do que seria considerado "normal" no centro. É exatamente o que vemos no trabalho de
entregadores, motoristas de aplicativo e outros "trabalhadores de nuvem". Sujeitos a jornadas de
trabalho exaustivas, remuneração baixa e instável, e sem acesso a direitos básicos como férias,
descanso remunerado ou seguridade social, esses trabalhadores vivem em um estado de precariedade
permanente. O gerenciamento algorítmico intensifica essa exploração, usando a tecnologia não
para aliviar o trabalho, mas para controlá-lo e intensificá-lo ao máximo.
| Plataforma |
Remuneração Justa |
Condições Justas |
Contratos Justos |
Gestão Justa |
Representação Justa |
Score Total (0-10) |
| iFood |
1/2 |
0/2 |
0/2 |
1/2 |
0/2 |
2/10 |
| Uber |
0/2 |
0/2 |
0/2 |
1/2 |
0/2 |
1/10 |
| 99 |
1/2 |
0/2 |
0/2 |
1/2 |
0/2 |
2/10 |
Fonte: Fairwork Foundation
(2021)
Relatórios da Fairwork Foundation, uma organização que avalia as condições de
trabalho nas plataformas digitais, consistentemente dão notas baixíssimas para as empresas que
operam no Brasil. A luta pelo reconhecimento do vínculo empregatício é feroz, mas as plataformas
usam seu imenso poder de lobby para se manterem em um limbo jurídico, tratando seus
trabalhadores como "empreendedores" autônomos e se isentando de qualquer responsabilidade
social.
⭐
O que é a Fairwork Foundation?
A Fairwork
Foundation é uma organização de pesquisa sediada na Universidade de Oxford
que avalia e classifica plataformas de trabalho digital (como Uber, iFood, Rappi) com
base em cinco princípios de trabalho justo: (1) Remuneração justa — os
trabalhadores ganham pelo menos o salário mínimo local após custos? (2)
Condições justas — há proteção contra riscos e seguro? (3)
Contratos justos — os termos são claros e não há cláusulas abusivas?
(4) Gestão justa — há transparência nas decisões algorítmicas e
processo de recurso contra desativações? (5) Representação justa — os
trabalhadores têm voz coletiva e a plataforma reconhece sindicatos? A Fairwork publica
relatórios anuais classificando plataformas em diferentes países com uma pontuação de 0
a 10. Os resultados são devastadores: a maioria das plataformas pontua entre 0 e 3. No
Brasil, por exemplo, nenhuma plataforma de entrega alcançou mais de 4 pontos em 2022. A
Fairwork não tem poder regulatório, mas seus relatórios são usados por sindicatos,
legisladores e pela mídia para pressionar plataformas a melhorar. É uma tentativa de
criar accountability em um setor que opera em uma zona cinzenta
regulatória.
21.3 A Ilusão da Soberania: A Dependência Tecnológica e Política
A dependência econômica e social inevitavelmente se traduz em dependência política e cultural. A
soberania do Brasil na era digital é, em grande medida, uma ilusão.
- Dependência de Infraestrutura: A infraestrutura física da internet no Brasil é
quase inteiramente dependente de tecnologia estrangeira. Os cabos submarinos que nos conectam ao
mundo, os data centers que armazenam nossos dados (mesmo que localmente, são operados pela
Amazon, Microsoft e Google), e o hardware de rede 5G (Huawei, Ericsson) são todos controlados
por empresas de fora. Qualquer decisão política que desagrade os países centrais ou a China pode
resultar em uma pressão sobre essa infraestrutura crítica.
- A Agenda Neoliberal Digital: O lobby das Big Techs é uma força poderosa em
Brasília. Ele atua para influenciar a legislação brasileira, como nas discussões sobre a Lei
Geral de Proteção de Dados (LGPD) ou o "PL das Fake News", buscando sempre garantir um ambiente
de baixa regulação, impostos mínimos e extração máxima de valor. A agenda das plataformas se
torna a agenda digital do país.
- Soberania de Rede Limitada: Como vimos no capítulo anterior, a soberania no
século XXI é soberania de rede. Embora o Brasil tenha tido sucesso com iniciativas como o Pix e
esteja desenvolvendo o Drex, nossa soberania é limitada. Estamos construindo "estradas vicinais"
digitais, enquanto as "rodovias" principais da economia digital global — os sistemas
operacionais, as lojas de aplicativos, os serviços de nuvem, os modelos de IA — continuam sob
controle estrangeiro.
Conclusão: Rompendo com o Destino
A inserção subordinada do Brasil na globalização digital não é um destino inevitável, mas o
resultado de décadas de escolhas políticas e da ausência de um projeto nacional de
desenvolvimento. Romper com esse ciclo vicioso exige uma ação consciente e coordenada em
múltiplas frentes. É preciso uma política industrial que fomente o
desenvolvimento de tecnologia local, com investimento pesado em pesquisa, na criação de
plataformas públicas e no apoio a cooperativas de plataforma. É preciso uma
regulação que proteja os trabalhadores, que garanta a soberania sobre os dados
dos cidadãos e que taxe adequadamente as gigantes da tecnologia. E, acima de tudo, é preciso
investimento em educação para que o Brasil possa formar os talentos necessários
para se tornar um produtor, e não apenas um consumidor, na nova economia digital. O desafio é
imenso, mas a alternativa é aprofundar ainda mais a nossa condição de periferia digital.
---
🔑 Mini-Glossário do Capítulo
- Colonialismo Digital: A dinâmica pela qual os países centrais extraem dados
brutos dos países periféricos para alimentar suas indústrias de alta tecnologia, reforçando a
dependência.
- Extrativismo de Dados: A prática de coletar grandes volumes de dados de
usuários, muitas vezes sem seu consentimento informado, para fins comerciais.
- Fairwork Foundation: Uma organização internacional que avalia e classifica as
condições de trabalho em plataformas digitais em todo o mundo.
- Maquiladora Digital: Uma analogia às fábricas mexicanas (maquiladoras), usada
para descrever a força de trabalho digital precarizada que realiza tarefas simples e repetitivas
para plataformas globais.
- Superexploração do Trabalho: Um conceito da Teoria da Dependência que descreve
a intensificação da exploração da força de trabalho na periferia para compensar as perdas na
troca desigual com o centro.
💭 Exercícios de Análise
1. O Seu Rastro de Dados: Use as ferramentas de download de dados do Google
("Google Takeout") ou do Facebook para explorar a quantidade de informações que essas
plataformas têm sobre você. Você se surpreendeu com o que encontrou? Onde você acha que esses
dados estão armazenados e para que são usados?
2. A Vida de um Entregador: Assista a documentários ou leia reportagens sobre a
vida dos entregadores de aplicativo no Brasil (ex: o documentário "GIG - A Uberização do
Trabalho"). Como a realidade deles se compara com o conceito de superexploração do trabalho?
3. Um Projeto Nacional: Se você fosse o responsável por criar um projeto
nacional de desenvolvimento digital para o Brasil, quais seriam as suas três principais
prioridades? Em que áreas o país deveria investir para reduzir sua dependência tecnológica?
🔗 Conexões com Outros Capítulos
🔄 Teoria da Dependência no Século XXI
Cap 4 (Teoria da Dependência): Este
capítulo É Cap 4 atualizado. Dependência via dados substitui
dependência via commodities. Brasil = fazenda de dados (novo pau-brasil).
Google/Meta extraem, processam no Norte, lucro vai para Silicon Valley.
Superexploração digital: entregadores iFood ganham R$
1.200/mês, trabalham 12h/dia, pagam custos — Marini previu isso em 1973.
Cap 7 (Pós-Colonialismo): Colonialismo
digital não é metáfora. Google/Meta = empresas coloniais: extraem riqueza, não
pagam impostos, lobby contra regulação, remitem lucros. Diferença: navios →
cabos submarinos. Mas lógica = mesma.
Cap 20 (Geopolítica): Cap 20 analisou
disputa EUA vs. China/BRICS globalmente. Este capítulo mostra dilema
brasileiro: fazer parte de BRICS (desdolarização) mas economia
integrada ao dólar. Tentar equilibrar = subordinação dupla.
🇧🇷 Pix: Único Caso de Sucesso
Cap 19 (Cooperativas) + Cap 20
(BRICS Pay): Pix (2020) = maior vitória de
soberania digital brasileira. Banco Central criou sistema público, quebrou
monopólio Visa/Mastercard. 140M usuários, R$ 21 tri/ano, gratuito. Prova que
dá para fazer. Mas é exceção — resto é dependência total (nuvem AWS
90%, apps americanos, IA estrangeira). Pix inspira BRICS Pay — Brasil pode
liderar implementação.
⚖️ 7 Políticas para Romper Dependência
Cap 24 (Políticas):
- Data centers públicos (proibir órgãos públicos em
AWS/Google)
- BNDES financiar startups nacionais (não VC americano)
- Taxar Big Techs 15% sobre faturamento
- CLT para plataformas (fim PJ, salário mínimo/hora)
- Educação tecnológica massiva (programação desde
fundamental)
- Cooperativas digitais (fundo público + compras públicas)
- BRICS Pay (Brasil liderar, código Pix livre)
Custo: R$ 100-150 bi em 10 anos. Brasil pagou R$ 1,4
tri de juros em 2023. É prioridade política.
🇧🇷 Mensagem-Chave: Brasil não precisa "alcançar" Silicon Valley —
precisa modelo próprio. Pix provou capacidade. Mas 1 vitória em 100
batalhas não basta. Dependência digital = colônia permanente. Romper exige
projeto nacional, não startups vendendo-se para Google. Estado precisa
liderar.
📚 Leituras Complementares
- Nível Intermediário:
- Abílio, L. (2020). Uberização: A nova onda de precarização do trabalho. (Um livro
curto e acessível sobre o impacto das plataformas no trabalho no Brasil).
- Couldry, N., & Mejias, U. A. (2019). The Costs of Connection: How Data is Colonizing Human
Life and Appropriating It for Capitalism. (O livro que popularizou o conceito de
"colonialismo de dados").
- Nível Avançado:
- Souza, J., Avelino, R., & Silveira, S. A. da. (2023). Artificial intelligence: dependency,
coloniality and technological subordination in Brazil. In: Handbook of Research on
Regulating AI and Big Data in the Global South. (O artigo acadêmico que serve de base
para a análise deste capítulo).
- Fairwork Foundation. (2024). Fairwork Brazil Ratings. (Consulte o relatório mais
recente da Fairwork para ver os dados atualizados sobre as condições de trabalho nas plataformas
no Brasil).
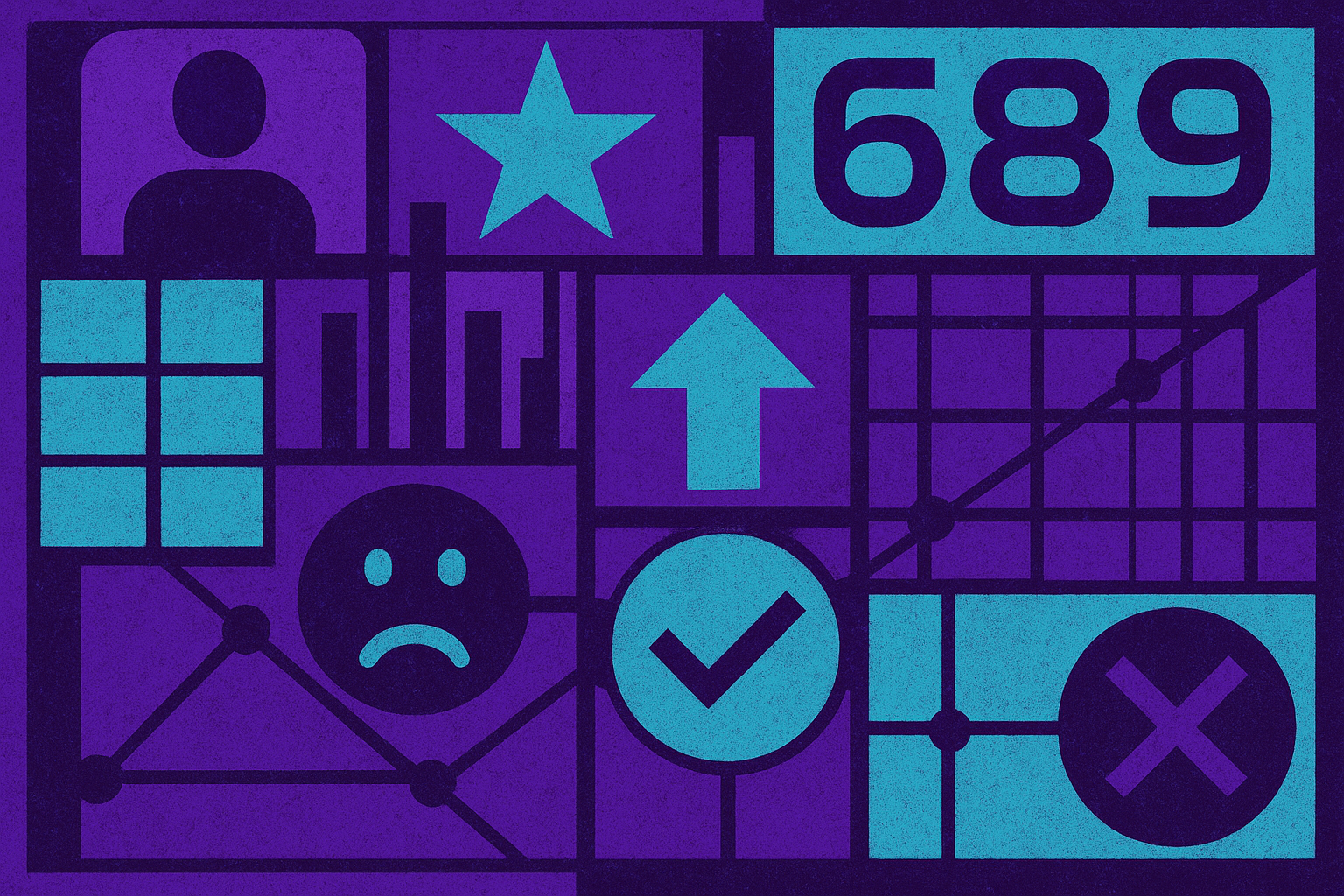
Capítulo 22
Capítulo 22: Necropolítica Digital e o Fascismo de Tela
⚠️ Aviso de Conteúdo:
Violência e Morte
Este capítulo trata de
necropolítica (poder sobre a morte), fascismo digital,
discurso de ódio, desinformação genocida e violência política online. O conteúdo é pesado
por natureza.
Por que este capítulo é
difícil emocionalmente?
- Analisa como algoritmos matam (literal e simbolicamente)
- Documenta estratégias de desumanização e genocídio digital
- Conecta com trauma coletivo brasileiro (pandemia, golpismo, violência racial)
- Tom mais sombrio que capítulos anteriores — não há otimismo fácil aqui
Estratégias de
autocuidado
Faça pausas. Este
capítulo é emocionalmente exaustivo. Se sentir necessidade, pare, respire, volte depois.
Não leia antes de
dormir. O conteúdo pode ser perturbador.
Converse com alguém se o
conteúdo ativar memórias traumáticas.
Por que não
podemos pular este capítulo?
Porque compreender a
necropolítica é urgente para derrotá-la. Fascismo de tela não é metáfora —
é realidade que mata pessoas no Brasil e no mundo. Ignorar não o faz desaparecer. Este
capítulo te dá ferramentas para nomear, analisar e resistir à máquina
de morte digital. A luz só vem depois de atravessar a escuridão.
Introdução: A Sombra Digital
Se o capítulo anterior diagnosticou a inserção subordinada do Brasil na economia digital, este
capítulo investigará sua consequência política mais sombria: a ascensão de um novo tipo de
fascismo, um fascismo de tela. A tese central é que as plataformas digitais,
com sua lógica de engajamento a qualquer custo e sua arquitetura de vigilância e controle, não
são um palco neutro onde a extrema-direita simplesmente atua. Elas são a infraestrutura
ideal para a disseminação do discurso de ódio, para a organização de milícias
digitais e para a implementação de uma nova forma de governança da morte. Para entender este
fenômeno, utilizaremos o conceito de necropolítica do filósofo camaronês
Achille Mbembe. A necropolítica é, em suma, o poder de decidir quem pode viver e quem deve
morrer. Mostraremos como as plataformas se tornaram a principal ferramenta para o exercício
desse poder no século XXI.
22.1 A Arquitetura da Desumanização: Necropolítica Digital
A necropolítica opera através da desumanização de populações-alvo, transformando-as em inimigos a
serem eliminados. As plataformas digitais automatizam e industrializam esse processo. O que
chamamos de necropolítica digital é a aplicação de tecnologias de rede para
gerenciar a morte, seja ela física ou simbólica.
- O Algoritmo da Morte: O modelo de negócios das redes sociais é baseado em
maximizar o "engajamento". E o conteúdo que mais gera engajamento (curtidas, comentários,
compartilhamentos) é, invariavelmente, o mais chocante, controverso e emocional. Os algoritmos
de recomendação, ao otimizarem para essa métrica, inevitavelmente criam um funil que leva os
usuários a conteúdos cada vez mais extremistas. O discurso de ódio, a desinformação e a
desumanização não são "falhas" do sistema, mas características emergentes de sua própria lógica
econômica. O algoritmo, em sua busca incessante por engajamento, se torna um promotor da morte.
- A Gestão da Morte Simbólica: A necropolítica digital não se manifesta apenas
na incitação à violência física. Ela opera cotidianamente através da morte
simbólica. O cyberbullying, o assédio em massa (conhecido como dogpiling),
o doxxing (a divulgação de informações privadas de um indivíduo) e as campanhas de
cancelamento orquestradas são ferramentas para destruir a reputação, a saúde mental, a carreira
e a vida pública de pessoas que são marcadas como inimigas. É uma forma de assassinato social,
executado em escala por exércitos de anônimos.
- O Caso Brasileiro: A pandemia de COVID-19 no Brasil foi talvez o exemplo mais
claro de necropolítica digital em ação. Enquanto o governo federal minimizava a doença, as redes
sociais e os aplicativos de mensagens foram inundados com desinformação, curas falsas e ataques
à ciência e à imprensa. A decisão de "deixar morrer" para não parar a economia foi justificada e
celebrada em um ecossistema digital que transformou a morte em um espetáculo e a empatia em um
sinal de fraqueza. As plataformas não foram apenas o palco, mas a arma do crime.
Diagrama
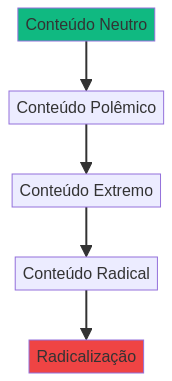
O Funil da Radicalização Algorítmica
22.2 O Fascismo de Tela: Estética e Prática da Extrema-Direita em Rede
O fascismo do século XXI não se parece com o dos anos 30. Ele não marcha uniformizado nas ruas,
mas se espalha através de memes em grupos de WhatsApp. O que chamamos de fascismo de
tela é um movimento que é nativo digital, cuja estética e prática são moldadas pela
lógica das plataformas.
- Memes como Arma: A estética do fascismo de tela é baseada na ironia, no humor
e na transgressão. Os memes são a sua principal arma. Eles permitem que ideias de
extrema-direita sejam introduzidas de forma disfarçada, como uma "piada". Quem critica é acusado
de "não ter senso de humor". Essa ambiguidade permite normalizar o discurso de ódio e recrutar
jovens que são atraídos pela estética da rebeldia e da provocação.
- A Economia da Desinformação: O fascismo de tela é um negócio lucrativo. As
milícias digitais, como o chamado "gabinete do ódio" no Brasil, são redes
profissionalizadas de perfis falsos, bots e influenciadores pagos para criar e disseminar fake
news em escala industrial. Eles exploram a lógica do algoritmo para viralizar mentiras, destruir
reputações e manipular a opinião pública, muitas vezes recebendo dinheiro público ou privado
para isso.
- A Gamificação da Violência: A lógica dos videogames é aplicada à política. A
violência (verbal ou física) é incentivada, e os perpetradores são recompensados com status e
reconhecimento dentro da comunidade online. Atacar um "inimigo" em uma rede social se torna uma
missão a ser cumprida, que gera pontos (curtidas, seguidores) e a admiração dos pares. A
política se torna um jogo de "nós contra eles", onde o objetivo é "mitar" e "lacrar", não
debater.
⚠️
O "Gabinete do Ódio"
O termo "Gabinete do
Ódio" foi popularizado no Brasil para descrever um grupo de assessores e operadores
digitais ligados ao governo Bolsonaro (2019-2022) que coordenavam campanhas de
desinformação, ataques a adversários políticos e disseminação de pânico moral através
das redes sociais, especialmente WhatsApp e Telegram. Operando a partir do Palácio do
Planalto, esse núcleo utilizava perfis falsos, bots e grupos de WhatsApp para amplificar
narrativas favoráveis ao governo e deslegitimar jornalistas, cientistas e instituições
democráticas. O "Gabinete do Ódio" exemplifica a convergência entre fundamentalismo
religioso, extrema-direita e plataformas digitais: grupos evangélicos conservadores
foram mobilizados através de mensagens que misturavam religião, anticomunismo e teorias
conspiratórias. A "guerra cultural" travada nessas redes não era apenas ideológica, mas
uma estratégia deliberada de poder, usando a infraestrutura das plataformas para criar
uma realidade paralela onde fatos e instituições perdiam legitimidade. Investigações do
Supremo Tribunal Federal e da CPI da Covid revelaram a extensão dessas operações, que
incluíam financiamento empresarial e coordenação com milícias digitais internacionais.
22.3 Bolhas, Paranoia e a Crise da Realidade
O impacto mais profundo do fascismo de tela é a sua capacidade de destruir qualquer base comum de
realidade, criando um ambiente propício para a paranoia e a violência.
- A Construção de Realidades Paralelas: A combinação das bolhas de
filtro algorítmicas (que nos mostram apenas o que queremos ver) com a desinformação
em massa cria ecossistemas de informação completamente fechados. Os seguidores da
extrema-direita passam a viver em uma realidade paralela, com seus próprios fatos, suas próprias
fontes "confiáveis" (influenciadores e sites de fake news) e uma desconfiança radical em relação
a qualquer informação que venha de fora (a "mídia tradicional", a "ciência").
- A Paranoia como Estratégia: O discurso fascista se alimenta da paranoia. Ele
constrói uma narrativa onde um pequeno grupo de heróis está lutando contra um inimigo
onipresente e conspirador (o "marxismo cultural", o "globalismo", a "ideologia de gênero").
Qualquer evidência que contradiga a narrativa é instantaneamente descartada como prova da
conspiração. A paranoia torna o diálogo impossível.
- O Colapso do Espaço Público: O resultado final é a destruição do espaço
público como um lugar de debate entre diferentes visões de mundo. Se não há acordo sobre os
fatos mais básicos, não há como debater soluções para os problemas do país. A política deixa de
ser um processo de negociação e se torna uma guerra de extermínio contra o inimigo. A violência
se torna a única saída.
Conclusão: A Luta pela Infraestrutura
A luta contra o fascismo de tela não pode ser vencida apenas com "checagem de fatos" ou com
apelos à "educação midiática". Embora importantes, essas são medidas insuficientes. O fascismo
de tela é um problema infraestrutural. Ele emerge da própria arquitetura das
plataformas, que é projetada para maximizar o lucro através do engajamento, mesmo que isso
signifique destruir o tecido social.
Portanto, a luta pela democracia no século XXI deve ser, necessariamente, uma luta pela
infraestrutura digital. Isso significa regular as plataformas, quebrar seus
monopólios, exigir transparência de seus algoritmos e, fundamentalmente, criar e financiar
alternativas: redes sociais públicas, plataformas cooperativas e protocolos de comunicação
descentralizados que não sejam baseados na lógica extrativista do capitalismo de vigilância. A
luta por uma internet democrática é a linha de frente da luta antifascista hoje.
Mas a análise da necropolítica digital não pode ser a última palavra. Se entendemos os
mecanismos do controle cibernético, também podemos vislumbrar os caminhos da libertação. A mesma
tecnologia que hoje serve à dominação contém em si as sementes de sua superação. É hora de virar
a moeda e examinar sua outra face — a face da resistência, das alternativas concretas, e da
síntese que nos permite pensar um futuro radicalmente diferente.
---
🔑 Mini-Glossário do Capítulo
- Bolha de Filtro: Um estado de isolamento intelectual que pode resultar de
buscas personalizadas quando um algoritmo seleciona seletivamente as informações que um usuário
gostaria de ver.
- Doxxing: A prática de pesquisar e divulgar publicamente informações privadas
ou de identificação sobre um indivíduo ou organização.
- Fascismo de Tela: Um termo para descrever a estética e a prática do fascismo
na era digital, caracterizado pelo uso de memes, ironia, desinformação em massa e gamificação da
violência.
- Milícias Digitais: Redes organizadas de pessoas e bots que atuam de forma
coordenada para manipular a opinião pública, disseminar desinformação e atacar oponentes
políticos online.
- Necropolítica: Um conceito de Achille Mbembe que descreve o uso do poder
social e político para ditar como algumas pessoas podem viver e como algumas devem morrer.
💭 Exercícios de Análise
1. O Funil da Radicalização: Assista a vídeos ou leia relatos de pessoas que
saíram de movimentos de extrema-direita. Como elas descrevem seu processo de radicalização
online? Quais foram os passos que as levaram de um consumo casual de conteúdo a uma adesão total
à ideologia?
2. A Estética do Ódio: Procure por exemplos de memes ou de linguagem codificada
usados pela extrema-direita. Por que você acha que essa estética é tão eficaz para atrair
seguidores e normalizar o discurso de ódio?
3. Regulação em Debate: Pesquise sobre as propostas de regulação das plataformas
digitais que estão sendo discutidas no Brasil e no mundo (como o "PL das Fake News" no Brasil ou
o "Digital Services Act" na Europa). Quais são os principais pontos de debate? Quais são os
argumentos das empresas e dos defensores da regulação?
📚 Leituras Complementares
- Nível Intermediário:
- Mbembe, A. (2018). Necropolítica. (O livro fundamental que introduz o conceito).
- Cesarino, L. (2022). O Mundo do Avesso: Verdade e Política na Era Digital. (Uma
análise brilhante sobre o bolsonarismo e a crise da verdade na era digital).
- Nível Avançado:
- Nagle, A. (2017). Kill All Normies: Online Culture Wars from 4chan and Tumblr to Trump and
the Alt-Right. (Um livro essencial para entender a estética e a cultura da
extrema-direita online).
- Ganesh, B. (2020). Weaponizing uncertainty: The new politics of disinformation. Journal of
International Affairs. (Um artigo acadêmico que analisa a desinformação não como falta
de informação, mas como uma estratégia para gerar desconfiança e paralisia).
🔗 Conexões com Outros Capítulos
📊 Necropolítica como Culminação da Cibernética de Controle
Conceito de Mbembe aplicado ao digital: Se Cap 3 mostrou
gerenciamento algorítmico sobre o trabalho, este capítulo mostra gestão
algorítmica sobre a vida e a morte. Necropolítica = decidir quem
vive, quem morre, quem é visível, quem é descartável.
Do shadowban ao genocídio: Cap 13 explicou
shadowbanning discriminatório contra corpos LGBTQIA+/negros. Aqui, vemos escalada:
não apenas censura seletiva, mas amplificação coordenada de discurso
genocida (ex: Rohingya em Myanmar via Facebook, linchamentos no
WhatsApp Brasil).
Engenharia do ódio: Cap 14 mostrou
engenharia de vício para lucro. Aqui, mesma lógica aplicada para gerar
engajamento via ódio — algoritmos que descobriram que
desinformação, pânico moral e teoria da conspiração geram 6x mais cliques que
conteúdo factual.
🇧🇷 Caso Brasil: Gabinete do Ódio e Pandemia Digital
Da dependência à necropolítica: Cap 21 mostrou inserção
subordinada do Brasil. Consequência: Brasil não controla infraestrutura (WhatsApp,
Facebook, YouTube) usada para coordenar genocídio durante pandemia
— mais de 710 mil mortos (714.078 segundo Conass, nov/2024) com campanha de
desinformação sistemática.
Gabinete do Ódio como máquina necro-digital: Estrutura estatal
dedicada a produzir fake news, atacar adversários, disseminar pânico moral. Usou
bots, deep fakes, coordenação entre Telegram/WhatsApp. 700 milhões de
postagens monitoradas por TSE em 2022 — maior operação de desinformação
da história brasileira.
Fascismo de tela brasileira: Bolsonarismo não é populismo
tradicional — é fascismo nativo digital. Nasceu no Telegram, vive
no WhatsApp, organiza no Instagram. Não tem partido tradicional, tem
algoritmo. Revisionismo conectado a Cap 13 (guerra cultural
digital) e Cap
12 (plataformização da política).
🎯 A Face de CONTROLE da Cibernética Exposta
Aqui a tese de Cap 23 fica
visceral: Necropolítica digital é a forma mais brutal da
cibernética de controle — não controla apenas trabalho (Cap 3),
desejo (Cap
13), vício (Cap 14), mas a
própria condição de humanidade.
Controle total = decisão sobre morte: Algoritmos que decidem quem
recebe fake news sobre vacina = controle sobre quem morre. Shadowban que torna
invisível ativista negro = controle sobre quem existe. Amplificação de discurso
genocida = controle sobre quem merece viver.
Conexão com Cap
10 (Sujeito
Automático): Fascismo digital não precisa de fascista individual — é
emergência sistêmica. O Valor se valorizando encontrou que ódio
gera engajamento, engajamento gera lucro, logo sistema autonomamente produz
fascismo como subproduto da acumulação.
💡 Como Resistir à Necropolítica Digital (conexão com partes seguintes)
4 estratégias conectadas a capítulos posteriores:
- Regulação dura: Cap 24 apresenta
políticas — proibir amplificação algorítmica de ódio, responsabilizar
plataformas, auditorias independentes de algoritmos.
- Mídia pública digital: Construir alternativa não-mercantil a
WhatsApp/Telegram. Brasil precisa de infraestrutura comunicacional
pública assim como tem SUS.
- Educação midiática massiva: Não como "fact-checking" liberal,
mas como pedagogia da suspeita — ensinar que algoritmos têm
viés, plataformas lucram com caos, desinformação é estratégia política.
- Cooperativas digitais (Cap
19): Redes sociais cooperativas onde usuários controlam
algoritmo — modelo Mastodon/Fediverse. Sem lucro via engajamento = sem incentivo
para amplificar ódio.
💀 Necropolítica digital não é metáfora: Algoritmos matam. Mais de 710
mil
brasileiros mortos com desinformação anti-vacina. Genocídio Rohingya coordenado via
Facebook. Linchamentos via WhatsApp. Fascismo de tela é fascismo real.
A face de controle da cibernética atinge seu ápice quando decide quem vive e quem morre.
Compreender isso é urgente para derrotá-lo.
Parte VI: Resistência, Alternativas e Síntese
📍 Você está aqui
Partes
I-V ✓
→
Parte
VI
→
Parte VII
→
Parte VIII
Progresso: ~75% do livro |
Tempo estimado: 2-3 horas para Parte VI
🎯 O que você vai
aprender nesta Parte
- Cap 23: SÍNTESE FINAL - A Dupla Face da Cibernética (controle vs
libertação)
- Cap 24: Políticas concretas para Antropoceno Digital (EXPANDIDO!)
- Cap 25: Análise crítica do modelo chinês (cibernética autoritária?)
🎉 Você chegou na virada!
Até agora: diagnóstico crítico. A partir
daqui: PROPOSTAS CONCRETAS de como construir alternativas emancipatórias. O
tom muda de "o que está errado" para "o que podemos fazer".

Capítulo 23
Capítulo 23: A Dupla Face da Cibernética: Controle e Libertação
🔄 Chegamos à Virada: Da Crítica às Propostas
Momento crucial: Completamos 22
capítulos de análise, crítica, história, aplicações. Agora, na Parte
VI (Caps 23-25), fazemos a virada propositiva. É hora de
perguntar: e agora, o que fazemos?
📚 A jornada completa até aqui
- Parte I-II: Fundamentos marxistas e cibernéticos
- Parte III: Ferramentas teóricas avançadas (subsunção, crítica do
valor, Multidão)
- Parte V (Caps 12-16): Como a lógica cibernética-capitalista penetra
gênero, sexualidade, lazer, resistências
- Parte IV (Caps 17-19): Experimentos históricos — o que tentamos
antes, o que funcionou, o que falhou
- Parte V (Caps 20-22): O mundo hoje — geopolítica, Brasil
periférico, necropolítica digital
🎯 Agora (Caps 23-25): Hora da síntese e das
propostas. Cap 23 articula a tese central (dupla face da cibernética). Cap 24
apresenta propostas concretas para o Brasil. Cap 25 questiona: a China seria uma
alternativa? Prepare-se — o tom muda de diagnóstico para ação.
Você chegou longe. Se está aqui, atravessou teoria densa, história
complexa, realidades brutais. Agora vem a recompensa: respostas, caminhos, esperança
fundamentada em análise rigorosa. Vamos construir alternativas.
Introdução: A Moeda de Jano
Chegamos ao fim do nosso percurso. Ao longo de mais de vinte capítulos, exploramos as profundezas
da teoria marxista e da cibernética, investigamos experimentos históricos e analisamos a
conjuntura brutal do capitalismo digital. Agora, é hora de amarrar as pontas e encarar a tese
final deste livro. A cibernética, a ciência do controle e da comunicação, é a "moeda de Jano" do
nosso tempo. Como o deus romano de duas faces, ela olha simultaneamente para dois futuros
opostos: um de controle total e outro de libertação radical.
A história do capitalismo tardio, como vimos, é a história da captura da cibernética pela lógica
do capital. A mesma ciência que nasceu para entender sistemas complexos e a auto-organização foi
transformada na principal ferramenta para a dominação, a vigilância e a exploração. No entanto,
e este é o ponto crucial, a mesma ciência que permite o controle também nos dá as ferramentas
teóricas e práticas para pensar a sua superação. A cibernética contém, em si, o veneno e o
antídoto. Este capítulo final fará a síntese dessa contradição, revisitando as duas faces da
moeda.
23.1 A Face do Controle: A Cibernética a Serviço do Capital
A primeira face, a mais visível e dominante hoje, é a da cibernética como a ciência do controle a
serviço do capital. Ao longo deste livro, vimos essa face se manifestar de inúmeras formas:
- Do Gerenciamento Algorítmico à Necropolítica: Vimos como o gerenciamento
algorítmico nas plataformas de trabalho (Capítulo 3) e a engenharia do vício nos jogos e apostas
(Capítulo 14) são aplicações diretas da cibernética de primeira ordem: a
observação e o controle de um sistema a partir de um ponto de vista externo, com um objetivo
pré-definido (a maximização do lucro). O trabalhador e o usuário são tratados como componentes
de uma máquina a serem otimizados. Essa lógica atinge seu ápice na necropolítica
digital (Capítulo 22), onde o controle se torna a gestão da própria vida e da
morte, decidindo quem é visível e quem é descartável.
- A Subsunção Real Cibernética: Argumentamos que o capitalismo de plataforma
representa uma nova fase da subsunção do trabalho ao capital. Se a subsunção
formal era o controle externo do processo de trabalho e a subsunção
real era a incorporação da ciência na maquinaria (Capítulo 5), o que vemos hoje é
uma subsunção real cibernética. O controle não está mais apenas na máquina, mas
na própria rede informacional que media toda a nossa existência. O trabalho, o lazer, a amizade,
o desejo — tudo é subsumido pela lógica da plataforma, que busca extrair dados e valor de cada
interação.
- O Sujeito Automático e a Crítica do Valor: Esta rede global de plataformas,
que parece operar de forma autônoma, é a encarnação material do "sujeito
automático" que a Wertkritik (Capítulo 10) identificou como o verdadeiro
soberano do capitalismo. É o Valor se valorizando, um sistema que ninguém controla diretamente,
mas que controla a todos. A cibernética, nesta face, se torna a linguagem de programação desse
sujeito automático, a lógica que permite que o capital se reproduza em uma escala planetária e
em uma velocidade quase instantânea.
23.2 A Face da Libertação: A Cibernética como Ciência da Auto-Organização
A segunda face da moeda, a face da esperança, é a da cibernética como a ciência da
auto-organização e da autonomia. Se a cibernética de primeira ordem é a ciência do controle, a
cibernética de segunda ordem — a cibernética dos sistemas observantes — é a
ciência da reflexividade, da autonomia e da liberdade. Ela nos dá as ferramentas para pensar a
resistência e a construção de alternativas.
- Do Cybersyn ao Cooperativismo de Plataforma: Vimos como a visão de Stafford
Beer para o Projeto Cybersyn (Capítulo 18) era baseada em uma cibernética da
autonomia. O objetivo não era o controle central, mas fornecer as ferramentas para que os
próprios trabalhadores pudessem gerenciar suas fábricas de forma autônoma e coordenada. Essa
mesma filosofia ressoa hoje nas propostas de cooperativismo de plataforma
(Capítulo 19) e na luta pela soberania de rede (Capítulo 20). São todas
tentativas de usar a tecnologia de rede não para o controle hierárquico, mas para a coordenação
horizontal.
- O General Intellect e a Multidão: O sujeito dessa cibernética de
segunda ordem é a Multidão do Pós-Operaísmo (Capítulo 9). É o _general
intellect_ de Marx (Capítulo 5) se tornando consciente de si mesmo. A Multidão, com
sua capacidade de cooperar, de criar linguagem e de produzir conhecimento em rede, é a força
viva que pode se apropriar das ferramentas cibernéticas e usá-las para seus próprios fins. A
luta pelo Comum é a luta para que a infraestrutura de rede seja controlada por
quem a produz, e não pelo capital.
- A Batalha pela Variedade: Como vimos, a luta política hoje pode ser entendida
como uma batalha cibernética pela variedade. O capital, com seus monopólios,
seus algoritmos de recomendação e sua busca pela padronização, busca incessantemente
reduzir a variedade do mundo. A resistência, por outro lado, busca
aumentar a variedade: criar novas formas de vida, novas formas de organização,
novas tecnologias, novas culturas. A luta pela libertação é a luta para manter o futuro aberto.
|
Dimensão |
Face do Controle |
Face da Libertação |
|
Paradigma Cibernético |
Cibernética de Primeira Ordem (controle externo) |
Cibernética de Segunda Ordem (auto-organização) |
|
Lógica Operacional |
Feedback negativo (estabilização, homeostase) |
Feedback positivo (amplificação, evolução) |
|
Objetivo |
Reduzir a variedade (padronização, previsibilidade) |
Aumentar a variedade (diversidade, criatividade) |
|
Estrutura de Poder |
Hierárquica, centralizada (comando e controle) |
Horizontal, distribuída (coordenação e cooperação) |
|
Tecnologia |
Algoritmos de vigilância, plataformas proprietárias, IA autoritária |
Software livre, cooperativas de plataforma, IA democrática |
|
Sujeito Político |
Indivíduo atomizado, consumidor passivo |
Multidão, general intellect, cooperação em rede |
|
Modelo Econômico |
Capitalismo de vigilância, extração de dados, monopolização |
Economia do Comum, produção P2P, abolição do valor |
|
Exemplos Históricos |
Crédito social chinês, vigilância em massa da NSA, algoritmos de recomendação
manipulativos |
Projeto Cybersyn, cooperativismo de plataforma, software livre (Linux,
Wikipedia) |
|
Visão de Futuro |
Fascismo digital, tecnofeudalism, distopia algorítmica |
Comunismo cibernético, democracia radical, utopia cooperativa |
| Estratégia de Luta |
Resistir à captura, desconectar, sabotagem |
Construir alternativas, cooperar, criar o Comum |
Tabela: Controle vs. Libertação — As duas faces da cibernética e suas
implicações políticas, tecnológicas e sociais.
Conclusão: A Escolha da Esfinge
A dupla face da cibernética nos coloca diante de uma encruzilhada histórica, a escolha da Esfinge
do século XXI. O dilema pode ser resumido na fórmula clássica: Socialismo ou
Barbárie, mas em sua versão digital. Ou a lógica do controle nos levará a uma nova
forma de barbárie — um fascismo de tela global, uma farmácia de apartheid, um colapso climático
gerenciado por uma IA autoritária —, ou a lógica da auto-organização nos permitirá construir uma
forma superior de socialismo: um comunismo cibernético.
O que seria o comunismo cibernético? Não o planejamento central autoritário do século XX, mas uma
rede de redes auto-organizadas. Uma federação global de comunas, cooperativas e
conselhos que usam a tecnologia de informação para coordenar a produção e a distribuição de
forma democrática, para atender às necessidades humanas e para garantir a sustentabilidade
ecológica. É o sonho do Cybersyn em escala planetária, mas descentralizado, resiliente e
controlado pela Multidão. É a abolição do Valor, da mercadoria e do trabalho abstrato, não
através de um decreto estatal, mas através da construção de uma infraestrutura que torna a
coordenação direta mais eficiente do que o mercado.
A tarefa imediata, portanto, não é esperar por uma revolução futura, mas lutar aqui e
agora pela infraestrutura. Cada plataforma cooperativa construída, cada trecho de
código aberto escrito, cada batalha vencida pela neutralidade da rede, pela proteção de dados ou
pelos direitos dos trabalhadores digitais é um passo na construção do comunismo cibernético. A
luta de classes hoje é uma luta por protocolos, por algoritmos, por data centers. É uma luta
para virar a moeda de Jano e garantir que a face que olhe para o futuro seja a da libertação.
🔗 Conexões com Outros Capítulos
Este capítulo é a grande síntese
teórica — retoma todos os debates do livro e os resolve através da "dupla face
da cibernética". É o momento em que tudo se conecta:
🔙
Fundamentos que sintetizamos
⚔️
Manifestações concretas da FACE DO CONTROLE
✊
Manifestações concretas da FACE DA LIBERTAÇÃO
🌍
O que vem depois: Pluriverso de alternativas
🎯 A tese central deste
capítulo (e do livro inteiro):
A cibernética não é neutra. Ela pode ser
arma de dominação (1ª ordem: redução de variedade, controle top-down,
"sujeito automático") OU ferramenta de libertação (2ª ordem:
auto-organização, aumento de variedade, "multidão"). A mesma ciência, dois futuros
opostos. Nossa tarefa: virar a moeda de Jano para que a face da libertação olhe
para o futuro.
⚠️ Socialismo ou Barbárie (versão digital): Ou construímos
comunismo cibernético (rede de redes auto-organizadas, planejamento
democrático, abolição do Valor) ou caminhamos para barbárie digital
(fascismo algorítmico, colapso climático gerenciado por IA, necropolítica total). Não há
terceira via.
---
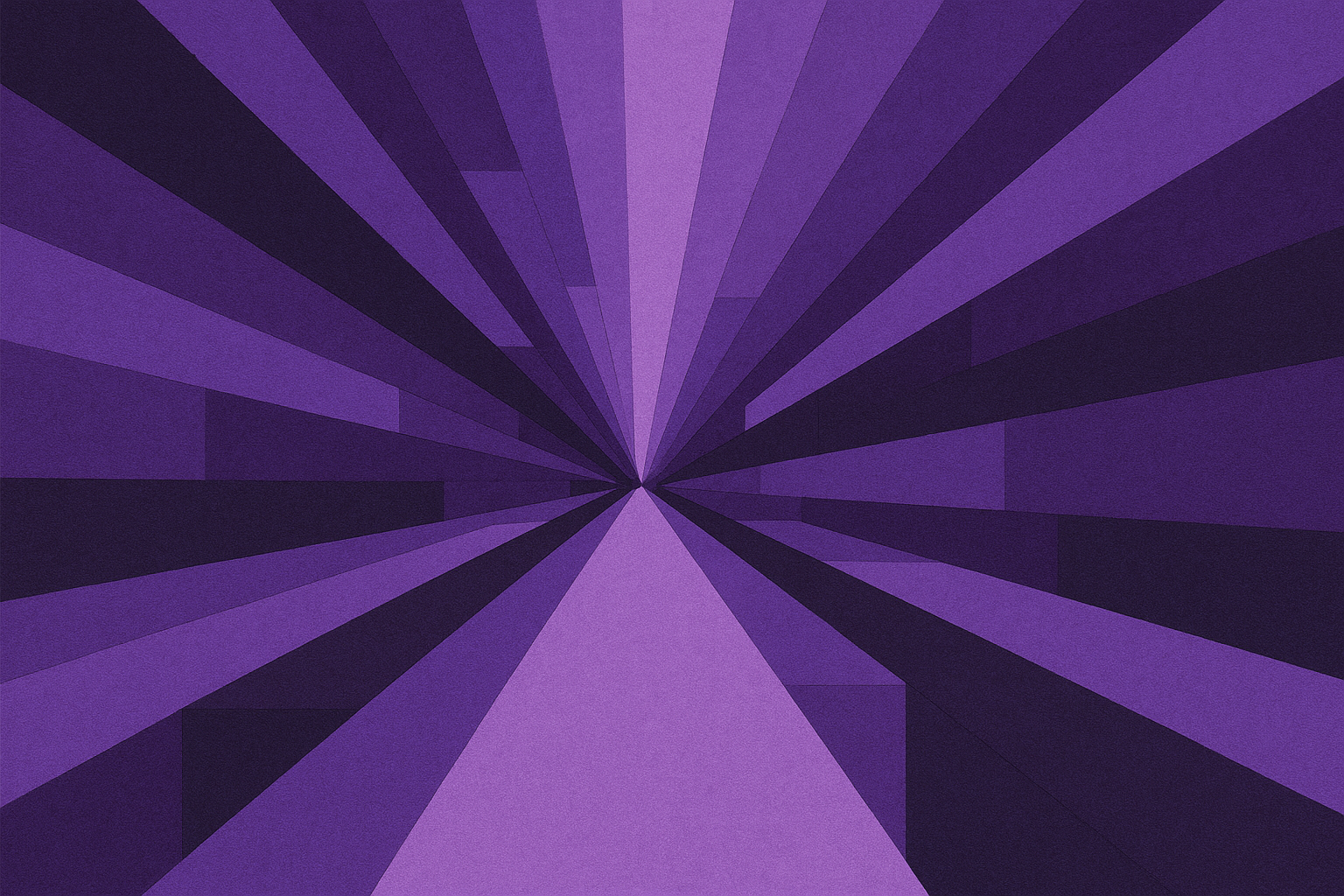
Capítulo 24
Capítulo 24: Políticas para o Antropoceno Digital
Introdução: Para Além da Crítica
Ao longo deste livro, construímos uma crítica radical ao capitalismo de plataforma e à sua lógica
de controle e extração. No entanto, a crítica, por si só, é insuficiente. Se nos limitarmos a
apontar os problemas, corremos o risco de cair na paralisia ou no desespero. É preciso,
portanto, concluir nosso percurso com um horizonte de ação, com uma agenda concreta de lutas e
propostas que possam nos guiar na construção de um futuro digital diferente. Este capítulo final
se dedica a essa tarefa. Ele não pretende ser um manual de instruções, mas um mapa de
possibilidades, organizado em torno de três eixos estratégicos interligados:
Descomoditizar, Descentralizar e
Democratizar.
24.1 Descomoditizar: Recuperando os Dados e os Serviços Essenciais
O primeiro e mais fundamental eixo de luta é reverter a transformação de tudo em mercadoria. Isso
significa atacar o poder das Big Techs e recuperar o controle público sobre os recursos e
serviços essenciais da era digital.
24.1.1 Regulação
Antimonopólio Radical
O Problema: O poder das Big Techs é, antes de tudo, um poder de monopólio. Como
vimos no Capítulo 3, plataformas como Uber e iFood controlam mercados
inteiros de trabalho. Nos Capítulos 13-16, vimos como essa lógica se
expande para sexualidade, jogos, esporte e drogas.
Propostas Concretas:
- Separação Estrutural: Facebook/Meta deve ser forçado a vender Instagram e
WhatsApp. Google deve se separar de YouTube, Android e Google Cloud. Amazon deve escolher
entre ser marketplace ou vendedor, não ambos.
- Proibição de Aquisições Predatórias: Big Techs não podem comprar startups
em seus setores por 10 anos. Histórico: Facebook comprou Instagram (2012) e WhatsApp (2014)
para eliminar competição.
- Unbundling de Serviços: Usuário deve poder usar Google Search sem Gmail, ou
Instagram sem Facebook. Fim dos "ecossistemas fechados".
- Portabilidade de Dados Real: Não apenas exportar dados, mas migrar
toda sua presença digital (amigos, histórico, configurações) entre plataformas com um
clique.
24.1.2 Tributação Global
e Fim dos Paraísos Fiscais
O Problema: Big Techs pagam 3-5% de impostos efetivos (vs. 25-35% de empresas
tradicionais) usando paraísos fiscais (Irlanda, Luxemburgo, Bermudas).
Propostas Concretas:
- Imposto Mínimo Global de 25%: Expande acordo OCDE de 15% (2021) para 25%
sobre lucros globais de empresas tech.
- Imposto sobre Dados: 2% sobre valor de mercado de todos os dados pessoais
coletados/processados por ano. Se uma empresa tem dados de 100M de brasileiros valendo
R$50/pessoa, paga R$100M/ano ao Brasil.
- Digital Services Tax (DST): 5-7% sobre receita bruta de publicidade
digital, não sobre lucro (impossível de manipular). Modelo: França, Índia já implementaram.
- Fim do Treaty Shopping: Tratados bilaterais que permitem empresas
escolherem jurisdição de menor imposto são anulados para Big Tech.
- Destinação: Receita vai para Fundo Nacional de Tecnologia Social (ver
24.1.4).
24.1.3 Soberania de Dados
e Infraestrutura Nacional
O Problema: Como visto no Capítulo 20, controle de
infraestrutura digital é poder geopolítico. Brasil não tem soberania sobre dados de sua
população.
Propostas Concretas:
- Lei de Localização de Dados: Dados sensíveis (saúde, financeiros,
governamentais, localização em tempo real) devem ser armazenados em servidores em território
nacional. Modelo: China, Rússia, parcialmente União Europeia (GDPR).
- Nuvem Soberana Brasileira: Criar empresa pública de cloud computing
(modelo: OVHcloud francesa) para hospedar dados governamentais e oferecer alternativa a
AWS/Azure/Google Cloud.
- Cabos Submarinos Públicos: Investir em cabos submarinos de fibra ótica
conectando Brasil diretamente a África, Europa, Ásia, reduzindo dependência de rotas
controladas por EUA.
- Raízes DNS Nacionais: Brasil deve ter servidores-raiz DNS em território
nacional (atualmente controlados por ICANN/EUA).
- Criptografia Nacional: Desenvolver padrões criptográficos próprios (modelo:
China tem SM2/SM3/SM4 ao invés de depender de padrões NSA).
24.1.4 Plataformas
Públicas e o Comum Digital
O Problema: Serviços essenciais (comunicação, transporte, alimentação, cultura)
controlados por monopólios privados extrativistas.
Propostas Concretas:
- "iFood Público" (Plataforma Nacional de Entrega):
- Taxa zero para restaurantes (vs. 27-35% do iFood)
- Entregadores: CLT, R$3.000/mês + benefícios
- Financiamento: taxa 3% sobre pedidos (consumidor paga), mais subsídio estatal
inicial
- Governança: conselho tripartite (restaurantes, entregadores, consumidores)
- Impacto: conecta com Cap 8 sobre uberização
- "YouTube Público" (Plataforma Nacional de Cultura):
- Streaming de vídeo sem publicidade, sem algoritmo viciante
- Remuneração de criadores: R$0,10 por visualização real (vs. R$0,004 do YouTube)
- Curadoria democrática: comitês de cidadãos + IA transparente
- Hosting: Nuvem Soberana Brasileira
- Financiamento: orçamento cultural + parte da DST (24.1.2)
- "Rede Social Pública" (Fediverso Brasileiro):
- Baseada em Mastodon/ActivityPub (protocolo aberto, interoperável)
- Instâncias municipais/estaduais federadas
- Zero mineração de dados, zero publicidade direcionada
- Moderação: conselhos comunitários locais
- Conecta com Cap 22 sobre necropolítica digital
- Fundo Nacional de Tecnologia Social:
- R$ 5 bilhões/ano (metade da receita de DST)
- Financia desenvolvimento de software livre, cooperativas de plataforma, hardware
aberto
- Prioridade: periferias, comunidades quilombolas, indígenas
- Governança: 50% técnicos, 50% representantes de comunidades
📚
O exemplo da Biblioteca Pública
A biblioteca
pública é um exemplo poderoso de como o acesso universal a bens culturais
pode ser organizado fora da lógica do mercado. Imagine propor hoje, pela primeira vez, a
ideia de uma biblioteca pública: "Vamos construir edifícios em cada cidade, enchê-los de
livros caros, e permitir que qualquer pessoa entre e leve esses livros para casa, de
graça, confiando que eles os devolverão". A indústria editorial gritaria: "Isso vai
destruir o mercado de livros! É comunismo! Ninguém vai comprar livros se puder pegá-los
de graça!" Mas bibliotecas públicas existem há séculos, e não destruíram o mercado
editorial — pelo contrário, criam leitores. A biblioteca é um comum: um
recurso gerido coletivamente, financiado por impostos, acessível a todos
independentemente de capacidade de pagamento. Ela não é apenas um depósito de livros,
mas um espaço público, um lugar de encontro, aprendizado e cidadania. A mesma lógica
poderia ser aplicada à infraestrutura digital: redes sociais públicas, plataformas de
streaming de propriedade coletiva, algoritmos de recomendação transparentes e
não-manipulativos. A biblioteca pública nos lembra que nem tudo precisa ser mercadoria,
e que o acesso universal à cultura e ao conhecimento é possível e desejável.
24.2 Descentralizar: Distribuindo o Poder na Rede
O segundo eixo de luta é combater a arquitetura centralizada da internet atual, distribuindo o
poder na rede e fomentando um ecossistema digital mais diverso e resiliente.
24.2.1 Cooperativismo de
Plataforma: Trabalhadores como Donos
O Problema: Como vimos no Capítulo 8, plataformas
extrativistas capturam 27-35% do valor gerado por trabalhadores. Motoristas do Uber não têm
direitos; são "empreendedores" sem proteção.
Propostas Concretas:
- Programa Nacional de Cooperativismo de Plataforma:
- R$ 2 bilhões/ano para crédito subsidiado (juros 2%/ano) para cooperativas digitais
- Prioridade para setores-chave: transporte (Uber), entrega (iFood), limpeza
(GetNinjas), cuidado (Cuidar.me)
- Meta: 500 cooperativas em 5 anos, 100 mil trabalhadores como cooperados
- Modelo: CoopCycle (entrega de bicicleta, 60 cidades na Europa), DisCO.coop
(feminismo + cooperativismo)
- Incubadora Nacional de Tecnologia Social:
- 15 Centros de Tecnologia Cooperativa (um por região + capitais)
- Serviços: desenvolvimento de software livre, design de plataformas, assessoria
jurídica, marketing
- Time: programadores, designers, advogados, contadores, educadores populares
- Parceria com universidades públicas + SENAES (Secretaria Nacional de Economia
Solidária)
- Preferência em Compras Governamentais:
- Lei: governo deve priorizar cooperativas de plataforma em licitações (modelo: Índia
faz isso para micro-empresas)
- Exemplo: prefeituras usam cooperativa de entrega local ao invés de iFood para
merenda escolar
- Exemplo: serviços de transporte municipal priorizam cooperativas de motoristas ao
invés de Uber
- "Direito de Primeira Recusa" (Right to First Refusal):
- Se plataforma sai do Brasil ou vai à falência, trabalhadores têm direito de
comprá-la e convertê-la em cooperativa
- Estado financia 80% do valor de compra
- Modelo: Argentina (lei de "recuperação de fábricas" pós-2001), Itália (lei Marcora)
24.2.2 Interoperabilidade
Mandatória: Quebrando os Jardins Murados
O Problema: "Efeito de rede" mantém monopólios. Você não pode sair do WhatsApp
porque todos estão lá. Você não pode sair do Instagram porque lá estão suas fotos/amigos.
Propostas Concretas:
- Lei de Interoperabilidade Universal:
- Qualquer plataforma com >10M de usuários brasileiros deve abrir APIs interoperáveis
em 18 meses
- Multa: 4% do faturamento global por ano de atraso (modelo: GDPR)
- Escopo: mensagens (WhatsApp↔Telegram↔Signal), redes sociais (Instagram↔TikTok),
e-mail já é interoperável (padrão SMTP)
- Modelo: Digital Markets Act da UE (2024), lei alemã de interoperabilidade (2021)
- Padrão Brasileiro de Protocolos Abertos:
- ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) define padrões técnicos para
interoperabilidade
- Baseado em ActivityPub (usado pelo Mastodon) para redes sociais federadas
- Baseado em Matrix Protocol (usado por governos França, Alemanha) para mensagens
criptografadas
- Qualquer empresa pode implementar sem pagar royalties
- Portabilidade Social Completa:
- Você pode migrar do Instagram para outra rede social levando: fotos, vídeos,
comentários, lista de amigos, histórico de interações
- Novo serviço manda convite automático para seus amigos: "Fulano migrou para [nova
plataforma], clique aqui para continuar seguindo"
- Custo de saída = zero → fim do "efeito prisão"
🔗
O que é interoperabilidade?
Interoperabilidade significa que diferentes sistemas, plataformas ou
serviços podem se comunicar e trabalhar juntos. No contexto das plataformas digitais,
significa que você poderia, por exemplo, enviar uma mensagem do WhatsApp para alguém no
Telegram, ou postar no Instagram e ter isso aparecer automaticamente no Facebook (de
outra empresa). Hoje, as grandes plataformas são "jardins murados": você só pode
interagir com outros usuários da mesma plataforma. Isso cria efeitos de
rede que funcionam como prisões: você não pode sair do WhatsApp porque
todos os seus contatos estão lá. A interoperabilidade quebraria esse monopólio. A União
Europeia, através do Digital Markets Act, está forçando grandes
plataformas a se tornarem interoperáveis. Isso permitiria que plataformas menores,
cooperativas ou de código aberto competissem em pé de igualdade. Pense na
interoperabilidade como o equivalente digital de poder enviar um e-mail do Gmail para o
Outlook — algo que consideramos óbvio, mas que não existe para redes sociais. A
interoperabilidade é uma ferramenta poderosa de desmonopolização,
porque reduz o custo de mudar de plataforma e abre espaço para alternativas.
24.2.3 Infraestrutura
Pública e Comunitária: Internet como Direito
O Problema: Telecoms (Vivo, Claro, Oi, Tim) cobram caro e oferecem serviço ruim.
Periferias e zona rural têm acesso precário. 5G chega em Jardins (SP) mas não no Capão Redondo.
Propostas Concretas:
- Fibra Ótica Municipal (FOM):
- Prefeituras instalam rede de fibra ótica como serviço público (modelo: luz, água,
esgoto)
- Usuário paga R$ 50/mês por 1Gbps simétrico (vs. R$ 100-150/mês por 300Mbps nas
telecoms privadas)
- Exemplos: Chattanooga (EUA, cidade pública tem internet mais rápida que Google
Fiber), Niterói (Brasil, Rede Niterói Telecom experimental)
- Financiamento: FUST (Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações, R$
1,6 bilhão/ano, hoje parado)
- Redes Comunitárias Sem Fio (Community Mesh Networks):
- Comunidades periféricas instalam roteadores mesh (cada um conecta ao vizinho,
formando rede distribuída)
- Custo: R$ 200/roteador, sem mensalidade, gerido pela própria comunidade
- Tecnologia: WiFi mesh + LoRa para longa distância
- Exemplos: Rede Comum (RJ, Maré), AlterMundi (Argentina), Guifi.net (Catalunha, 37
mil nós)
- Governo fornece: roteadores subsidiados, capacitação técnica, isenção de impostos
- Satélites Públicos para Zona Rural:
- Constelação de satélites baixa órbita (LEO) brasileira para internet banda larga
rural
- Alternativa pública ao Starlink (Elon Musk, R$ 200/mês)
- Parceria: INPE (pesquisa) + Embratel (infraestrutura) + AEB (Agência Espacial
Brasileira)
- Custo: R$ 500M/ano (150 satélites em 5 anos)
- Impacto: conecta quilombos, aldeias indígenas, assentamentos MST
- Zero Rating Invertido:
- Hoje: telecoms oferecem WhatsApp/Instagram "grátis" (zero rating) violando
neutralidade da rede
- Proposta: governo paga telecoms para oferecer acesso gratuito a: educação (.edu.br),
saúde (.gov.br/saude), serviços públicos, Wikipédia, plataformas cooperativas
- Custo: R$ 1 bilhão/ano (FUST)
24.2.4 Software Livre e
Código Aberto: Infraestrutura Tecnológica Comum
O Problema: Dependência de software proprietário (Microsoft, Adobe, Oracle)
custa bilhões ao Estado e impede auditoria/soberania.
Propostas Concretas:
- Decreto Federal de Software Livre Obrigatório:
- Todo software desenvolvido por/para governo deve ser livre (código aberto, licença
GPL/MIT/Apache)
- Preferência em licitações para soluções livres (modelo: Municípios de Barcelona,
Paris, Munich adotaram Linux)
- Exceções apenas se não existir alternativa livre viável (auditada por comitê
técnico)
- Migração Massiva para Linux:
- Meta: 100% de PCs governamentais rodando Linux até 2030 (hoje ~5%)
- Economia: R$ 500M/ano em licenças Microsoft Windows + Office
- Distribuição oficial: "Ubuntu Brasil Gov" (baseada em Ubuntu, customizada para
necessidades brasileiras)
- Capacitação: 50 mil funcionários públicos formados em 5 anos
- Fundo de Desenvolvimento de Software Livre:
- R$ 300M/ano para financiar desenvolvimento de ferramentas livres críticas
- Foco: alternativas a Adobe (design gráfico), Microsoft Office (produtividade),
AutoCAD (engenharia), SAP (ERP)
- Modelo: consórcio público-privado como Blender Foundation (software 3D livre usado
por NASA, Disney)
- Hardware Aberto para Educação:
- Laptop educacional brasileiro (R$ 800/unidade) com hardware 100% documentado,
reparável, auditável
- Baseado em RISC-V (arquitetura de CPU aberta, alternativa a Intel/AMD/ARM)
- Meta: 10M de laptops para escolas públicas em 5 anos
- Produzido por empresas brasileiras (Positivo, Itautec) com incentivo fiscal
24.3 Democratizar: O Controle Social da Tecnologia
O terceiro e último eixo é submeter o desenvolvimento e o uso da tecnologia ao controle
democrático. A tecnologia não é neutra, e suas regras não podem ser decididas por um punhado de
engenheiros no Vale do Silício.
24.3.1 Direitos Digitais
como Direitos Humanos Constitucionais
O Problema: Direitos digitais são tratados como "termos de serviço" negociáveis,
não como direitos fundamentais. Big Tech pode mudar regras unilateralmente.
Propostas Concretas:
- Emenda Constitucional dos Direitos Digitais:
- Art. 5º da Constituição Federal ganha novos incisos:
- "LXXIX - é garantido o acesso universal à internet de banda larga como
serviço essencial"
- "LXXX - são invioláveis os dados pessoais, a privacidade e a intimidade
no ambiente digital"
- "LXXXI - é garantida a liberdade de expressão digital sem censura prévia
de plataformas privadas"
- "LXXXII - ninguém será discriminado por algoritmos em crédito, emprego,
saúde ou segurança pública"
- Modelo: Constituição de Portugal (Art. 35º sobre proteção de dados, 1976), Chile (em
processo)
- Lei de Responsabilidade de Plataformas:
- Plataformas >10M usuários não podem banir usuários sem: motivo explícito, direito de
defesa, recurso a comitê independente
- Multa: R$ 50 mil por banimento arbitrário (+ reintegração do usuário)
- Conecta com Cap 22 sobre necropolítica digital (perfis de
negros são banidos 3x mais que brancos)
- Direito ao Esquecimento e Reparação:
- Após 5 anos, qualquer pessoa pode exigir exclusão definitiva de dados não-essenciais
(histórico de buscas, localização, comportamento)
- Dados essenciais (transações financeiras, registros médicos) ficam anonimizados após
10 anos
- Indenização automática de R$ 10 mil por vazamento de dados (sem precisar provar
dano)
24.3.2 Regulação e
Auditoria Algorítmica Mandatória
O Problema: Algoritmos definem quem consegue empréstimo, quem é preso, quem vê
qual conteúdo. São "caixas-pretas" - ninguém sabe como funcionam, incluindo quem os criou.
Propostas Concretas:
- Agência Nacional de Algoritmos (ANAL):
- Agência reguladora independente (modelo: ANATEL, ANEEL, Banco Central)
- Poderes: auditar algoritmos, exigir transparência, proibir algoritmos
discriminatórios, multar até 10% faturamento
- Composição: 7 diretores (3 indicados governo, 2 por sociedade civil, 2 por
academia), mandato 5 anos não-renovável
- Orçamento: R$ 500M/ano (da DST), 500 funcionários (auditores, cientistas de dados,
advogados)
- Transparência Algorítmica Obrigatória:
- Algoritmos de "alto risco" (crédito, emprego, justiça criminal, saúde, educação)
devem publicar:
- Variáveis utilizadas (ex: "idade", "CEP", "histórico de compras")
- Peso de cada variável na decisão
- Taxa de erro por grupo demográfico (raça, gênero, classe)
- Dados de treino (para detectar viés)
- Modelo: EU AI Act (2024) classifica IA por risco e exige transparência
- Direito à Explicação:
- Se um algoritmo te nega crédito/emprego/benefício, você tem direito a: explicação em
linguagem simples, dados específicos usados, recurso humano
- Empresa tem 10 dias para responder, senão decisão é revertida automaticamente
- Já existe em GDPR (Art. 22) mas não é aplicado - Brasil deve aplicar com multas
reais
- Proibição de Algoritmos Discriminatórios:
- Ilegal usar como variável: raça, cor, religião, orientação sexual, CEP como proxy
para raça/classe
- Ilegal: algoritmo que produz "impacto desproporcional" (>10% diferença entre grupos)
- Exemplo proibido: Algoritmo de crédito que aprova 60% brancos mas 45% negros (mesmo
renda/escolaridade)
- Modelo: Fair Housing Act (EUA, 1968) adaptado para era digital
24.3.3 Conselhos de
Cidadãos para Governança da IA
O Problema: Decisões sobre IA são tomadas por: empresas (lucro), especialistas
(tecnocracia), políticos (lobby). Cidadãos comuns, que sofrem consequências, não participam.
Propostas Concretas:
- Assembleia de Cidadãos para IA (modelo: júri popular):
- 100 cidadãos sorteados (representatividade: idade, raça, gênero, região,
escolaridade)
- Dedicação: 6 meses, R$ 10 mil/mês (para permitir participação de pobres)
- Processo:
- Mês 1-2: Educação (especialistas de todos os lados apresentam: Big Tech,
acadêmicos, ativistas, trabalhadores)
- Mês 3-4: Deliberação (cidadãos discutem em pequenos grupos, depois plenária)
- Mês 5-6: Redação de recomendações vinculantes
- Temas: "Devemos permitir reconhecimento facial em espaços públicos?", "Como regular
apostas digitais?" (conecta com Cap 14), "IA pode substituir
professores/médicos/juízes?"
- Modelo: Irlanda (assembleia de cidadãos sobre aborto levou a mudança constitucional
2018), França (Convention Citoyenne pour le Climat, 2019)
- Referendos Populares sobre Tecnologias Críticas:
- Decisões sobre tecnologias de "impacto civilizacional" vão a referendo nacional:
- "Proibir reconhecimento facial em segurança pública?"
- "Permitir carros autônomos sem motorista humano?"
- "Implementar sistema de crédito social (modelo China)?"
- "Criar moeda digital do Banco Central (CBDC) rastreável?"
- Gatilho: Petição de 1% dos eleitores (1,5M assinaturas) ou Assembleia de Cidadãos
- Modelo: Suíça (democracia direta), Islândia (crowdsourcing constitucional 2011)
- Conselhos Setoriais de Trabalhadores em IA:
- Em cada setor (saúde, educação, transporte, justiça), criar conselho de
trabalhadores afetados por IA
- Poder de veto: se 60% dos trabalhadores rejeitam uma IA, ela não pode ser
implementada
- Exemplo: enfermeiras decidem se IA de triagem pode substituir enfermeiras;
motoristas decidem sobre carros autônomos
- Conecta com Cap 8: trabalhadores de plataforma decidem sobre
algoritmos de alocação de trabalho
24.3.4 Regulação
Setorial: Apostas, Drogas, Sexualidade Digital
O Problema: Capitais 13-16 analisaram setores específicos (sexualidade, jogos,
apostas, drogas) subsumidos por lógica de plataforma. Faltam políticas setoriais.
Propostas Concretas:
- Apostas Esportivas Digitais (conecta Cap 14):
- Proibir publicidade de apostas (modelo: tabaco)
- Limite: R$ 500/mês por pessoa (bloqueio automático cross-plataforma)
- Imposto: 30% sobre receita líquida das plataformas → Fundo de Tratamento de
Ludopatia
- Sistema de autoexclusão: cadastro nacional, se você se inscreve, todas as
plataformas te bloqueiam por 1 ano
- Proibir "apostas ao vivo" (mais viciantes) e "cashout" (engenharia de vício)
- Trabalho Sexual Digital (conecta Cap 12):
- Descriminalização: trabalho sexual digital é trabalho, não crime
- OnlyFans/similares: taxa máxima 10% (hoje 20%), trabalhadores viram CLT com direitos
- Plataforma cooperativa: "OnlyFans Público" sem fins lucrativos, governada por
trabalhadoras sexuais
- Proteção: banimento de conteúdo não-consensual (deepfakes, revenge porn) com multa
R$ 100 mil/vídeo + prisão
- Esports e Atletas Digitais (conecta Cap 15):
- Pro-gamers são atletas: CLT, direitos trabalhistas, aposentadoria especial (25 anos)
- Sindicato Nacional de Atletas Digitais: negociação coletiva com empresas de esports
- 50% da receita de torneios vai para jogadores (hoje: 10-20% para jogadores, 80-90%
para organizações/empresas)
- Limite de jornada: 8h/dia de treino competitivo (prevenir burnout, lesões)
- Farmácia Digital e Redução de Danos (conecta Cap 16):
- App público de "Farmácia Digital": entrega gratuita de medicamentos SUS, inclusive
para dependência química
- Telemedicina para dependência: psicólogo/psiquiatra online gratuito para dependentes
- Proibir dark patterns: algoritmos de redes sociais não podem promover conteúdo
pró-droga para menores ou pessoas em tratamento
- Teste de substâncias: app público onde você envia foto da droga, IA identifica
composição + presença de fentanil/outras substâncias letais (redução de danos,
modelo: Países Baixos)
Conclusão: Uma Agenda para a Luta
Chegamos ao fim de um longo caminho propositivo. Ao longo deste capítulo,
apresentamos 12 subsecções com dezenas de políticas concretas, organizadas em três eixos
estratégicos: Descomoditizar, Descentralizar, Democratizar. Não são fantasias
utópicas — cada proposta tem precedentes históricos, modelos internacionais ou experimentos em
curso. A questão não é se são viáveis tecnicamente. A questão é: teremos força política para
implementá-las?
🔄 As Três Estratégias
Como Sistema Integrado
É crucial entender que as três estratégias não são independentes — elas se
reforçam mutuamente:
- Descomoditizar (24.1) sem Descentralizar (24.2) = risco de
criar novos monopólios públicos burocráticos, tão alienantes quanto os privados
- Descentralizar (24.2) sem Descomoditizar (24.1) = cooperativas
competindo em mercado hostil, esmagadas por Big Tech
- Democratizar (24.3) sem os outros dois = participação vazia,
"consultas públicas" que empresas ignoram
O poder da agenda está na sinergia. Imagine:
- Imposto sobre transações digitais (24.1.2) financia → infraestrutura
pública de plataformas (24.2.3) que permite → cooperativas competirem
(24.2.1) governadas por → conselhos de trabalhadores (24.3.3)
- Soberania de dados (24.1.3) garante que → dados ficam no Brasil
alimentando → IA pública nacional (24.2.4) controlada por
→ assembleias de cidadãos (24.3.3)
- Interoperabilidade obrigatória (24.2.2) quebra → efeito de rede das Big
Tech (24.1.1) permitindo → plataformas públicas entrarem (24.2.3)
com governança → democrática transparente (24.3.2)
Cada vitória parcial habilita a próxima. Não precisamos de tudo de uma vez — mas
precisamos de uma estratégia integrada.
⚡ A Urgência: Por Que Não
Podemos Esperar
Alguns dirão: "Essas propostas são radicais demais, precisamos de mais tempo, mais estudos,
reformas graduais." Mas o tempo não está do nosso lado:
🔥 Três Crises Convergentes
Exigem Ação Agora:
- Crise Democrática: Cada dia que passa, mais dados são coletados, mais
perfis psicográficos refinados, mais eleições manipuladas (conecta Cap 21: bolsonarismo digital). Se esperarmos, a própria
possibilidade de mudança democrática será corroída.
- Crise Social: Uberização avança, precarização se aprofunda, saúde
mental colapsa (conecta Cap 14: apostas,
Cap 22: necropolítica). Milhões sofrem
hoje sob algoritmos de exploração.
- Crise Ecológica: Data centers consomem 1-2% da eletricidade global,
mineração de bitcoin emite CO₂ equivalente a países, obsolescência programada gera
montanhas de e-lixo. O "digital" não é imaterial — ele queima o planeta.
A inação não é "prudência" — é cumplicidade. Como disse Rosa Luxemburgo: "Socialismo ou
barbárie". No século XXI, a escolha é: comunismo cibernético ou barbárie
digital.
🛠️ A Viabilidade: Como
Conquistar Isso?
Nenhuma dessas propostas será um presente das empresas ou dos governos. Elas terão que ser
conquistadas através da luta social. Mas a História mostra que vitórias são
possíveis:
✅ Precedentes de Vitórias
"Impossíveis":
- GDPR (União Europeia, 2018): Big Tech lutou com todos os lobbies.
Perdeu. Hoje é lei, com multas bilionárias aplicadas.
- Net Neutrality (Brasil, Marco Civil 2014): Operadoras queriam internet
"premium". Movimento social venceu.
- Software Livre (movimento global): Microsoft chamou Linux de "câncer".
Hoje 100% dos supercomputadores, 70% dos servidores, Android (3 bilhões de dispositivos)
rodam Linux.
- Cooperativas de plataforma (existem hoje): Up&Go (NYC), CoopCycle
(Europa), Cataki (Brasil) — pequenas, mas funcionam e crescem.
Como construir força para vencer? Quatro frentes simultâneas:
- Organização dos Trabalhadores Digitais: Entregadores, motoristas,
moderadores de conteúdo, call centers, microtrabalho — são milhões no Brasil. Sindicatos +
greves + sabotagem algorítmica (conecta Cap 8). Sem trabalho, não
há plataforma.
- Alianças Amplas: Unir:
- Movimentos sociais tradicionais (MST, MTST — conecta Cap 9)
- Ativistas digitais (privacidade, software livre)
- Ambientalistas (e-lixo, consumo energético)
- Feministas (conecta Cap 12: ciberfeminismo)
- Movimento negro (conecta Cap 22: algoritmos racistas)
A luta contra o capitalismo digital é interseccional por natureza.
- Construção de Alternativas Desde Baixo: Não esperar o Estado. Criar
cooperativas, desenvolver software livre, ocupar espaços. Cada cooperativa funcional é uma
prova de conceito viva. Cada vitória local inspira outras.
- Disputa Institucional: Eleger deputados/vereadores comprometidos,
pressionar reguladores (Anatel, Cade, ANPD), usar judiciário (ações civis públicas),
referendos (onde possível). O Estado não é neutro, mas é um campo de disputa.
A luta será longa. Mas já começou. Vocês que leem isso já fazem parte dela.
🌍 E a China? O Próximo
Capítulo
Antes de encerrar o livro, há um elefante na sala que precisamos encarar. Alguns leitores podem
estar pensando: "Por que propor tudo isso se a China já implementou um 'socialismo digital'
de Estado?"
O Capítulo 25 enfrentará essa questão diretamente. Analisaremos criticamente o
modelo chinês:
- É realmente socialista ou é capitalismo de Estado vigilante?
- O planejamento cibernético chinês emancipa ou sufoca a Multidão?
- Crédito social, reconhecimento facial total, censura algorítmica — isso é o futuro ou o
pesadelo?
- Podemos aprender algo da China sem copiar seu autoritarismo?
A resposta antecipada: Não, a China não é o modelo. Mas entender por que ela
não é — e o que podemos aprender mesmo assim — é fundamental. O Cap 25 será uma análise sem
romantismo e sem sinofobia.
🔥 Última Palavra: O
Futuro Não Está Escrito
Este capítulo apresentou uma agenda. Não a agenda, mas uma agenda — um ponto de
partida para discussão, adaptação, melhoria coletiva. Vocês que leem têm tanto direito de
modificá-la quanto eu tive de propô-la.
O capitalismo digital quer nos fazer acreditar que o futuro é inevitável: mais plataformas, mais
monopólios, mais vigilância, mais precarização. Isso é mentira. A história da
tecnologia está repleta de futuros que quase aconteceram mas foram derrotados:
- OGAS na URSS (conecta Cap 17) — internet vermelha que a burocracia
matou
- Cybersyn no Chile (conecta Cap 18) — democracia cibernética que
Pinochet destruiu
- Minitel na França anos 1980 — internet pública que foi privatizada
Cada um desses futuros foi derrotado por escolhas políticas, não por
determinismo tecnológico. O que significa que outras escolhas são possíveis.
A barbárie digital é uma possibilidade real. Um mundo onde algoritmos
decidem quem vive e quem morre (conecta Cap
22), onde ninguém tem emprego estável (conecta
Cap 8), onde a democracia é impossível (conecta Cap 21), onde o
planeta queima alimentando
data centers.
Mas o comunismo cibernético também é possível. Um mundo onde a tecnologia
serve à autogestão democrática (conecta Cap
11: síntese informacional), onde o Comum é protegido (conecta Cap 9:
Multidão), onde o conhecimento é livre, onde
trabalhamos menos e vivemos melhor.
Entre esses dois futuros, há uma luta. Este livro é uma arma nessa luta — uma
arma teórica, mas arma. As ferramentas para construir a alternativa estão, mais do que nunca, em
nossas mãos. Literalmente: você provavelmente está lendo isso em um dispositivo computacional
com mais poder que todos os computadores da NASA nos anos 1960.
A tecnologia existe. O conhecimento existe. O que falta é organização política e
vontade coletiva.
O futuro não está escrito.
Vamos escrevê-lo juntos. 🚩
---
🔑 Mini-Glossário do Capítulo
- Cooperativismo de Plataforma: Um modelo de propriedade de plataformas digitais
onde os trabalhadores ou usuários são também os donos, tomando as decisões e partilhando os
lucros de forma democrática.
- Interoperabilidade: A capacidade de diferentes sistemas ou redes de se
comunicarem e trocarem informações entre si.
- Protocolos Abertos: Padrões técnicos que são públicos e não-proprietários,
permitindo que qualquer pessoa crie tecnologias que sejam compatíveis com eles.
- Soberania de Dados: O princípio de que os dados estão sujeitos às leis e à
governança do país onde foram coletados.
💭 Exercícios de Análise
1. Plataformas Públicas na sua Cidade: Pense em um serviço na sua cidade que
poderia ser melhorado por uma plataforma pública (transporte, coleta de lixo, feiras locais,
etc.). Como essa plataforma funcionaria? Quais seriam seus desafios?
2. Cooperativismo na Prática: Pesquise por cooperativas de plataforma que já
existem no Brasil ou no mundo (exemplos: CoopCycle, Up & Go, Fairbnb). Escolha uma e analise seu
modelo de negócios e de governança.
3. Construindo a Agenda: Das propostas apresentadas neste capítulo, quais você
considera mais urgentes e quais você considera mais difíceis de serem implementadas? Por quê?
Organize-as em uma agenda de luta, do curto ao longo prazo.
🔗 Conexões com Outros Capítulos
Este capítulo é a convergência
prática de todo o livro. Cada proposta aqui se baseia em conceitos
desenvolvidos em capítulos anteriores. É onde teoria se torna política:
🏗️
Fundamentos teóricos que aplicamos
⚙️
Experiências históricas que inspiram (e alertam)
- Cap 17: OGAS — Tentativa soviética de
planejamento cibernético. Lição: tecnologia não basta sem democracia
- Cap 18: Cybersyn — Experimento chileno.
Lição: feedback democrático é possível, mas precisa defender-se
- Cap 19: Cooperativas — Exemplos reais de
autogestão digital (Mondragon, Cataki, etc.)
🔥
Problemas concretos que atacamos
- Cap 8: Trabalho Imaterial — Uberização,
precarização → resposta: CLT para plataformas, cooperativas
- Cap 12: Ciberfeminismo — Trabalho sexual
digital → resposta: descriminalização + cooperativa "OnlyFans Público"
- Cap 13: Plataformas — Monopólios → resposta:
interoperabilidade forçada, plataformas públicas
- Cap 14: Vigilância — LGPD fraca → resposta:
GDPR brasileiro, direito a criptografia, proibir psychometrics
- Cap 15: Algoritmos — IA como caixa-preta →
resposta: auditoria pública, código aberto obrigatório
- Cap 20: Crise Ecológica — E-lixo, consumo
energético → resposta: obsolescência proibida, data centers solares
- Cap 21: Bolsonarismo Digital — Fake news →
resposta: algoritmos transparentes, responsabilização de plataformas
- Cap 22: Necropolítica — Algoritmos racistas →
resposta: auditoria antirracista obrigatória, reparações digitais
🌍
O que vem depois: Alternativas Globais
🎯 Por que as 3 estratégias
(Descomoditizar, Descentralizar, Democratizar) são inseparáveis:
- Descomoditizar sem Descentralizar = risco de criar monopólios
públicos burocráticos (como OGAS fracassado)
- Descentralizar sem Democratizar = risco de reproduzir capitalismo
em escala menor (cooperativas que exploram)
- Democratizar sem Descomoditizar = ilusão participativa dentro da
jaula do mercado
As três juntas formam um sistema
viável de comunismo cibernético.
⚠️ Lembre-se: Estas propostas não são um "presente" que pedir ao Estado.
São conquistas que arrancar através de luta social organizada. A
viabilidade política depende de nós.
📚 Leituras Complementares
- Nível Intermediário:
- Scholz, T. (2016). Platform Cooperativism: Challenging the Corporate Sharing Economy.
(O manifesto que deu início ao movimento do cooperativismo de plataforma).
- Morozov, E. (2019). Digital Socialism? New Left Review. (Um ensaio seminal que
argumenta pela necessidade de uma agenda socialista para a tecnologia).
- Nível Avançado:
- Vários Autores. (2022). The ABC of Digital Socialist Planning. (Uma coletânea de
ensaios que exploram em detalhes como um planejamento econômico socialista poderia funcionar na
era digital).
- Rahman, K. S. (2022). Democratizing the Corporation: The Case for Corporate Suffrage.
(Um livro que, embora não focado em tecnologia, oferece propostas radicais para a democratização
da economia).
---
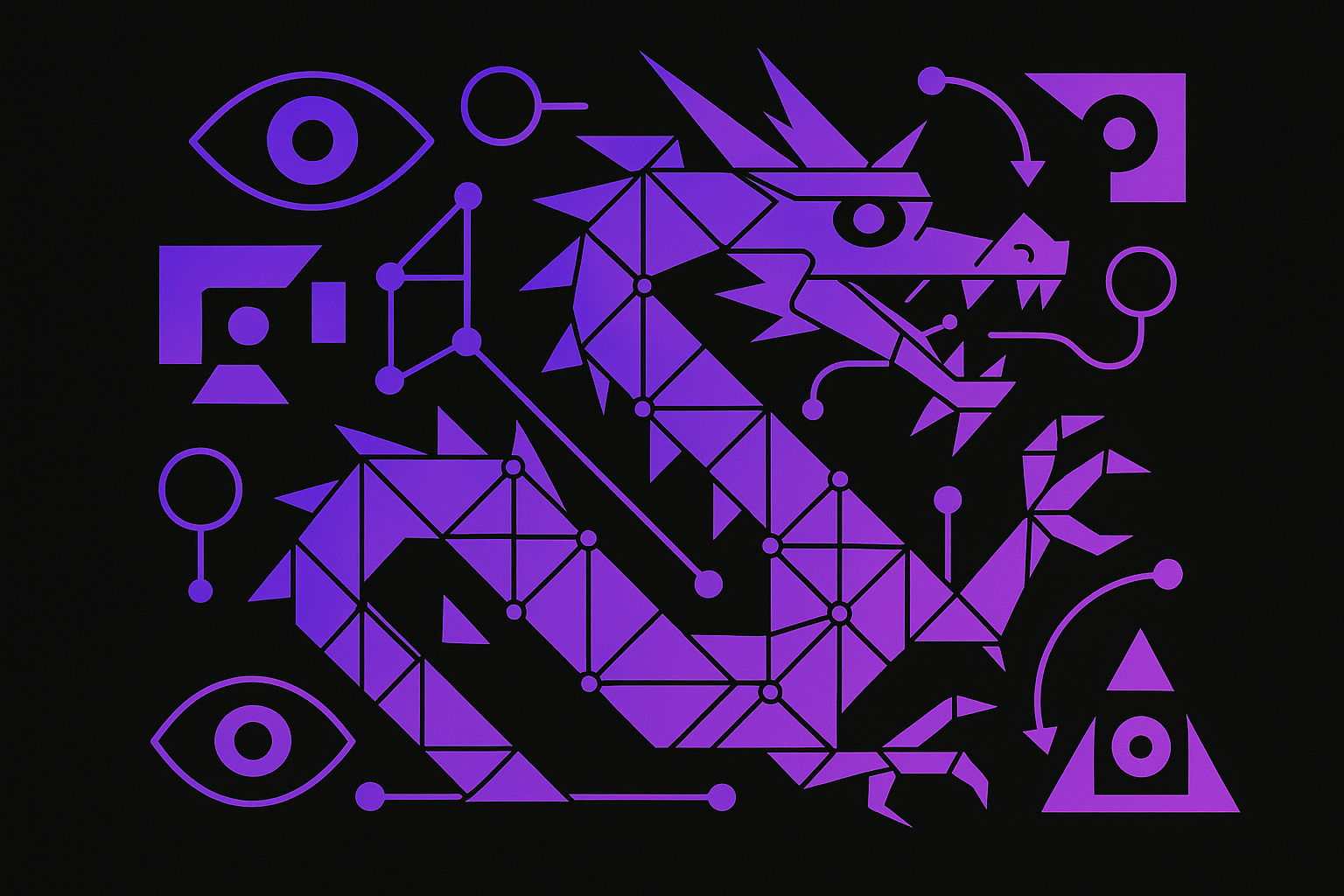
Capítulo 25
Capítulo 25: O Dragão Cibernético: China e a Explosão Informacional da Cibernética de Segunda
Ordem
Introdução: A Alegoria dos Cavaleiros e das Bestas
Imagine uma paisagem paradoxal: milhões de pessoas montadas confortavelmente em criaturas
poderosas — dragões tecnológicos que as transportam a velocidades vertiginosas através de um
território em constante transformação. Os cavaleiros, a população chinesa, experimentam uma
jornada de mobilidade sem precedentes: cidades erguidas em meses, redes sociais onipresentes,
pagamentos digitais universais, entregas instantâneas. No entanto, as rédeas dessas bestas não
estão nas mãos dos cavaleiros, mas nas de um pequeno grupo de domadores — os bilionários da
tecnologia e o Partido-Estado — que controlam os movimentos das criaturas com uma precisão
cirúrgica, manipulando não apenas o espaço, mas o próprio espaço-tempo dos
cavaleiros.
Esta metáfora captura a singularidade do modelo chinês de capitalismo digital: uma combinação
única de desenvolvimento acelerado, conforto material
crescente e controle absoluto. O que torna este modelo fascinante
do ponto de vista cibernético não é apenas sua eficiência em gerar crescimento ou em exercer
vigilância, mas a forma como ele opera através da cibernética de segunda ordem
— sistemas que observam a si mesmos, que constroem modelos de seus próprios observadores, que
controlam o próprio controle. Neste capítulo, exploraremos como a China se tornou o laboratório
global dessa forma superior de controle cibernético e quais são suas implicações para o futuro
do capitalismo e da luta anticapitalista.
25.1 Socialismo de Mercado ou Capitalismo de Estado 2.0?
Para compreender o modelo chinês, é preciso primeiro desfazer um mito: a China não é uma
sociedade "comunista" no sentido marxista clássico. Desde as reformas de Deng Xiaoping nos anos
1980, o país adotou um modelo que o governo chama de "socialismo de mercado com
características chinesas". Na prática, trata-se de uma forma particular de
capitalismo de Estado, onde o Partido Comunista Chinês (PCCh) mantém o controle
político absoluto enquanto permite — e até incentiva — a acumulação privada de capital.
O que distingue a China do neoliberalismo ocidental não é a ausência do mercado, mas a
subordinação estratégica do mercado ao Estado. As grandes empresas de
tecnologia chinesas — Alibaba, Tencent, Baidu, ByteDance — operam em um espaço de extrema
ambiguidade. Elas são empresas privadas, listadas em bolsas de valores, que enriquecem seus
fundadores e acionistas. Mas, ao mesmo tempo, estão em uma relação de
simbiose-subordinação com o Estado. O PCCh tem assento nos conselhos dessas
empresas, acesso irrestrito a seus dados, e o poder de intervir a qualquer momento — como ficou
evidente quando o bilionário Jack Ma foi "reeducado" após criticar reguladores financeiros em
2020, e sua empresa, a Ant Group, foi impedida de fazer o maior IPO da história.
🐉
Jack Ma e os Limites do Poder Bilionário
Jack
Ma (1964-) é o fundador do Alibaba, o maior conglomerado de e-commerce do
mundo. Em outubro de 2020, Ma fez um discurso criticando o sistema regulatório chinês,
dizendo que o país estava preso a uma "mentalidade de penhorista" e precisava de mais
inovação financeira. Dias depois, o governo chinês cancelou o IPO da Ant Group (braço
financeiro do Alibaba), que seria a maior oferta pública inicial da história, avaliada
em US$ 37 bilhões. Ma desapareceu da vida pública por meses, sendo supostamente
"reeducado" por autoridades do Partido. Quando reapareceu, estava visivelmente mais
magro e cauteloso. O caso ilustra a diferença fundamental entre o capitalismo chinês e o
ocidental: na China, o capital, por mais poderoso que seja, está
subordinado ao Estado. Bilionários chineses não são soberanos; são
vassalos de alta patente que só mantêm seu poder enquanto servem aos objetivos
estratégicos do PCCh. Esta relação inverte a dinâmica do neoliberalismo ocidental, onde
o Estado serve ao capital. É uma forma de capitalismo autoritário, e
seu sucesso em gerar crescimento sem democracia liberal tem atraído imitadores ao redor
do mundo.
Essa configuração cria uma dinâmica singular: os bilionários chineses não são
soberanos, como no Ocidente neoliberal, mas vassalos de alto
escalão. Eles acumulam riqueza e poder, mas sempre sob a supervisão do Partido. O
capital existe, mas é mantido em uma coleira curta. Esta é a primeira camada do controle
cibernético chinês: o Estado como metacontrolador, que não apenas regula o
mercado, mas controla os próprios controladores.
25.2 O Ultra-Controle do Espaço-Tempo: Crédito Social e Vigilância Total
A segunda dimensão do modelo chinês, e talvez a mais comentada no Ocidente, é seu sistema de
vigilância total. A China construiu a infraestrutura de monitoramento mais
sofisticada da história humana: mais de 600 milhões de câmeras de vigilância equipadas com
reconhecimento facial, integradas a um sistema de crédito social que pontua o
comportamento dos cidadãos em tempo real.
O sistema funciona assim: cada cidadão tem uma pontuação que aumenta ou diminui com base em suas
ações. Pagar impostos em dia, fazer trabalho voluntário, ou cuidar de pais idosos aumenta a
pontuação. Atravessar a rua fora da faixa, jogar lixo no chão, ou criticar o governo diminui.
Uma pontuação baixa pode resultar em punições automatizadas: proibição de
comprar passagens de trem ou avião, impossibilidade de obter empréstimos, filhos impedidos de
entrar em escolas de elite, até mesmo o rosto da pessoa exibido em telas públicas como "cidadão
desonesto".
O que torna este sistema fascinante (e aterrorizante) do ponto de vista cibernético é que ele não
é apenas um mecanismo de vigilância (observação passiva), mas de
controle preditivo e pré-emptivo. O sistema não espera que você cometa um crime
para puni-lo; ele modela seu comportamento futuro e intervém antes que o desvio
aconteça. É o que Deleuze chamou de sociedade de controle levado ao extremo:
não punir após a transgressão, mas tornar a transgressão impossível através da modulação
contínua do comportamento.
🔍
O Espaço-Tempo Ultra-Controlado
O conceito de ultra-controle do espaço-tempo refere-se à capacidade do
Estado chinês, mediado por plataformas digitais, de comprimir e dilatar a experiência
temporal e espacial dos cidadãos de forma diferenciada. Um cidadão com alta pontuação no
crédito social experimenta um espaço-tempo acelerado: ele atravessa aeroportos
sem filas, obtém aprovação instantânea de empréstimos, acessa serviços premium. Um
cidadão com baixa pontuação experimenta um espaço-tempo comprimido e
restringido: ele não pode viajar, espera mais em filas, é excluído de
oportunidades. O Estado, assim, não apenas observa o espaço-tempo, mas o
esculpe de forma individualizada, criando bolhas temporais distintas
para diferentes classes de cidadãos. Esta é uma forma de controle muito mais sofisticada
do que a prisão ou a censura tradicional: é a gestão algorítmica da própria experiência
da realidade.
25.3 A Explosão Informacional: Cibernética de Segunda Ordem e Hiperrealidade
Aqui chegamos ao núcleo teórico deste capítulo. O sistema chinês não é apenas uma aplicação da
cibernética de primeira ordem (observar e controlar um sistema de fora). Ele
opera através da cibernética de segunda ordem: a observação da observação, o
controle do controle, a construção de modelos que incluem o próprio observador como parte do
sistema.
A cibernética de segunda ordem, como vimos no Capítulo 1, surge quando um sistema se torna
auto-reflexivo — quando ele não apenas responde ao ambiente, mas modela suas
próprias respostas, observa-se observando, controla-se controlando. No caso chinês, isso se
manifesta de três formas interligadas:
25.3.1 A Plataforma como Espelho Total
As superplataformas chinesas — WeChat, Alipay, Douyin (TikTok chinês) — não são apenas
ferramentas de comunicação ou pagamento. Elas são ambientes totais onde a vida
inteira acontece. No WeChat, você conversa, paga contas, agenda consultas médicas, faz
investimentos, acessa serviços governamentais, tudo no mesmo aplicativo. Isso significa que a
plataforma tem um modelo completo de você: não apenas o que você diz ou compra,
mas a totalidade de suas relações sociais, suas rotinas, suas finanças, suas preocupações de
saúde, suas preferências políticas.
Mas o crucial é que a plataforma não apenas observa você; ela modela você modelando a si
mesmo. Ao saber que você está sendo observado, você modifica seu comportamento. Ao
modificar seu comportamento, você gera novos dados. Ao gerar novos dados, a plataforma refina
seu modelo. É um loop recursivo, um espelho que reflete não o que você é, mas o que você se
torna ao ser refletido. Esta é a cibernética de segunda ordem em ação: o
sistema inclui a consciência do observado de que está sendo observado como parte do próprio
mecanismo de controle.
25.3.2 O Sujeito Pré-emptivo: Internalização do Controle
O efeito psicológico deste sistema é a criação do sujeito pré-emptivo: um
indivíduo que não precisa ser vigiado constantemente porque já internalizou o olhar do
Estado-plataforma. O cidadão chinês não atravessa a rua fora da faixa não apenas por medo de ser
filmado, mas porque ele se tornou seu próprio vigia. O panóptico de Foucault
foi interiorizado; o guarda da torre não precisa mais existir materialmente, pois cada indivíduo
carrega a torre dentro de si, na forma de um aplicativo que pontua seu comportamento.
Esta é a forma mais eficiente de controle possível: não a coerção externa, mas a
auto-coerção. O poder não é mais algo que vem de fora, mas algo que atravessa e
constitui o próprio sujeito. Nas palavras de Foucault, o indivíduo se torna "o princípio de sua
própria sujeição". Mas a versão chinesa vai além de Foucault, porque o controle não é mais
disciplinar (baseado em instituições como a escola ou a prisão), mas modulatório e
algorítmico, operando em tempo real e de forma personalizada.
25.3.3 A Explosão Informacional: Feedback Positivo e Colapso da Representação
A terceira dimensão, e a mais paradoxal, é o que chamamos de explosão
informacional. Quando um sistema cibernético de segunda ordem atinge um certo nível
de complexidade, ele entra em um regime de feedback positivo descontrolado. O
sistema não apenas se estabiliza (feedback negativo), mas se amplifica (feedback
positivo): mais vigilância gera mais dados, que permitem mais vigilância, que gera mais dados,
em uma espiral ascendente.
No contexto chinês, isso se manifesta como uma hiperinflação de informação. O
Estado e as plataformas produzem, coletam e processam quantidades de dados que excedem qualquer
capacidade humana de compreensão. O sistema se torna tão complexo que ele próprio não consegue
mais se representar de forma coerente. Surgem contradições algorítmicas, decisões automatizadas
incompreensíveis, efeitos emergentes não-intencionais. A cidade inteligente chinesa, com seus
milhões de sensores, já não pode ser "lida" por nenhum planejador central; ela se torna uma
caixa-preta até para seus criadores.
Este é o ponto de ruptura teórica: quando a cibernética de segunda ordem atinge a
saturação informacional, ela deixa de ser um instrumento de controle racional e
se torna um oráculo opaco. O Estado-plataforma chinês não "conhece" mais seus
cidadãos de forma transparente; ele os sonha através de algoritmos que ninguém
compreende inteiramente. A promessa de controle total se revela como ilusória. O que existe, na
verdade, é uma nova forma de hiperrealidade (Baudrillard): um mapa tão
detalhado que se confunde com o território, uma simulação que precede e substitui o real.
|
Dimensão |
Capitalismo de Vigilância Ocidental |
Capitalismo de Estado Chinês |
|
Relação Estado-Capital |
Capital captura o Estado (lobbying, financiamento de campanhas) |
Estado subordina o Capital (intervenção direta, reeducação de bilionários) |
|
Objetivo da Vigilância |
Maximização do lucro através de publicidade direcionada |
Estabilidade política e controle social total |
|
Modelo de Plataforma |
Múltiplas plataformas especializadas (Facebook, Google, Amazon) |
Superplataformas totalizantes (WeChat como app único) |
|
Estratégia de Controle |
Manipulação de desejos (engenharia de persuasão) |
Modulação de comportamentos (sistema de crédito social) |
|
Infraestrutura |
Vigilância difusa (celulares, cookies, redes sociais) |
Vigilância integrada (600M câmeras + reconhecimento facial) |
|
Ideologia Legitimadora |
"Liberdade individual", "inovação disruptiva" |
"Harmonia social", "sonho chinês", "civilização 5.0" |
|
Experiência Subjetiva |
Ilusão de autonomia + dependência invisível |
Conveniência material + auto-censura consciente |
|
Nível Cibernético |
Primeira ordem (controle externo opaco) |
Segunda ordem (auto-reflexão forçada) |
|
Resultado Emergente |
Polarização, desinformação, colapso epistêmico |
Conformismo, estabilidade autoritária, explosão informacional |
| Contradição Central |
Democracia formal + oligarquia digital real |
Partido "comunista" + desigualdade capitalista extrema
|
Tabela: Comparação dos modelos de capitalismo digital: Ocidente vs. China.
Dois caminhos distintos para a subsunção cibernética da vida.
25.4 A Exportação do Modelo: A Nova Rota da Seda Digital
O modelo chinês não permanece confinado às fronteiras da China. Através da Iniciativa do
Cinturão e Rota (Belt and Road Initiative), também conhecida como a "Nova Rota da
Seda", a China está exportando sua infraestrutura digital para dezenas de países na África, Ásia
e América Latina. Isso inclui não apenas cabos de fibra ótica e redes 5G (construídas pela
Huawei), mas também sistemas de "cidades inteligentes", câmeras de vigilância e plataformas de
e-government baseadas no modelo chinês.
Países como Equador, Venezuela, Zimbábue e Paquistão já adotaram, em graus variados, sistemas de
vigilância e controle social inspirados no modelo chinês. Para governos autoritários ou
semi-autoritários, o apelo é óbvio: a tecnologia chinesa oferece controle sem as exigências
"inconvenientes" de direitos humanos que acompanham a tecnologia ocidental. A China não
questiona como seus clientes usam as ferramentas; ela apenas fornece o manual de instruções.
Esta exportação representa uma bifurcação geopolítica no desenvolvimento do
capitalismo digital. Se no século XX a disputa era entre capitalismo liberal e socialismo
burocrático, no século XXI a disputa parece ser entre capitalismo de vigilância
liberal-caótico (modelo ocidental) e capitalismo de vigilância
autoritário-estável (modelo chinês). Ambos são formas de dominação; ambos são
incompatíveis com a emancipação humana. Mas suas diferenças têm consequências profundas para a
natureza da vida cotidiana e da luta política.
25.5 Resistência na Hiperrealidade: Possibilidades e Limites
A pergunta que fecha este capítulo é: qual é a possibilidade de resistência dentro de um sistema
de cibernética de segunda ordem tão totalizante? A resposta não é simples.
Por um lado, o sistema chinês parece oferecer menos pontos de fratura do que o
modelo ocidental. Não há um ecossistema de plataformas concorrentes que possa ser jogado um
contra o outro. Não há uma separação clara entre Estado e capital que permita jogar um contra o
outro. Não há uma cultura liberal de "liberdade de expressão" que possa ser invocada
retoricamente. O sistema é monolítico em um grau que o Ocidente neoliberal, com
todas as suas contradições, não é.
Por outro lado, precisamente porque o sistema é tão complexo e auto-referencial, ele gera
opacidades e pontos cegos que podem ser explorados. A explosão
informacional significa que o Estado não pode mais processar toda a informação que coleta.
Surgem brechas, zonas cinzas, espaços de indeterminação. As VPNs (redes privadas virtuais)
permitem que milhões de chineses acessem a internet global através do "Grande Firewall". As
greves e protestos de trabalhadores, embora reprimidos, continuam acontecendo com frequência
surpreendente. A própria eficiência do sistema cria expectativas de mobilidade e conforto que,
quando não atendidas, geram frustração.
⚠️
Lição para a Esquerda Global
O modelo chinês não é socialismo. É capitalismo autoritário com uma
fachada vermelha. A esquerda global não deve cair na armadilha de defender a China
apenas porque ela se opõe aos EUA. A verdadeira luta não é entre impérios (EUA vs.
China), mas entre todas as formas de dominação (capitalismo liberal ou
autoritário) e a emancipação humana. Precisamos de uma terceira
posição: nem o caos oligárquico do Vale do Silício, nem o controle totalitário do
Partido-Estado chinês, mas uma tecnologia democrática, baseada no
comum, controlada por trabalhadores e cidadãos organizados. O cooperativismo de
plataforma, o software livre, as redes comunitárias — essas são as alternativas reais. A
China nos ensina uma lição importante: eficiência econômica e controle social podem
coexistir sem democracia. Mas nos cabe mostrar que não queremos eficiência a
qualquer custo. Queremos autonomia, pluralidade e liberdade.
Conclusão: Escolhendo as Rédeas da Besta
Voltemos à alegoria inicial. Os cavaleiros chineses estão montados em dragões tecnológicos que os
levam a lugares inimagináveis. Mas as rédeas não estão em suas mãos. A questão que este capítulo
coloca não é se devemos "desmontar" da besta — o desenvolvimento tecnológico é irreversível —,
mas quem deve controlar as rédeas.
O modelo chinês nos mostra uma possibilidade: o controle centralizado nas mãos de uma aliança
entre o Partido e os bilionários. É um modelo que funciona, no sentido estreito de gerar
crescimento e estabilidade. Mas é um modelo que sacrifica a liberdade, a pluralidade e a
autonomia. É uma jaula confortável, mas ainda assim uma jaula.
A cibernética de segunda ordem, ao revelar a auto-referência e a complexidade dos sistemas
sociotécnicos, nos ensina que o controle total é uma ilusão. Até mesmo o sistema chinês, com
toda sua sofisticação, não consegue eliminar completamente a imprevisibilidade, a criatividade e
a resistência humanas. A explosão informacional que ele gera é, ao mesmo tempo, sua arma e sua
fraqueza.
O desafio para a esquerda anticapitalista é imaginar e construir uma cibernética de
terceira ordem — uma tecnologia que não apenas observa a si mesma, mas que se abre
à autogestão coletiva, que incorpora a participação democrática em seu próprio
design. Não queremos que as rédeas estejam nas mãos de bilionários, nem nas mãos de um Partido.
Queremos que as rédeas sejam distribuídas, que cada cavaleiro tenha sua parte
do controle, que a direção seja decidida em comum. Esta é a promessa não cumprida do Cybersyn, e
o horizonte para o qual devemos caminhar.
---
🔑 Mini-Glossário do Capítulo
- Capitalismo de Estado: Sistema econômico onde o Estado desempenha o papel
central na economia, controlando os meios de produção ou subordinando o capital privado a
objetivos políticos definidos centralmente.
- Cibernética de Segunda Ordem: Paradigma cibernético que inclui o observador
como parte do sistema observado, focando em auto-referência, reflexividade e a observação da
observação.
- Crédito Social: Sistema de pontuação comportamental usado na China que
monitora e avalia as ações dos cidadãos, influenciando seu acesso a serviços, empregos e
direitos.
- Explosão Informacional: Fenômeno onde a quantidade de informação gerada por um
sistema excede a capacidade de processamento, levando a saturação, contradições e efeitos
emergentes não-intencionais.
- Feedback Positivo: Loop de retroalimentação que amplifica mudanças em um
sistema, levando ao crescimento exponencial ou colapso (oposto ao feedback negativo, que
estabiliza).
- Hiperrealidade: Conceito de Baudrillard onde a simulação ou representação
precede e substitui o real, tornando impossível distinguir entre o mapa e o território.
- Metacontrolador: Entidade que controla os controladores; no caso chinês, o
Estado-Partido que supervisiona e intervém nas ações das grandes empresas de tecnologia.
- Socialismo de Mercado: Modelo econômico que combina elementos de planejamento
central socialista com mecanismos de mercado; na China, é usado como termo oficial para
descrever o sistema atual.
- Sujeito Pré-emptivo: Indivíduo que internaliza os mecanismos de vigilância e
controle, modificando seu comportamento antecipadamente para evitar punições futuras.
- Ultra-Controle do Espaço-Tempo: Capacidade de manipular de forma diferenciada
a experiência temporal e espacial de indivíduos através de tecnologias digitais, acelerando ou
restringindo seu acesso a mobilidade e oportunidades.
💭 Exercícios de Reflexão e Análise
1. Análise Comparativa: Compare o sistema de crédito social chinês com os
sistemas de pontuação de crédito financeiro usados no Ocidente (como o credit score nos EUA).
Quais são as diferenças e semelhanças? Ambos são formas de controle social? Justifique sua
resposta.
2. Reflexão sobre Liberdade e Eficiência: O modelo chinês tem sido eficaz em
reduzir a pobreza extrema e construir infraestrutura rapidamente. Isso justifica a ausência de
democracia liberal? É possível ter eficiência econômica e liberdade política ao mesmo tempo?
Discuta a partir das perspectivas apresentadas no livro.
3. Pesquisa sobre Expansão Digital: Investigue um caso de exportação de
tecnologia chinesa através da Iniciativa do Cinturão e Rota. Escolha um país (por exemplo:
Zimbábue, Equador ou Sri Lanka) e analise: que tecnologias foram implementadas? Como elas
impactaram a vida dos cidadãos? Houve resistência ou questionamentos?
4. Debate: Três Modelos de Futuro Digital: Organize um debate comparando três
visões de futuro digital: (a) capitalismo de vigilância ocidental (Google/Facebook), (b)
capitalismo de Estado chinês (WeChat/crédito social), e (c) cooperativismo de plataforma e
tecnologia democrática. Qual é mais desejável? Qual é mais provável? São compatíveis com a
emancipação humana?
5. Exercício de Imaginação Política: Se você fosse projetar um sistema de
"cidade inteligente" que fosse genuinamente democrático e emancipatório (não apenas eficiente ou
controlador), quais seriam suas características? Como garantir transparência sem vigilância?
Como usar dados para o bem comum sem criar perfis invasivos?
🔗 Conexões com Outros Capítulos
🐉 China como Terceira Via: Comparação com Modelos Ocidental e Cybersyn
3 modelos de capitalismo/socialismo cibernético:
- Ocidental (Cap 3, 12):
Capitalismo de vigilância privado. Big Techs autônomas extraem dados, Estado
regulador fraco. Lucro via engajamento/vício.
- Chinês (Cap 25): Capitalismo de Estado autoritário. Estado
subordina Big Techs (Jack Ma "reeducado"), crédito social total. Lucro +
controle político fundidos.
- Cybersyn (Cap
18): Socialismo cibernético democrático (Chile 1971-73).
Estado coordena via VSM, autonomia trabalhadores, sem mercado. Destruído por
golpe.
Questão estratégica de Cap 20
(Geopolítica): China oferece alternativa ao neoliberalismo ocidental?
Sim em eficiência/soberania, mas não em emancipação. É alternativa
ao capitalismo ou apenas outra forma de capitalismo?
⚙️ Cibernética de 2ª Ordem como Controle Total (síntese com Cap 23)
Aqui Cap 23
(Dupla Face)
fica visceral: China mostra que cibernética de 2ª ordem (reflexividade,
auto-observação) pode servir tanto controle quanto liberação. Mesma
teoria, aplicações opostas.
Face de CONTROLE exposta ao máximo:
- Crédito social: Sistema modela você + modela você sabendo que
está sendo modelado = controle recursivo. Você internaliza vigilância (sujeito
pré-emptivo).
- WeChat como ambiente total: Não apenas observa comportamento,
mas cria comportamento através da observação. Loop de 2ª ordem usado
para controle preditivo.
- Ultra-controle espaço-tempo: Estado esculpe experiência de
realidade diferenciada — alta pontuação = tempo acelerado, baixa = tempo
comprimido. Não apenas vigia, mas administra possibilidade.
Conexão com Cap
10 (Sujeito
Automático): Na China, Valor se valorizando + Estado autoritário =
Sujeito Automático com rosto. PCCh é metacontrolador que direciona
acumulação, mas não escapa da lógica do capital (crescimento infinito,
extrativismo).
🌍 China e Periferia: Novo Colonialismo ou Alternativa? (conexão Caps 20-21)
Dilema do Sul Global: Cap 21 mostrou Brasil
refém de EUA/Big Techs. China oferece infraestrutura sem condicionalidades políticas
do FMI. Mas...
Iniciativa Cinturão e Rota (BRI) — colonialismo 2.0?:
- Armadilha da dívida: Sri Lanka entregou porto de Hambantota à
China por 99 anos após calote em empréstimo para construí-lo. Quênia pagou 80%
orçamento nacional em dívidas chinesas (2019).
- Exportação de vigilância: Zimbábue, Equador, Malásia compraram
sistema de reconhecimento facial chinês. Venezuela usa ZTE para crédito social
"Carnet de la Patria".
- Dependência tecnológica trocada: Brasil substituir AWS por
Huawei não rompe dependência — apenas troca senhor colonial. Cap 20 (BRICS Pay)
mostra caminho mais horizontal.
China não é imperialismo tradicional (não invade militarmente), mas cria
dependência estrutural via infraestrutura digital/física.
💡 Lições para Políticas Brasileiras (ponte para Cap 24)
O que aprender (e NÃO copiar) da China:
✅ Aprender:
- Soberania tecnológica é possível: China construiu alternativas
a Google/Facebook/PayPal (Baidu, WeChat, Alipay). Brasil pode fazer o mesmo (Cap
24 mostra como).
- Estado pode subordinar Big Techs: Jack Ma provando que
bilionários não são intocáveis. Brasil pode regular plataformas duramente (CLT
para apps, auditoria de algoritmos).
- Planejamento estratégico funciona: Made in China 2025 investiu
massivo em IA/semicondutores. Brasil precisa plano industrial digital (BNDES
startups nacionais).
❌ NÃO copiar:
- Crédito social = necropolítica digital: Sistema chinês é Cap
22 (necropolítica) em escala nacional. Brasil já tem fascismo de tela
(Cap
21 — Gabinete do Ódio) — não precisa piorar.
- Vigilância total incompatível com emancipação: Cap
19 (cooperativas) e Cap 24 (políticas)
mostram que eficiência não exige controle autoritário. Modelo Cybersyn prova
democracia + tecnologia é possível.
🐉 China não é solução, é dilema: Provou que soberania tecnológica é
possível (romper com EUA/Big Techs), mas ao custo de controle total. Falsa
escolha: EUA/vigilância privada vs China/vigilância estatal.
Terceira via: Cooperativas digitais (Cap 19) + Cybersyn
democrático (Cap
18) + políticas Sul Global (Cap 24). Eficiência sem
autoritarismo é possível — só precisa de vontade política.
📚 Leituras Complementares
- Nível Iniciante:
- Chin, J., & Wong, G. (2022). China's New Red Guards: The Return of Radicalism and the
Rebirth of Mao Zedong. Oxford University Press. (Contextualização histórica e política
do modelo chinês contemporâneo).
- Keane, J. (2020). "The New Despotism: China's Social Credit System", The
Conversation. (Artigo acessível sobre crédito social e vigilância).
- Nível Intermediário:
- Lin, L.-W., & Milhaupt, C. J. (2020). "Digital Leninism: Technology and the State in China",
Yale Law School Journal. (Análise da relação entre tecnologia, Estado e capital na
China).
- Sautman, B., & Yan, H. (2021). The China Model and Global Capitalism. Routledge.
(Visão crítica e equilibrada do modelo econômico chinês).
- Roberts, M. E. (2018). Censored: Distraction and Diversion Inside China's Great
Firewall. Princeton University Press. (Estudo etnográfico da censura e controle de
informação na China).
- Nível Avançado:
- Hoffman, S. (2018). "Managing the State: Social Credit, Surveillance and the CCP's Plan for
China", China Brief, Vol. 17, No. 11. (Análise técnica e política do sistema de crédito
social).
- Qiu, J. L. (2016). Goodbye iSlave: A Manifesto for Digital Abolition. University of
Illinois Press. (Crítica marxista radical da produção digital na China, incluindo as condições
de trabalho na Foxconn).
- von Foerster, H. (2003). Understanding Understanding: Essays on Cybernetics and
Cognition. Springer. (Texto fundamental sobre cibernética de segunda ordem, essencial
para compreender as bases teóricas deste capítulo).
- Morozov, E. (2021). "Critique of Techno-Feudal Reason", New Left Review, 133/134.
(Análise comparativa dos modelos ocidental e chinês de capitalismo digital).
- Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism. PublicAffairs. (Embora focado
no modelo ocidental, permite comparação crítica com o modelo chinês).
---
Parte VII: Cosmotécnicas Plurais — Epistemologias Indígenas, Orientais e
Decoloniais
📍 Você está aqui
Partes
I-VI ✓
→
Parte
VII
→
Parte VIII
Progresso: ~90% do livro |
Tempo estimado: 2 horas para Parte VII
🎯 O que você vai
aprender nesta Parte
- Cap 26: Nhandereko Guarani (cosmotécnica indígena brasileira)
- Cap 27: Epistemologias Orientais (Taoísmo, Qi, harmonia vs controle)
- Cap 28: SÍNTESE FINAL - Ubuntu, Sumak Kawsay, futuros plurais
🌍 Expansão epistêmica
radical
Esta Parte questiona o próprio projeto da
modernidade ocidental. E se a "cibernética emancipatória" já existe em cosmotécnicas
não-ocidentais que nunca aceitaram a lógica do controle total? O livro termina
abrindo portas, não fechando respostas.
Para Além da Modernidade
Ocidental: Até este ponto, mesmo nossas alternativas mais radicais — do Cybersyn ao
cooperativismo de plataforma, da Crítica do Valor à proposta de planejamento cibernético —
operavam dentro do horizonte epistemológico da modernidade ocidental. Todas partiam dos mesmos
pressupostos fundamentais: a separação entre natureza e cultura, a centralidade do trabalho
produtivo, a lógica do desenvolvimento linear, o humano como medida de todas as coisas.
Mas a maioria da
humanidade nunca foi plenamente moderna. Povos indígenas, tradições orientais
milenares, cosmologias africanas — essas epistemologias não são "resíduos do passado", mas
cosmotécnicas vivas que sempre ofereceram alternativas radicais à lógica
extrativista do capital. Esta Parte VII não é um apêndice multicultural, mas a expansão
necessária do horizonte de possibilidades. Se queremos tecnologias verdadeiramente
emancipatórias, precisamos aprender com aqueles que nunca aceitaram a mercantilização total do
mundo.

Capítulo 26
Capítulo 26: Nhandereko — O Modo de Ser Guarani como Alternativa ao Extrativismo Digital
🔄 Expansão Epistêmica: Para Além do Ocidente
Salto final: Completamos a Parte VI
(propostas desde dentro da matriz ocidental). Agora entramos na Parte VII
(Caps 26-28) — o horizonte mais radical do livro.
🌍 De onde viemos (Caps 1-25)
- Caps 1-22: Trabalhamos dentro da tradição crítica
ocidental (Marx, cibernética, teoria crítica, pós-operaísmo)
- Cap 23: Síntese da dupla face da cibernética (controle vs
libertação)
- Cap 24: Propostas concretas para o Brasil (descomoditizar,
descentralizar, democratizar)
- Cap 25: Análise crítica do modelo chinês (capitalismo de Estado
vigilante, não alternativa real)
- Limite da Parte VI: Todas as alternativas ainda pensam "desde
dentro" da epistemologia moderna/ocidental
🌏 Agora (Caps 26-28): Vamos além.
E se existirem cosmotécnicas completamente diferentes? Povos que nunca separaram
natureza/cultura, que nunca aceitaram a acumulação infinita? Guaranis (Cap 26),
epistemologias orientais (Cap 27), síntese pluriversal (Cap 28). Esta parte questiona as
próprias bases do pensamento ocidental.
Atenção: Esta é a parte mais experimentalmente epistêmica do livro. Exige
abertura para pensar radicalmente diferente. Mas também é a mais esperançosa —
mostra que outros mundos não apenas são possíveis, eles já existem.
Introdução: Outras Raízes, Outros Futuros
Ao longo deste livro, exploramos alternativas ao capitalismo digital: o planejamento cibernético
do Cybersyn chileno, o cooperativismo de plataforma, as propostas de tecnologia democrática, e
até mesmo analisamos criticamente o modelo chinês de capitalismo de Estado. Todas essas
alternativas, por mais radicais que sejam, compartilham uma característica comum: nasceram
dentro — ou em resposta a — da matriz epistemológica da modernidade capitalista ocidental. Mesmo
as críticas mais profundas — Marx, a Escola de Frankfurt, o pós-operaísmo — permanecem, em
última instância, tributárias dessa tradição.
Mas e se existirem outras raízes para pensar a tecnologia, a comunidade e a
relação com o mundo? E se, em diferentes territórios do planeta, existirem povos e tradições que
desenvolveram cosmologias radicalmente diferentes da lógica capitalista-colonial? Povos que
nunca separaram natureza de cultura, que nunca transformaram tudo em mercadoria, que nunca
aceitaram a lógica da acumulação infinita?
A história não contada da modernidade é que a maioria da humanidade nunca foi plenamente
moderna. Enquanto a Europa expandia seu projeto colonial-capitalista, bilhões de
pessoas em todos os continentes continuaram vivendo — e resistindo — segundo outras lógicas: as
filosofias orientais (Taoísmo, Budismo, tradições védicas), as cosmologias africanas, as
epistemologias dos povos originários das Américas, da Oceania, do Ártico. Essas tradições não
são "pré-modernas" ou "atrasadas" — são cosmotécnicas alternativas, igualmente
sofisticadas, que oferecem caminhos radicalmente diferentes para organizar a vida coletiva e a
relação com o mundo.
Este capítulo é uma tentativa de ouvir uma dessas outras vozes — não a única,
mas uma entre muitas. Mais especificamente, é uma tentativa de aprender com o
Nhandereko — o "modo de ser" ou "modo de viver" dos povos Guarani. Escolhemos
começar pelos Guarani não porque sejam "mais importantes" que outras tradições, mas porque:
1. Estamos no território deles — Este livro é escrito em português, no Brasil,
em terras que foram e são Guarani. É uma questão de reconhecimento e respeito começar pelas
epistemologias do território que habitamos.
2. Eles resistem há 500 anos — Os Guarani enfrentaram diretamente o colonialismo
europeu desde 1500 e nunca se renderam completamente. Sua resistência tem muito a nos ensinar
sobre como resistir ao extrativismo digital.
3. O Nhandereko oferece princípios transponíveis — Embora enraizado em um
contexto específico, o Nhandereko articula princípios (reciprocidade, territorialidade,
anti-acumulação, bem viver coletivo) que dialogam com outras tradições não-capitalistas ao redor
do mundo.
Mas este é apenas o começo de uma conversa muito mais ampla. Nos próximos
capítulos desta Parte VII, exploraremos também as epistemologias orientais — o Tao, o conceito
de Wu Wei, as filosofias budistas do vazio e da interdependência, as cosmotécnicas chinesas
pré-modernas — e as cosmologias africanas e afro-diaspóricas. Cada tradição oferece algo único;
juntas, revelam que o capitalismo ocidental é apenas uma forma entre muitas de
habitar o mundo, e não a mais sábia.
O Nhandereko não é folclore. É filosofia política. É
epistemologia. É tecnologia, no sentido mais profundo da
palavra: uma forma de fazer o mundo. E pode nos ensinar algo fundamental sobre como construir
redes que não sejam extrativistas, tecnologias que não sejam coloniais, e futuros que não sejam
apocalípticos. Mas é apenas uma voz em um coro muito mais amplo de sabedorias que precisamos
urgentemente reaprender a ouvir.
26.1 Nhandereko: O Que Significa "Nosso Modo de Ser"?
A palavra Nhandereko (também grafada como ñande reko) é composta de
ñande (nós, inclusivo — nós todos, incluindo você) e reko
(modo de ser, de viver, sistema de vida). Não há uma tradução exata em português, pois a palavra
abarca simultaneamente costume, lei, cultura, ética, modo de vida e cosmologia. O Nhandereko é a
totalidade da forma de existir Guarani.
Para os Guarani, o Nhandereko não é apenas um conjunto de regras sociais ou uma filosofia
abstrata. É uma prática cotidiana, enraizada em um território específico (o
Tekoa) e orientada por princípios éticos fundamentais. Vamos desdobrar alguns
desses princípios:
26.1.1 Tekoa: O Território como Condição de Existência
O Tekoa é o lugar onde se vive o Nhandereko. Não é apenas um pedaço de terra no
sentido jurídico ocidental, mas o território como a totalidade das relações que
tornam possível a vida boa. O Tekoa inclui a floresta, os rios, os animais, as plantas
medicinais, os lugares sagrados, as roças, e — crucialmente — a rede de relações sociais e
espirituais que conecta tudo isso.
Sem Tekoa, não há Nhandereko. Esta é a primeira e mais brutal lição que os Guarani nos ensinam:
não existe modo de vida sem território. Não existe comunidade sem base
material. Não existe autonomia sem espaço físico. O capitalismo, ao transformar a terra em
mercadoria, ao expulsar os indígenas de seus territórios através de séculos de violência, não
apenas roubou terras — destruiu as condições de possibilidade de formas de vida inteiras.
🔮 Antecipação — Ayvu (Palavra-Alma) e Comunicação
Cosmotécnica
Para os Guarani, palavra não é "transmissão de informação" — é ayvu (palavra-alma),
força criadora que funda mundos. Quando anciã fala no Tekoa, não "comunica
dados" — ela constrói realidade compartilhada, tece relações, torna
presente o divino. Comunicação é ontológica, não instrumental.
💡 Conexão ao Capítulo
29: O Cap
29 mostra como arquitetura de comunicação constrói realidade — mas desde
epistemologia ocidental (Shannon, algoritmos). Nhandereko oferece cosmotécnica
alternativa de comunicação: ayvu não é código binário, é palavra-ato que cria
mundo. Cap 29 pede: "e se entendêssemos comunicação digital não como 'transmissão neutra'
mas como construção ativa de mundo, como Guaranis sempre souberam?"
Descolonizar tecnologia = aprender que comunicação não informa, ela funda.
🌳
Tekoa no Século XXI
Hoje, os povos Guarani estão espalhados por um vasto território que vai do sul do Brasil
ao Paraguai, Bolívia e Argentina. Mas a maioria vive em pequenas áreas, muitas vezes à
beira de rodovias, expulsos de suas terras tradicionais pelo agronegócio. A luta pela
demarcação de terras indígenas não é apenas uma questão de justiça
histórica — é a luta pela própria possibilidade do Nhandereko continuar existindo.
Quando lemos sobre conflitos fundiários envolvendo indígenas, não estamos lendo sobre
"disputas de propriedade" no sentido capitalista. Estamos lendo sobre a luta entre
dois modos radicalmente diferentes de habitar o mundo: um baseado na
mercadoria e na acumulação, outro baseado na reciprocidade e na vida coletiva. A
destruição dos Tekoa é um epistemicídio — a destruição não apenas de
pessoas, mas de formas de conhecer e de estar no mundo.
26.1.2 Teko Porã: O Bem Viver
Teko Porã (ou teko kavi, "vida boa") é o objetivo central do
Nhandereko. Mas o que é uma "vida boa" para os Guarani? Não é riqueza material no sentido
capitalista. Não é consumo. Não é acumulação. O Teko Porã é definido por:
- Saúde coletiva (não apenas física, mas espiritual e social)
- Autonomia alimentar (produzir o próprio alimento no Tekoa)
- Reciprocidade e generosidade (compartilhar, não acumular)
- Vida ritual e espiritual (conexão com as divindades e com os ancestrais)
- Harmonia nas relações sociais (ausência de conflitos destrutivos)
- Liberdade (não estar submetido a outros, não ser escravo ou servo)
O Teko Porã é, portanto, radicalmente incompatível com o capitalismo. Você não pode ter Teko Porã
trabalhando 12 horas por dia em uma fábrica, recebendo um salário miserável, comprando comida
envenenada no supermercado, isolado em um apartamento na periferia, sendo vigiado por
algoritmos. O Teko Porã exige tempo (para as relações sociais, para os
rituais), território (para produzir alimento), e autonomia
(para decidir coletivamente os rumos da vida).
26.1.3 Jopói: A Reciprocidade como Fundamento
Jopói é o princípio da reciprocidade, da ajuda mútua, do compartilhamento. Nas
comunidades Guarani, a acumulação individual de bens é vista com desconfiança, até como algo
moralmente problemático. Se você caçou um animal grande, você compartilha. Se você tem sementes,
você distribui. Se alguém precisa de ajuda para construir uma casa, todos ajudam.
O Jopói não é caridade ou altruísmo no sentido cristão. É a estrutura básica da economia Guarani.
É a anti-propriedade privada. O antropólogo Pierre Clastres, estudando povos
indígenas das terras baixas sul-americanas, identificou neles uma "sociedade contra o
Estado" — sociedades que desenvolveram ativamente mecanismos para impedir a
concentração de poder e a formação de hierarquias permanentes. Uma dessas ferramentas é
justamente a reciprocidade obrigatória: um chefe que acumula riqueza perde legitimidade. A
generosidade é a moeda do prestígio.
🌿
Ailton Krenak e a Crítica Indígena ao Progresso
Ailton
Krenak (1953-), líder indígena, ambientalista, filósofo e escritor Krenak,
é uma das vozes mais importantes do pensamento indígena contemporâneo no Brasil. Em sua
obra, especialmente nos livros Ideias para Adiar o Fim do Mundo (2019) e A
Vida Não é Útil (2020), Krenak oferece uma crítica devastadora à ideia
ocidental de "progresso" e "humanidade". Ele questiona: quem é esse "nós" da humanidade?
Os povos indígenas, os africanos escravizados, os pobres do Sul Global nunca foram
realmente incluídos nesse projeto humanista. A "humanidade" é uma construção colonial
que separou alguns humanos (os brancos, europeus, civilizados) de outros (os selvagens,
primitivos, animalizados). Krenak propõe que paremos de tentar salvar a "humanidade"
abstrata e comecemos a defender a pluralidade de modos de existir. Não
existe uma única forma de ser humano, um único destino civilizatório. Existem centenas
de povos, cada um com sua cosmologia, sua relação com o território, sua forma de
conhecer. O mundo não precisa de um futuro único e global; precisa de muitos
futuros, locais, diversos, cada um adequado ao seu território e à sua
gente. A crítica de Krenak à tecnologia não é ludista; é uma crítica à
cosmotécnica colonial — a ideia de que existe uma única forma correta
de se relacionar com a técnica, e que essa forma é a europeia.
26.1.4 Mborayu: Amor, Solidariedade, Coletividade
Mborayu é um conceito difícil de traduzir. Geralmente é traduzido como "amor",
mas não no sentido romântico ou familiar. É algo mais próximo de solidariedade
afetiva, amor coletivo, cuidado mútuo. O Mborayu
é o que torna possível a vida em comunidade. É o laço que une as pessoas em um Tekoa, que faz
com que as decisões sejam tomadas em conjunto, que faz com que ninguém seja abandonado.
O Mborayu é o oposto exato da lógica neoliberal do indivíduo empreendedor, competindo com todos
os outros em um mercado darwinista. É o oposto da gamificação das redes sociais, onde você
acumula seguidores como se fossem moedas. É o oposto da economia da atenção, onde cada interação
é transacional. O Mborayu é a afirmação de que não somos indivíduos isolados, mas nós
coletivos.
26.2 A Crítica Guarani ao Extrativismo: "Os Brancos Querem Tudo"
Uma das percepções mais agudas do pensamento Guarani sobre os colonizadores europeus — os
Juruá (não-indígenas) — é sua relação patológica com a acumulação. Na
cosmologia Guarani, existe uma categoria de seres perigosos chamados Anhã,
espíritos maléficos associados à ganância, ao excesso, ao desequilíbrio. E os colonizadores, com
sua fome insaciável por ouro, por terra, por trabalho escravo, foram desde o início associados a
esses seres.
Pierre Clastres, em sua obra A Sociedade Contra o Estado, argumenta que os povos
indígenas não são "sociedades sem economia" ou "sociedades de subsistência" no sentido de serem
pobres ou primitivas. Eles são sociedades da abundância, que conscientemente
rejeitam a acumulação e a produção de excedente para além do necessário. Por quê? Porque intuem
que o excedente sempre gera hierarquia. Quem controla o excedente controla a sociedade.
Os Guarani não "não sabem" acumular. Eles escolhem não acumular. Essa escolha é
uma tecnologia social tão sofisticada quanto qualquer algoritmo — uma tecnologia para prevenir a
desigualdade e a dominação. É uma tecnologia política de controle da concentração de
poder.
26.2.1 Do Extrativismo da Terra ao Extrativismo de Dados
A colonização das Américas foi, desde o início, um projeto extrativista: extrair ouro, prata,
pau-brasil, açúcar, café, borracha. O capitalismo nasceu desse extrativismo, como argumentam
autores como Jason W. Moore em Capitalism in the Web of Life. A acumulação primitiva de
capital foi, em grande medida, a pilhagem das Américas, da África, da Ásia.
O que o capitalismo digital faz é transpor essa lógica extrativista para o domínio da informação.
Agora não se extrai apenas recursos naturais, mas dados. As plataformas
colonizam nossas vidas cotidianas da mesma forma que os colonizadores europeus colonizaram
territórios — transformando tudo em recurso a ser explorado. Nossas conversas, nossos gostos,
nossos movimentos, nossas emoções — tudo vira matéria-prima para a extração de valor.
E assim como a extração de pau-brasil destruiu florestas inteiras, a extração de dados está
destruindo nossa capacidade de ter relações que não sejam mediadas e quantificadas. Assim como a
monocultura da soja transforma ecossistemas complexos em desertos verdes, a lógica das
plataformas transforma a rica diversidade da cultura humana em feeds padronizados e otimizados
para engajamento.
|
Dimensão |
Nhandereko (Modo Guarani) |
Capitalismo Digital |
|
Relação com o Território |
Tekoa como condição de existência, terra como sagrada e coletiva |
Terra como mercadoria, propriedade privada, extração de recursos |
|
Objetivo da Vida |
Teko
Porã (bem viver) — saúde coletiva, autonomia, harmonia |
Acumulação de capital, crescimento infinito, consumo |
|
Organização Econômica |
Jopói (reciprocidade), compartilhamento obrigatório, anti-acumulação |
Mercado, propriedade privada, competição, lucro |
|
Laço Social |
Mborayu (amor coletivo), solidariedade afetiva, cuidado mútuo |
Individualismo, relações transacionais, rede social gamificada |
|
Relação com a Natureza |
Continuidade entre humano e não-humano, floresta como parente |
Separação natureza/cultura, natureza como recurso a explorar |
|
Conceito de Tempo |
Circular, cíclico, ritmo da natureza, tempo qualitativo |
Linear, progresso, aceleração infinita, tempo quantificado |
|
Tecnologia |
Cosmotécnica própria, ferramenta para o Teko Porã, integrada ao ritual |
Universal, neutra, separada da ética, otimização e controle |
|
Decisões Coletivas |
Consenso, assembleias (aty), liderança não-coercitiva |
Mercado decide, tecnocracia, democracia formal esvaziada |
|
Conhecimento |
Oral, coletivo, integrado ao território, xamânico |
Escrito, privatizado (propriedade intelectual), científico-tecnocrático |
| Horizonte Utópico |
Terra Sem Males (Yvy Marã Ey) — lugar de abundância e
imortalidade |
Crescimento infinito, colonização espacial,
singularidade tecnológica |
Tabela: Nhandereko vs Capitalismo Digital — Duas cosmotécnicas radicalmente
opostas.
26.3 Cosmotécnica Guarani: Tecnologia que Não é Neutra
O filósofo sino-alemão Yuk Hui, em seu livro The Question Concerning
Technology in China, propôs o conceito de cosmotécnica — a ideia de
que diferentes culturas têm diferentes formas de se relacionar com a técnica, que a tecnologia
não é universal, mas está sempre embutida em uma cosmologia. A modernidade europeia impôs a
ideia de que existe uma única forma correta de tecnologia — a científica, racional,
universalmente aplicável. Mas isso é uma ilusão colonial.
Os Guarani têm sua própria cosmotécnica. Seus arcos e flechas não são apenas ferramentas de caça;
são objetos rituais, conectados a espíritos específicos. O cultivo da mandioca não é apenas
agricultura; é uma prática que conecta a comunidade com as divindades, com os ancestrais, com o
ciclo das estações. A construção de uma casa coletiva (opy, a casa de reza) não é
apenas engenharia; é cosmogonia — recriar o universo em miniatura.
A pergunta que o Nhandereko nos coloca é: é possível uma tecnologia digital que não seja
extrativista? É possível construir redes que respeitem o princípio do Jopói
(reciprocidade) em vez da lógica do lucro? É possível uma plataforma que promova o Mborayu (amor
coletivo) em vez da competição por atenção? É possível um algoritmo que sirva ao Teko Porã (bem
viver) em vez da acumulação de capital?
26.3.1 Princípios para uma Tecnologia Baseada no Nhandereko
Inspirados no modo de vida Guarani, podemos esboçar alguns princípios para uma tecnologia
radicalmente diferente:
1. Tecnologia Territorializada
Assim como o Nhandereko exige um Tekoa, a tecnologia deve estar enraizada em territórios
específicos, controlada por comunidades locais. Não servidores globais controlados por
corporações, mas infraestrutura comunitária: redes mesh locais, servidores
cooperativos, plataformas geridas por assembleias territoriais. A tecnologia deve servir ao
lugar, não ao mercado global.
2. Anti-Acumulação
Inspirados no Jopói, devemos criar sistemas que impeçam a acumulação — seja de
dados, de atenção, ou de poder. Isso significa: criptografia forte para proteger privacidade,
protocolos abertos e interoperáveis (para impedir monopólios), limites ao tamanho de
plataformas, e mecanismos de redistribuição automática de recursos.
3. Reciprocidade Algorítmica
Algoritmos de recomendação poderiam ser programados não para maximizar engajamento individual,
mas para fortalecer laços sociais — conectar pessoas que podem se ajudar
mutuamente, promover práticas de cuidado, circular conhecimentos úteis para a comunidade. Em vez
de bolhas de filtro que isolam, algoritmos que tecem redes de reciprocidade.
4. Desaceleração
O tempo Guarani é cíclico, não linear. A tecnologia digital nos impõe uma aceleração
insustentável. Uma tecnologia baseada no Nhandereko seria lenta por design:
limitaria notificações, desencorajaria o uso compulsivo, respeitaria os ritmos biológicos e
sociais. Não a desconexão total, mas uma conexão em outro ritmo.
5. Diversidade Cosmotécnica
Reconhecer que não existe uma única forma de tecnologia. Assim como existem múltiplos Nhandereko
(cada povo Guarani tem suas especificidades), devem existir múltiplas formas de tecnologia
digital — cada uma adequada a sua comunidade, sua cosmologia, seu território. A monocultura
tecnológica é tão destrutiva quanto a monocultura agrícola.
⚠️
Apropriação vs Aprendizado
É crucial distinguir entre aprender com o Nhandereko e
apropriar-se dele. Os conceitos aqui apresentados não são "ferramentas"
que podemos simplesmente copiar e colar em nossos projetos tecnológicos. O Nhandereko é
inseparável do Tekoa, da língua Guarani, das relações de parentesco, da cosmologia. Não
podemos ter Nhandereko sem Guarani. O que podemos fazer é: (1) Apoiar as lutas
indígenas por território, por autonomia, por direitos. (2)
Reconhecer as epistemologias indígenas como igualmente válidas à
ciência ocidental. (3) Deixar que esses conceitos nos desestabilizem,
que questionem nossas certezas sobre progresso, tecnologia, desenvolvimento. (4)
Construir alianças entre movimentos anticapitalistas urbanos e
movimentos indígenas. A luta contra o extrativismo digital e a luta contra o
extrativismo da terra são a mesma luta.
26.4 Yvy Marã Ey: A Terra Sem Males como Horizonte Utópico
Na cosmologia Guarani, existe um lugar mítico chamado Yvy Marã Ey — a Terra Sem
Males. É um lugar de abundância, onde não há fome, não há trabalho penoso, não há morte. Não é
exatamente um "paraíso" no sentido cristão (não é pós-morte, é terrestre), mas um horizonte
utópico que orienta a vida e, em certos momentos históricos, inspirou grandes migrações em busca
desse lugar.
A Terra Sem Males não é apenas mitologia. É utopia concreta — no sentido de
Ernst Bloch, um "ainda-não" que mobiliza o presente. É a afirmação de que outro mundo é
possível, e não apenas possível, mas necessário. Os Guarani nunca se resignaram à
dominação colonial. Mesmo sob cinco séculos de genocídio, escravidão, expulsão de terras, eles
continuaram resistindo, e o Yvy Marã Ey é a linguagem dessa resistência.
O que seria o Yvy Marã Ey no contexto do capitalismo digital? Seria uma rede sem
senhores. Um comum digital onde todo conhecimento, toda
ferramenta, todo dado seria compartilhado, e ninguém poderia se apropriar privadamente. Seria
uma tecnologia que não destrói o mundo, mas o regenera — datacenters movidos
por energia solar, eletrônicos feitos de materiais recicláveis, software projetado para durar
décadas, não para obsolescência programada.
Seria, sobretudo, uma tecnologia a serviço do Teko Porã — do bem viver. Uma
tecnologia que nos dá mais tempo livre para a família, para a criatividade, para o ócio, para o
ritual. Uma tecnologia que fortalece comunidades em vez de isolá-las. Uma tecnologia que nos
conecta com o território, não que nos arranca dele.
26.5 Oguatá Porã: Caminhar Bem Rumo ao Horizonte
Oguatá Porã significa "caminhar bem" — não apenas no sentido literal de andar,
mas no sentido de levar a vida de forma correta, de estar no caminho certo. Para os Guarani, a
vida é um caminho (tape), e o importante não é tanto o destino final, mas a forma como
se caminha.
Isso nos ensina algo fundamental sobre a luta política: não podemos justificar meios violentos,
autoritários ou antidemocráticos em nome de um futuro utópico. O processo
importa tanto quanto o resultado. Se queremos uma tecnologia baseada na reciprocidade e no
cuidado, precisamos praticá-los agora, nos movimentos, nas cooperativas, nas redes que
construímos.
O Oguatá Porã também nos ensina a resiliência. Os Guarani sobreviveram a cinco
séculos de genocídio porque continuaram caminhando, porque não se renderam. A Terra Sem Males
pode nunca ser alcançada plenamente, mas o ato de buscá-la, de caminhar em sua direção, já
transforma o presente.
Conclusão: O Que os Juruá Podem Aprender
Este capítulo não é uma proposta para que todos "voltem a ser indígenas" — isso seria absurdo e
impossível. Tampouco é uma idealização romântica dos povos indígenas como "ecologicamente
corretos por natureza". Os Guarani são pessoas reais, enfrentando problemas reais no século XXI
— alcoolismo, suicídio juvenil, violência doméstica, conflitos internos —, muitos deles
consequências diretas da destruição de seus Tekoa e da imposição forçada do modo de vida
capitalista.
O que este capítulo propõe é que existem outras epistemologias, outros modos de
habitar o mundo, que foram sistematicamente silenciados pela colonialidade. E que, diante do
colapso civilizatório que o capitalismo está nos conduzindo, precisamos urgentemente aprender
com essas outras vozes.
O Nhandereko não é uma receita pronta. Mas é um espelho que nos permite ver, por contraste, o
quão insano é o nosso modo de vida. Um modo de vida que transforma tudo em mercadoria, que
destrói o planeta para acumular números em contas bancárias, que nos isola em bolhas digitais
enquanto o mundo real queima.
Se há uma lição que os Juruá (nós, não-indígenas) podemos aprender com o
Nhandereko, é esta: a emancipação humana passa pela emancipação da terra. Não
pode haver Teko Porã (bem viver) sem Tekoa (território). Não pode haver tecnologia emancipatória
enquanto a infraestrutura digital for propriedade de bilionários e estiver a serviço da
acumulação. Não pode haver futuro enquanto tratarmos a natureza como recurso e outros povos como
obstáculos ao "progresso".
O Yvy Marã Ey — a Terra Sem Males — não é apenas o horizonte utópico dos Guarani. É o horizonte
de todos os que ainda acreditam que outro mundo é possível. E o Oguatá Porã — o caminhar bem — é
a prática política que nos leva até lá: passo a passo, construindo aqui e agora as relações de
reciprocidade, os laços de solidariedade, as tecnologias comunitárias que prefiguram esse outro
mundo.
A revolução cibernética não virá apenas de Marx ou de Stafford Beer, não virá apenas de hackers
em São Francisco ou de cooperativistas em Barcelona. Ela virá, também — e talvez principalmente
—, das margens, das periferias, dos territórios indígenas em resistência, dos que nunca se
resignaram à lógica da mercadoria. Ela virá dos que sempre souberam que não somos
indivíduos, mas nós. Que não somos proprietários, mas parte da
terra. Que não acumulamos, mas compartilhamos.
Nhandereko. Nosso modo de ser. Um modo ainda possível, ainda necessário, ainda
por construir coletivamente.
---
🔑 Mini-Glossário do Capítulo (Termos Guarani)
- Anhã: Espíritos maléficos associados à ganância, ao excesso e ao desequilíbrio
na cosmologia Guarani.
- Aty: Assembleia, reunião coletiva onde decisões são tomadas por consenso.
- Ayvu: Palavra-alma; o princípio vital que anima os seres.
- Jopói: Reciprocidade, ajuda mútua, compartilhamento obrigatório. Princípio
econômico fundamental do Nhandereko.
- Juruá: Não-indígena, pessoa branca. Literalmente "boca com pelos" (referência
à barba).
- Mborayu: Amor coletivo, solidariedade afetiva, cuidado mútuo. Laço social
fundamental.
- Nhandereko: "Nosso modo de ser" — a totalidade da forma de vida Guarani,
abarcando costume, lei, ética, cultura e cosmologia.
- Opy: Casa de reza, espaço sagrado central de uma comunidade Guarani.
- Oguatá Porã: "Caminhar bem" — levar a vida de forma correta, estar no caminho
certo.
- Tape: Caminho (tanto literal quanto metafórico — o caminho da vida).
- Tekoa: Território onde se vive o Nhandereko. Inclui terra, floresta, rios e
todas as relações que tornam possível a vida.
- Teko Porã / Teko Kavi: "Vida boa", "bem viver" — objetivo central do
Nhandereko, baseado em saúde coletiva, autonomia, reciprocidade e harmonia.
- Yvy Marã Ey: "Terra Sem Males" — lugar mítico de abundância e imortalidade,
horizonte utópico que orienta a vida Guarani.
💭 Exercícios de Reflexão e Ação
1. Auto-Análise Cosmotécnica: Reflita sobre sua relação pessoal com a
tecnologia. Você acumula (followers, likes, fotos, dados)? Suas interações digitais são baseadas
em reciprocidade ou em transações? Como seria aplicar o princípio do Jopói às suas redes
sociais?
2. Mapeamento do Tekoa: Identifique qual é o seu "território" — não apenas no
sentido físico, mas as redes de relações que sustentam sua vida. Quem produz seu alimento? De
onde vem sua energia? Quem cuida de você quando está doente? Esse território é sustentável e
autônomo, ou você está completamente dependente de cadeias globais sobre as quais não tem
controle?
3. Pesquisa: Lutas Indígenas Locais: Investigue se há povos indígenas em seu
estado ou região lutando por demarcação de terras. Quais são suas demandas? Como você pode
apoiar essas lutas? Lembre-se: a luta pela tecnologia não-extrativista e a luta pela terra
indígena são a mesma luta contra o capitalismo.
4. Experimento de Desaceleração: Durante uma semana, tente viver em "tempo
Guarani" em vez de "tempo capitalista": não use despertador (acorde com a luz do sol), desligue
notificações, dedique tempo a atividades não-produtivas (conversar, contemplar, caminhar).
Registre como isso afeta seu bem-estar e suas relações.
5. Debate: Cosmotécnicas Plurais: É possível haver múltiplas formas de
tecnologia convivendo no mesmo planeta? Ou a tecnologia ocidental é, de fato, "universal"? Como
seria uma internet que respeitasse a diversidade cosmotécnica — com protocolos Guarani,
algoritmos quilombolas, arquiteturas andinas?
🔗 Conexões com Outros Capítulos
🌍 Nhandereko como Crítica Radical ao Capitalismo Digital (síntese com todo livro)
Este capítulo questiona as próprias bases do livro inteiro: Todos os
capítulos anteriores (1-25) trabalham dentro da epistemologia
moderna/ocidental, mesmo quando críticos (Marx, cibernética, pós-operaísmo = todos
europeus). Nhandereko vem de fora dessa matriz.
O que Nhandereko critica em cada parte do livro:
- Cap 10
(Sujeito
Automático/Valor): Guarani nunca aceitaram lógica do valor. Não
acumulam, não trocam equivalentes, não quantificam tudo. Jopói
(reciprocidade) ≠ troca mercantil.
- Cap
8 (Trabalho/Subsunção): Conceito de "trabalho" é
ocidental/moderno. Guarani não separam trabalho/vida, produção/ritual.
Tekoa ≠ fábrica social.
- Cap
3-16
(Plataformas/Vigilância/Vício): Todo capitalismo digital pressupõe
acumulação infinita, extração de dados, otimização de comportamento.
Nhandereko recusa acumulação em si.
- Cap 18
(Cybersyn)/25
(China): Ambos tentam eficiência via planejamento/tecnologia.
Nhandereko não busca eficiência — busca Teko Porã (bem viver).
Ritmo lento, tempo cíclico, não-produtividade.
Questão radical: E se o problema não for qual sistema
(capitalismo vs socialismo), mas a própria ideia de "sistema econômico"
centralizado? Guarani vivem há milênios sem Estado, sem mercado, sem acumulação.
É possível? Sim. Eles provam todo dia.
🌳 Tekoa vs Território Digital: Luta pela Terra = Luta contra Extrativismo Digital
Cap
21 mostrou Brasil periférico em extrativismo de dados. Cap 26 mostra
mesma lógica no território físico:
Agronegócio = Big Tech:
- Monocultura (soja): Destrói biodiversidade =
Monocultura tecnológica (Google/Meta): Destrói diversidade
cosmotécnica.
- Expulsão de Tekoa: 95% território Guarani roubado em 500 anos =
Expulsão de comuns digitais: Enclosure da internet (de rede
livre a 5 plataformas).
- Agrotóxicos: Envenenam terra/água = Algoritmos
tóxicos: Envenenam esfera pública (ódio, desinformação).
- Mesmo agronegócio usa Big Tech: Monsanto/Bayer usam IA, drones,
satélites para otimizar monocultura. Extrativismo físico + digital
fundidos.
Conclusão: Demarcação de terras indígenas (Cap 24 deve incluir) +
soberania digital = mesma luta. Não pode haver tecnologia não-extrativista sem
território. Tekoa digital = infraestrutura comunitária, não nuvens
corporativas.
🔄 5 Princípios do Nhandereko para Tecnologia Alternativa (aplicações concretas)
Cap 26 propõe 5 princípios — como implementar?
1. Tecnologia Territorializada:
- Redes mesh comunitárias: Já existem (Guifi.net Catalunha, Rede
Quilombo SP, NYC Mesh). Internet sem ISPs corporativas, controlada por
assembleia local.
- Servidores cooperativos locais: Cap 19 — cada
Tekoa/quilombo/bairro com próprio servidor. Dados não saem do território sem
consenso comunitário.
2. Anti-Acumulação (Jopói digital):
- Limites de escala: Lei impede plataforma ter mais de X milhões
usuários. Atingiu limite? Obrigatório dividir em cooperativas menores.
- Impossibilidade de venda de dados: GDPR++ — dados não são
propriedade, são comum inalienável. Vender = crime.
- Redistribuição forçada: Algoritmo detecta "acumulador" (usuário
com milhões followers monopolizando atenção) → sugere descentralizar audiência.
3. Reciprocidade Algorítmica:
- Feed baseado em Mborayu (amor coletivo): Em vez de engajamento,
algoritmo prioriza conteúdo que ajuda outros (tutoriais, ofertas de
ajuda, cuidado mútuo).
- Economia do dom: App cooperativo onde não se "compra", mas se
pede/oferece (FreeCycle, Buy Nothing, mas algoritmizado para facilitar
reciprocidade).
4. Desaceleração:
- Ritmo circadiano: App automaticamente desacelera à noite
(respeita sono), limita posts/dia (respeita tempo não-produtivo).
- Design anti-vício por padrão: Oposto de Cap 14 — sem
notificações push, sem scroll infinito, sem likes/métricas viciantes.
5. Diversidade Cosmotécnica:
- Protocolos culturalmente específicos: Rede social Guarani opera
em tempo Guarani (cíclico), com categorias Guarani (Tekoa, Aty, Jopói), não
"seguidores/curtidas".
- Interoperabilidade sem homogeneização: Redes diferentes podem
se comunicar (protocolo aberto), mas cada uma mantém lógica própria.
Fediverse + cosmotécnicas.
⚠️ Cuidado: Apropriação vs Aprendizado (ética do conhecimento)
Perigo real: Startup Silicon Valley lê Cap 26 → cria "app inspirado
em sabedoria indígena" → vende por US$ 10/mês → lucra com epistemologia que critica
lucro. Apropriação cultural algoritmizada.
Já acontece:
- Ayahuasca: Sacramento Guarani → retiro luxury Silicon Valley
US$ 5mil. Cap
16 (Farmácia de
Apartheid) denunciou.
- "Mindfulness": Meditação budista → app corporativo para
"reduzir estresse" trabalhador superexplorado. Torna suportável o insuportável.
- "Economia do Dom": Marcel Mauss estudou reciprocidade indígena
→ Mark Zuckerberg cita em palestra sobre "comunidade" enquanto extrai dados.
Como evitar:
- Nhandereko não é "ferramenta": Não pode ser extraído/aplicado
fora do Tekoa, da cosmologia, do povo. O que fazemos é aprender
(desestabilizar nossas certezas), não copiar.
- Apoio material às lutas: Qualquer projeto "inspirado" em
epistemologia indígena DEVE apoiar demarcação de terras,
redistribuir recursos, ter indígenas em controle. Senão é extrativismo
epistêmico.
- Reconhecer limites: Não-indígena nunca vai "aplicar
Nhandereko". Pode construir algo próprio informado por aprendizado
respeitoso, mas não é Nhandereko. Diversidade cosmotécnica significa múltiplas
soluções, não uma "universal".
🌳 Nhandereko não é romantização do passado — é crítica do presente e projeto de
futuro. Guarani resistem há 500 anos com território reduzido a 5% do
original, enfrentando agronegócio, mineração, barragens. E continuam
existindo. Provam que é possível viver sem acumulação, sem Estado opressor,
sem destruir Terra. Luta por demarcação = luta anticapitalista. Cap 24 (Políticas) e 28 (Síntese)
devem incluir: apoiar lutas indígenas como parte essencial de construir tecnologia
emancipatória. Não há tecnologia não-extrativista sem território, não há futuro digital
sem Tekoa.
📚 Leituras Complementares
- Nível Iniciante:
- Krenak, A. (2019). Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Companhia das Letras. (Ensaios
curtos e acessíveis de um dos principais pensadores indígenas brasileiros).
- Krenak, A. (2020). A Vida Não é Útil. Companhia das Letras. (Crítica radical à ideia
de produtividade e utilidade capitalista).
- Kopenawa, D., & Albert, B. (2015). A Queda do Céu: Palavras de um Xamã Yanomami.
Companhia das Letras. (Autobiografia xamânica e crítica devastadora à civilização ocidental).
- Nível Intermediário:
- Clastres, P. (1974). A Sociedade Contra o Estado. Cosac Naify. (Antropologia política
clássica sobre povos indígenas das terras baixas sul-americanas).
- Viveiros de Castro, E. (2002). A Inconstância da Alma Selvagem. Cosac Naify.
(Coletânea de ensaios sobre cosmologia ameríndia e perspectivismo).
- Melià, B. (1989). "A Terra Sem Mal dos Guarani: Economia e Profecia", Revista de
Antropologia, 33. (Estudo antropológico sobre o conceito de Yvy Marã Ey).
- Brighenti, C. A. (2012). Povos Indígenas em São Paulo: Terra e Autonomia. (Sobre a
luta contemporânea dos Guarani por território no sul e sudeste do Brasil).
- Nível Avançado:
- Hui, Y. (2016). The Question Concerning Technology in China: An Essay in
Cosmotechnics. Urbanomic. (Teoria filosófica sobre a não-universalidade da tecnologia).
- Moore, J. W. (2015). Capitalism in the Web of Life: Ecology and the Accumulation of
Capital. Verso. (História ecológica do capitalismo como projeto extrativista).
- Escobar, A. (2018). Designs for the Pluriverse: Radical Interdependence, Autonomy, and the
Making of Worlds. Duke University Press. (Sobre design ontológico e pluriverso).
- Federici, S., & Linebaugh, P. (2018). Re-enchanting the World: Feminism and the Politics
of the Commons. PM Press. (Sobre comuns, expropriação e alternativas ao capitalismo).
- Santos, B. de S. (2014). Epistemologies of the South: Justice Against Epistemicide.
Routledge. (Sobre epistemologias do Sul Global e epistemicídio colonial).
🌏
Nota sobre os Próximos Capítulos
Este capítulo focou
especificamente no Nhandereko Guarani — uma entre muitas epistemologias
não-capitalistas que resistem ao redor do mundo. Nos próximos capítulos desta Parte VII,
exploraremos outras tradições igualmente ricas: as filosofias orientais
(Taoísmo, Budismo, Wu Wei, conceitos de vazio e interdependência, cosmotécnicas
chinesas, indianas e japonesas pré-modernas), as cosmologias africanas e
afro-diaspóricas (Ubuntu, filosofias iorubás, quilombos como tecnologias de
resistência), e outras epistemologias dos povos originários (Yanomami, povos andinos,
povos do Norte Global indígena). A crítica que este capítulo faz ao "Ocidente" não
ignora que existem múltiplas tradições orientais, africanas e de outros continentes que
também foram silenciadas pela colonialidade. O Nhandereko é um começo, não um fim. É uma
voz em um coro muito mais amplo de sabedorias que precisamos urgentemente reaprender a
ouvir.
---

Capítulo 27
Capítulo 27: Epistemologias Orientais e a Crítica ao Extrativismo Digital
Introdução: Além da Racionalidade Cartesiana
A crise ecológica e social do capitalismo digital não é meramente tecnológica ou econômica – ela
é fundamentalmente epistemológica. A lógica extrativista que subjaz à mineração
de dados, à economia de vigilância e à exploração algorítmica do trabalho está enraizada em uma
cosmologia particular: aquela que emerge do dualismo cartesiano, do empirismo baconiano e da
racionalidade instrumental iluminista.
Este capítulo propõe uma virada epistemológica radical: buscar nas tradições
filosóficas orientais – especialmente o Taoísmo, o Budismo Mahayana, as cosmotécnicas asiáticas
pré-modernas e as filosofias védicas – não soluções prontas ou aplicações diretas, mas
modos alternativos de relacionamento com a tecnologia, o conhecimento e o
cosmos.
Não se trata de "orientalismo digital" ou apropriação cultural superficial, mas de um
diálogo intercultural rigoroso que reconhece as limitações da epistemologia
ocidental dominante e busca aprender com sistemas de pensamento que nunca separaram radicalmente
sujeito/objeto, natureza/cultura, mente/corpo.
27.1 O Taoísmo e a Crítica à Tecnologia Instrumental
Wu Wei (無為) e a Não-Ação Eficaz
O conceito taoísta de wu wei (não-ação, ou ação sem força) oferece uma alternativa
radical à lógica produtivista que domina o design tecnológico contemporâneo. Diferentemente da
maximização de throughput e da otimização constante que caracterizam a engenharia de software
moderna, wu wei propõe uma eficácia que emerge da harmonização com os processos
naturais, não de sua dominação.
📜
Zhuangzi sobre Máquinas e Corações
Zhuangzi (莊子), no capítulo "A Alegria Suprema", critica explicitamente
as tecnologias que amplificam a ambição humana sem sabedoria:
"Aquele que usa máquinas faz seu trabalho como uma máquina. Aquele que faz seu trabalho
como uma máquina desenvolve um coração de máquina. Aquele que tem um coração de máquina
perde a simplicidade original (pu 樸). Aquele que perde a simplicidade original torna-se
incerto no conhecimento do Tao."
Esta passagem, escrita há mais de 2.300 anos, antecipa a crítica contemporânea à
automação que desumaniza.
A Cosmotécnica Taoísta: Tecnologia como Cultivo
Yuk Hui, filósofo da tecnologia, recupera o conceito de cosmotécnica – a unidade
entre cosmos (ordem moral) e técnica – presente nas tradições chinesas. Diferentemente da
tecnologia ocidental moderna, que se pretende universal e value-neutral, as tecnologias
chinesas tradicionais eram inseparáveis de uma cosmologia específica.
A ideia de qi (氣, energia vital) permeia todas as práticas técnicas: a circulação
harmoniosa do qi determina se uma construção, um artefato ou uma prática é tecnicamente
adequada. Isto contrasta radicalmente com a tecnologia cartesiana, onde a matéria inerte é
manipulada por uma mente exterior e superior.
💡
Implicações para o Design de Sistemas Digitais
Tecnologias respiratórias: Sistemas que respeitam ciclos de atenção,
descanso e renovação, ao invés de exigir disponibilidade 24/7
Interfaces baseadas em fluxo: Algoritmos que facilitam processos
emergentes, não que impõem resultados pré-determinados
Arquiteturas de dados permeáveis: Alternativas à propriedade exclusiva e
ao enclosure informacional
Pu (樸): Retorno à Simplicidade Original
O Dao De Jing (道德經) de Laozi advoga pelo retorno ao pu (樸) – a "madeira não
talhada", a simplicidade original que precede a complexificação desnecessária. No contexto
digital:
• Crítica à complexidade tecnocrática: Big Tech resolve problemas que ela mesma
criou (apps para digital detox, algoritmos para combater desinformação algorítmica)
• Minimalismo radical: Tecnologias que fazem menos, mas melhor, respeitando a
capacidade cognitiva humana
• Soberania tecnológica: Ferramentas compreensíveis e reparáveis por comunidades
locais, não black boxes proprietárias
27.2 Budismo e a Desconstrução do Eu Digital
Anatman (अनात्मन्) e a Ilusão da Identidade Fixa
A doutrina budista do anatman (não-eu, impermanência do self) oferece uma crítica
devastadora à economia da identidade digital. Plataformas como Facebook,
LinkedIn e Instagram monetizam a ilusão de um "eu" coerente, estável e performável –
precisamente o que o Budismo identifica como fonte primordial do sofrimento (dukkha).
Nagarjuna (龍樹, século II), fundador da escola Madhyamaka, desenvolve a teoria da
śūnyatā (vacuidade): todos os fenômenos, incluindo o "eu", são vazios de
existência inerente, surgindo apenas em redes de relações interdependentes
(pratītyasamutpāda, origem dependente).
🔍
Aplicações ao Digital
Perfis de usuário como ficções úteis, não essências: Design que
reconhece a multiplicidade e a mutabilidade das identidades
Crítica à psicometria algorítmica: Modelos como os "Big Five" ou a
segmentação por personalidade são reificações, não descrições neutras
Privacidade relacional, não individual: Proteção de dados reconhecendo
que "meus dados" sempre envolvem outros
Mindfulness e a Crítica à Economia da Atenção
O conceito budista de sati (atenção plena, mindfulness) foi amplamente cooptado
pelo capitalismo digital – desde apps de meditação corporativa até "mindful leadership" em
empresas de vigilância. Mas sua forma original oferece uma crítica radical:
A atenção não é um recurso escasso a ser otimizado, mas uma
capacidade relacional a ser cultivada.
O monge vietnamita Thich Nhat Hanh distingue entre:
• Atenção instrumental (focada em objetivos, multitarefa, medida em métricas): A
que o capitalismo de plataforma explora
• Atenção aberta (receptiva, não-discriminante, presente): A que permite
perceber a interdependência e a vacuidade
As "tecnologias de bem-estar" do Vale do Silício operam na primeira categoria, mercantilizando a
atenção mesmo quando alegam "protegê-la". Uma praxis budista autêntica exigiria
tecnologias que não exigem atenção – que se tornam invisíveis quando não
necessárias, que respeitam o tédio e a contemplação.
Karuna (करुणा) e Tecnologias Compassivas
A ética budista Mahayana se centra na karuna (compaixão) e bodhicitta (mente do
despertar para o benefício de todos os seres). Isto implica um design radicalmente
não-antropocêntrico:
• Tecnologias que consideram o sofrimento dos trabalhadores invisíveis:
Moderadores de conteúdo, montadores de eletrônicos, mineradores de coltan
• Algoritmos que não exploram vieses cognitivos: Alternativas ao dark
pattern design
• Infraestruturas que minimizam dano ecológico: Data centers regenerativos,
hardware modular e reparável
27.3 Cosmotécnicas Asiáticas Pré-Modernas
Yuk Hui e a Crítica à Universalidade Tecnológica
O filósofo Yuk Hui argumenta que a crise ecológica contemporânea decorre de uma
monocultura tecnológica: a imposição global de uma única forma de relação
técnica com o mundo, aquela emergente da Europa moderna.
Ele propõe recuperar cosmotécnicas locais – modos específicos de unir cosmos
(ordem moral/cosmológica) e técnica que existiram em diversas culturas:
• China: Tecnologia como harmonização com o li (理, princípio ordenador)
e o qi
• Japão: Tecnologia como manifestação do ma (間, intervalo/vazio) e
mottainai (もったいない, lamento pelo desperdício)
• Índia: Tecnologia como expressão do dharma (धर्म, lei cósmica/dever)
Estas não são curiosidades históricas, mas alternativas contemporâneas viáveis à
tecnologia instrumental moderna.
O Caso Japonês: Ma (間) e Mottainai (もったいない)
Ma: A Estética do Intervalo
Ma (間) – conceito central na estética japonesa – designa o espaço negativo, o
intervalo, a pausa que dá significado. Na arquitetura, é o espaço vazio entre
colunas; na música, o silêncio entre notas; no teatro Noh, a pausa dramática.
🎨
Aplicado ao Design Digital
Contra o infinite scroll: Interfaces que incorporam pausas, finitudes,
respiração
Espaçamento informacional: Alternativas ao information overload
através de vazios deliberados
Temporalidade não-instantânea: Comunicação que permite delay, reflexão,
não-resposta
O arquiteto Kengo Kuma aplica ma ao
design de espaços tecnológicos, criando data centers que "respiram" com o ambiente,
incorporando ciclos naturais de luz e temperatura.
Mottainai: Lamento pelo Desperdício
Mottainai (もったいない) expressa um lamento ético-estético pelo desperdício,
especialmente de coisas que ainda têm utilidade ou dignidade. Wangari Maathai, ambientalista
queniana, adotou o termo como princípio de sua campanha ecológica, reconhecendo sua ressonância
transcultural.
No contexto digital:
• Contra a obsolescência programada: Hardware durável, software que não exige
upgrades forçados
• Reutilização de dados: Datasets como commons, não commodities descartáveis
• Reparo e modificação: Direito legal e técnico de consertar e adaptar
dispositivos
O Sistema Jieqi (節氣) e Tecnologias Sazonais
O calendário agrícola chinês tradicional divide o ano em 24 jieqi (節氣, "termos
solares"), sincronizando atividades humanas com ciclos cósmicos. Esta temporalidade cíclica
contrasta com:
• Tempo linear-progressivo do capitalismo: Crescimento infinito, aceleração
constante
• Tempo atômico-padronizado da computação: Milissegundos universais,
desconsiderando biorritmos
⏰
Proposta: Sistemas Temporalmente Situados
Sistemas operacionais e protocolos de rede que reconhecem temporalidades locais,
corporais e ecológicas:
• Redes mesh que ajustam throughput conforme disponibilidade de energia renovável
• Algoritmos de aprendizado que "hibernam" periodicamente, consolidando conhecimento
• Interfaces que mudam com horários de luz natural, não com timezones abstratos
27.4 Filosofias Védicas e a Crítica à Inteligência Instrumental
Rig Veda e a Interconexão Cósmica
Os Vedas (वेद), textos fundacionais da filosofia indiana (c. 1500-500 AEC),
descrevem um cosmos de interconexões dinâmicas, onde ṛta (ऋत, ordem cósmica) emerge da
interação harmoniosa entre forças naturais, sociais e divinas.
O hino da criação (Nasadiya Sukta, Rig Veda 10.129) expressa uma epistemologia
da incerteza radical:
📖
"Quem verdadeiramente sabe? Quem aqui proclamará?
De onde nasceu, de onde veio esta criação?
Os deuses vieram depois, com a criação deste universo.
Quem então sabe de onde surgiu?"
Esta postura agnóstica contrasta com a certeza
algorítmica dos sistemas de IA contemporâneos, que produzem predições com
confiança estatística mas sem compreensão causal.
Upanishads e o Conhecimento Não-Dual
As Upanishads (उपनिषद्, c. 800-200 AEC) desenvolvem a doutrina da
não-dualidade (advaita): a identidade fundamental entre atman
(o eu individual) e Brahman (a realidade última).
Implicações epistemológicas:
• Conhecimento como transformação, não representação: Saber algo é ser
transformado por isso, não apenas ter informação sobre isso
• Crítica ao sujeito observador neutro: Impossibilidade de conhecimento
"objetivo" separado do conhecedor
• Inteligência como participação: Alternativa à IA como processamento de
símbolos desincorporados
O filósofo contemporâneo B.K. Matilal argumenta que a epistemologia indiana
(pramāṇa-śāstra) sempre reconheceu múltiplas fontes válidas de
conhecimento (percepção, inferência, testemunho, comparação, postulação,
não-apreensão), evitando o reducionismo empiricista.
Yoga e Tecnologias do Self
O Yoga Sutra de Patañjali (पतञ्जलि, c. século II-IV) descreve um sistema
técnico-pragmático de transformação da consciência: citta-vṛtti-nirodhaḥ (a cessação
das flutuações da mente).
Diferentemente da terapia cognitivo-comportamental digitalizada (apps de CBT), o yoga clássico
reconhece:
• Incorporação essencial: Práticas corporais (asana,
pranayama) são inseparáveis de mudança mental
• Transmissão relacional: Conhecimento requer guru, não pode ser
totalmente codificado/automatizado
• Transformação gradual: Oito membros (ashtanga) atravessados ao longo
de anos, não "hacks" instantâneos
⚠️
Crítica: Extração Espiritual
Apps de meditação e wellness digital operam extração espiritual –
commodificam técnicas descontextualizadas, removendo suas dimensões éticas
(yama, niyama) e comunitárias.
27.4.1 Cosmotécnicas Asiáticas Além da China: Japão, Coreia e Sudeste Asiático
🌏 O Mapa Incompleto: Ausência das Outras Ásias
Até agora, nossa exploração de epistemologias
orientais concentrou-se nas tradições chinesas (Taoísmo, cosmotécnica de Yuk Hui) e
indianas (Vedas, Upanishads). Mas a Ásia não é um monolito. Japão,
Coreia, Sudeste Asiático desenvolveram relações radicalmente distintas
com a tecnologia, enraizadas em cosmologias próprias. Ignorá-las é reproduzir um
sinocentrismo
ou indianocentrismo que replica, em escala regional, o eurocentrismo que criticamos. Esta
seção busca preencher essa lacuna.
🇯🇵 Japão: Wa (和), Harmonia e a Relação Não-Dualista com Robôs
A relação japonesa com robótica é radicalmente diferente da ocidental, e isso
não é acidente cultural superficial — é resultado de uma cosmotécnica
alternativa:
Wa (和): Harmonia Como Princípio Organizador
Wa (和) — traduzido como "harmonia", "paz", "união" — é o princípio central da ética e
estética japonesas desde a Constituição dos Dezessete Artigos (604 EC, Príncipe
Shōtoku): "A harmonia deve ser valorizada e a não-oposição honrada."
- No trabalho: Consenso coletivo (nemawashi), não imposição
hierárquica. Decisões emergem de deliberação prolongada.
- Na tecnologia: Tecnologia deve integrar-se harmoniosamente
com ambiente social/natural, não dominá-lo. Daí a obsessão japonesa com miniaturização,
eficiência, elegância — tecnologia "invisível".
- Em robótica: Robôs não são outros ameaçadores (como em
Terminator, narrativa ocidental de ansiedade), mas companheiros
potenciais. Robô não é antítese do humano, mas extensão.
Shintoísmo e Animismo: Tudo Tem Kami (神)
O Shintoísmo (神道, "caminho dos deuses") é uma religião animista: tudo —
montanhas, rios, árvores, e objetos criados por humanos — pode ter kami (神,
espírito/divindade).
- Ferramentas têm alma: Cerimônias de "aposentadoria" de agulhas
(Hari Kuyō), bonecas (Ningyō Kuyō), até robôs
desfuncionais recebem rituais funerários budistas. Tecnologia não é "mera
matéria inerte".
- Robôs como novos kami: Se rochas podem ter espíritos, por que não robôs
sofisticados? Há menos resistência cultural à ideia de consciência
artificial.
- Consequência: Japão lidera em robótica de cuidado (robôs para idosos,
Paro — foca robótica terapêutica), enquanto Ocidente debate "substituição
desumana". Japoneses veem potencial de nova forma de companionship.
Kaizen (改善): Melhoria Contínua vs. Disrupção
Kaizen (改善, "mudança para melhor") é filosofia de gestão/produção japonesa:
melhorias pequenas, incrementais, contínuas, envolvendo todos os níveis da
organização.
- Contraste com "disrupção": Vale do Silício celebra disruption —
destruir o antigo radicalmente, "mover rápido e quebrar coisas". Kaizen valoriza
continuidade, aprendizado coletivo, respeito ao conhecimento acumulado.
- Aplicado a software: Toyota Production System (origem de Agile, Lean)
enfatiza muda (desperdício), mura (irregularidade), muri
(sobrecarga). Software deve ser sustentável, não cult do crunch e burnout.
- Crítica ao "move fast": Facebook's "move fast and break things" causou
genocídio em Myanmar, desinformação global. Kaizen propõe: mova
deliberadamente e conserte coisas.
🤖
Exemplos de Cosmotécnica Japonesa
- AIBO (Sony): Cachorro robótico. Quando Sony descontinuou peças
(2014), donos fizeram funerais budistas para AIBOs "mortos". Monges
rezaram por suas "almas". Ocidente: bizarro. Japão: lógico.
- Softbank Pepper: Robô humanoide para atendimento. Design
deliberadamente kawaii (fofo), não ameaçador. Objetivo: integração
social harmoniosa.
- Gundam: Anime de robôs gigantes. Não são máquinas sem alma, mas
extensões dos pilotos — simbiose homem-máquina.
- Hatsune Miku: Idol virtual, vocaloid. Milhões de fãs reais, shows
com hologramas. Fronteira humano/não-humano é fluida, não
antagônica.
🇰🇷 Coreia: Han (한/恨), Trauma Coletivo e Tecnologia como Cicatrização Nacional
A relação coreana com tecnologia não pode ser entendida sem o conceito de han:
Han: A Ferida Histórica Coletiva
Han é um conceito complexo, sem tradução direta: um misto de tristeza
acumulada, raiva reprimida, lamento histórico que permeia a psique coletiva
coreana, resultado de séculos de invasões, colonialismo japonês (1910-1945), Guerra da Coreia
(1950-53), ditaduras militares.
- Não é só tristeza: Inclui ressentimento (contra opressores) e
aspiração (superar trauma). É simultaneamente ferida e
combustível.
- Expressão cultural: Música pansori (narrativas épicas cantadas),
cinema (Park Chan-wook, Bong Joon-ho), K-pop (letras sobre luta, superação) —
catarse coletiva de han.
- Tecnologia como exorcismo: Coreia do Sul passou de país devastado pela
guerra (1950s) a potência tecnológica global (Samsung, LG, SK Hynix, linha mais rápida de
internet do mundo). Tecnologia não é só "desenvolvimento" — é prova de
sobrevivência, vingança contra humilhação histórica.
Ppali-ppali (빨리빨리): Velocidade Como Trauma Coletivo
Ppali-ppali ("rápido-rápido") é expressão ubíqua na Coreia: expectativa cultural de
velocidade extrema em tudo — trabalho, entrega de comida, construção, internet.
- Origem: Necessidade de reconstruir país destruído rapidamente +
industrialização autoritária forçada (ditadura de Park Chung-hee, 1960s-70s). Han
transformado em urgência compulsiva.
- Lado sombrio: Taxa de suicídio mais alta da OCDE. Cultura de trabalho
brutal (gwarosa — morte por excesso de trabalho). Pressão acadêmica extrema.
Ppali-ppali como trauma perpetuado.
- Tecnologia digital: Coreia lidera em 5G, e-sports, live streaming
(mukbang), cirurgias plásticas (transmitidas ao vivo), pagamentos digitais. Mas:
velocidade não curou han, apenas o acelerou.
Tecnologia e Reunificação: O Sonho Digital Coreano
Coreia é único país dividido por tecnologia: Sul é hiperconcetado (99% internet
de alta velocidade), Norte é isolado (intranet nacional Kwangmyong, sem acesso global).
- Tecnologia como ponte: Projetos de VR para "reunir" famílias separadas.
Apps de tradução Norte-Sul (dialetos divergiram 70 anos). Esperança:
quando reunificação vier, será digital-first.
- Ambiguidade: Tecnologia também perpetua divisão. Sul usa vigilância digital
massiva (temor de espionagem Norte). Norte usa jamming de sinais. Tecnologia como
arma e cura.
⚠️ Crítica: Tecnologia Não Cura Han, Apenas o
Capitaliza
K-pop é indústria brutal (contratos escravagistas,
cirurgias plásticas forçadas, suicídios de idols). E-sports são glamurosos, mas jogadores
profissionais têm carreiras de 3-5 anos, depois descartados. Ppali-ppali não foi
superado — foi gamificado e exportado globalmente. Tecnologia sul-coreana é
sintoma e vetor de han, não sua resolução.
🌴 Sudeste Asiático: Pluralidade Cosmotécnica Pós-Colonial
Sudeste Asiático (Indonésia, Tailândia, Vietnã, Filipinas, Malásia, Singapura, Myanmar, Camboja,
Laos) é região de fronteiras fluidas — hinduísmo, budismo, islamismo,
colonialismo europeu, influência chinesa, japonesa, americana. Resultado: cosmotécnicas
híbridas.
Gotong Royong (Indonésia): Cooperação Comunal
Gotong royong (cooperação mútua) é princípio javanês de trabalho
coletivo: comunidade se reúne para construir casa, colher arroz, organizar festa.
Não é "caridade" (hierárquico), mas reciprocidade horizontal.
- Aplicado a tecnologia: Warung internet comunitários, cooperativas de
motocicleta (ojek online via Gojek — app de transporte criado na Indonésia, não
importado). Tecnologia emerge de práticas comunitárias existentes, não
imposta top-down.
- Contraste com Uber: Gojek começou como plataforma cooperativa, motoristas
tinham voz. Uber impôs modelo californiano. Gotong royong digitalizado vs.
extrativismo platformizado.
Sabai-sabai (Tailândia): "Relaxe, Vai Dar Certo"
Sabai-sabai (สบายๆ, "relaxado", "confortável") é atitude tailandesa de
não-urgência, confiança no fluxo. Relacionado ao budismo Theravada: aceitação
da impermanência, não-apego.
- Tecnologia "lenta": Tailândia tem infraestrutura digital robusta, mas
sem a ansiedade de ppali-ppali. Apps de entrega (Grab, Foodpanda) funcionam, mas
expectativa é 45min-1h, não 15min.
- Resistência ao hustle culture: Trabalho remoto ("digital nomads") explodiu
na Tailândia porque cultura local não romantiza exaustão.
Sabai-sabai
como antídoto ao burnout.
Bayanihan (Filipinas): Espírito de Ajuda Mútua
Bayanihan (termo tagalog) refere-se à tradição de carregar a casa de alguém
coletivamente (casas de nipa, leves, podiam ser movidas por vizinhos). Simboliza
solidariedade comunitária.
- Tecnologia de resiliência: Filipinas é país mais afetado por desastres
naturais. Bayanihan digitalizado: redes sociais para coordenar resgates (Typhoon
Haiyan, 2013), crowdfunding para reconstrução, apps comunitários de alerta.
- Trabalho digital global: Filipinas é hub de call centers, freelancing
(Upwork, Fiverr). Crítica: Bayanihan explorado — "espírito de
serviço" usado para justificar salários baixos. Cosmotécnica local capturada por capital
global.
🌏
Síntese: Cosmotécnicas Asiáticas Como Resistência
Cada cosmotécnica asiática oferece
resistência situada ao universalismo tecnológico ocidental:
- Japão (wa): Tecnologia como harmonia, não dominação. Robôs
como companheiros, não ameaça.
- Coreia (han): Tecnologia como cicatrização de trauma
coletivo — mas cuidado: pode perpetuar ferida.
- Indonésia (gotong royong): Tecnologia cooperativa, não
individualista.
- Tailândia (sabai-sabai): Tecnologia "lenta", não ansiosa.
- Filipinas (bayanihan): Tecnologia de resiliência
comunitária.
Desafio: Como preservar essas cosmotécnicas sem romantizá-las? Como
aprender sem apropriar? Como resistir à homogeneização global sem cair em
nacionalismo/essencialismo?
27.5 Síntese: Por uma Pluriversalidade Epistemológica Digital
Contra o Universalismo Tecnológico
As epistemologias orientais apresentadas não são "alternativas" no sentido de substituir a
racionalidade ocidental por outra igualmente hegemônica. A proposta é uma
pluriversalidade epistêmica (Boaventura de Sousa Santos, Arturo Escobar): o
reconhecimento de que múltiplos modos de conhecer e múltiplas cosmotécnicas podem coexistir.
🌐
Princípios de Design Pluriversal
1. Negação da tecnologia universal: Ferramentas devem ser
contextualmente situadas, não "soluções globais"
2. Interoperabilidade sem homogeneização: Protocolos que permitem
diferença, não padronização forçada
3. Soberania epistemológica: Comunidades decidem quais formas de
conhecimento (dados, algoritmos, interfaces) são legítimas em seus contextos
Tecnologias de Relacionalidade, não de Controle
Um fio comum atravessa todas as tradições discutidas: a rejeição da separação
sujeito/objeto que funda a tecnologia instrumental moderna.
• Taoísmo: Humanos e natureza fluem juntos no Tao
• Budismo: Todos os seres surgem em interdependência
(pratītyasamutpāda)
• Vedanta: Atman = Brahman (identidade última)
• Cosmotécnicas asiáticas: Técnica e cosmos são inseparáveis
Isto exige tecnologias que não controlam, mas co-participam:
• Algoritmos de recomendação que não manipulam, mas sugerem
• Sistemas de IA que não decidem, mas facilitam deliberação humana
• Infraestruturas que não extraem, mas regeneram
Da Epistemologia à Ontologia Política
Finalmente, reconhecer epistemologias orientais não é exercício acadêmico, mas ontologia
política: estas tradições carregam memórias de outros modos de organização social –
comunidades agrícolas cooperativas, economias de dádiva, sistemas de governança não-estatais.
O filósofo político indiano Ashis Nandy argumenta que a ciência e tecnologia
modernas foram impostas ao Sul Global não apenas como ferramentas neutras, mas como
epistemicídio – o assassinato de formas locais de conhecimento. A resistência a
isso não é "retorno ao passado", mas futurismo pós-colonial: reimaginar
tecnologias do século XXI a partir de múltiplas histórias, não apenas a europeia.
Conclusão: O Caminho da Madeira Não Talhada
Este capítulo não oferece um blueprint, porque isso seria contradizer sua própria
proposta. O que as epistemologias orientais nos ensinam é, acima de tudo, humildade
epistêmica: a capacidade de reconhecer os limites do nosso próprio sistema de
conhecimento e estar aberto ao aprendizado radical.
A madeira não talhada (pu 樸) do Taoísmo não é primitivismo, mas potencialidade
preservada – a recusa de determinar todas as formas possíveis de antemão. Um
sistema digital baseado em pu seria aquele que:
• Não prediz completamente o comportamento de seus usuários
• Permite usos não antecipados por designers
• Evolui através de participação, não planejamento centralizado
• Reconhece que a sabedoria reside nas margens, não apenas no core
As epistemologias orientais não são panaceia, mas ferramentas de
estranhamento: tornam visível o que a racionalidade tecnocrática ocidental
naturalizou como "apenas o modo como as coisas são". E nesse estranhamento, abre-se espaço para
imaginar – e construir – outros mundos digitais possíveis.
🔗 Conexões com Outros Capítulos
🌀 Wu Wei vs Otimização Infinita: Crítica ao Produtivismo Digital (Caps 3, 8, 14)
Wu Wei (não-ação eficaz) é antítese de Cap 3 (Gerenciamento
Algorítmico):
- Capitalismo digital: Otimização constante, quantificação total,
aceleração infinita. Algoritmo maximiza throughput.
- Wu Wei: Harmonização com processos naturais, eficácia sem
força, respeito a ciclos. Zhuangzi: "Quem usa máquinas desenvolve coração de
máquina".
Cap
14 (Vício) engenharia deliberada de compulsão: Loot boxes,
notificações infinitas, scroll sem fim = oposto de Wu Wei. Pu (simplicidade
original taoísta) seria design anti-vício por padrão — tecnologia que
preserva potencialidade, não determina tudo.
Cap
8 (Trabalho Imaterial) aceleração total: Fábrica social,
trabalho 24/7, nunca desligar. Taoísmo critica: perda de pu (simplicidade),
alienação de ritmos naturais. Tecnologia respiratória (respeita ciclos
atenção/descanso) = aplicação de Wu Wei.
🕸️ Pratītyasamutpāda (Interdependência) vs Sujeito Automático (Cap 10)
Cap
10 (Wertkritik) denuncia Sujeito Automático: Valor se
valorizando, sistema sem sujeito real, todos somos escravos de lógica impessoal.
Budismo diria: isso é Māyā (ilusão) — reificar construção humana
como força transcendental.
Pratītyasamutpāda budista (surgimento interdependente): Nada existe
independentemente, tudo surge em rede de relações. Mas diferentemente do
Sujeito Automático, reconhece agência humana coletiva — podemos
transformar condições.
Aplicação digital:
- Śūnyatā (vacuidade): Algoritmos não têm essência fixa — são
construções humanas, podem ser desconstruídos/reconstruídos.
- Karma coletivo: Decisões de design tecnológico criam condições
para sofrimento (dukkha) ou libertação. Design ético = reduzir dukkha
sistêmico.
- Samādhi (concentração): Oposto de economia da atenção
fragmentada (Cap 12).
Tecnologia
contemplativa facilitaria foco profundo, não dispersão viciante.
🎨 Wabi-Sabi vs Lógica da Perfeição Algorítmica (Caps 3, 15, 25)
Wabi-Sabi (estética japonesa): Beleza da imperfeição, aceitação da
transitoriedade, assimetria intencional. Oposto de otimização total.
Cap
15 (Esports) datificação do atleta: Corpo reduzido a métricas,
busca perfeição quantificada. Wabi-Sabi diria: imperfeição é o que torna
humano. Tecnologia que tolera falha, improviso, intuição
não-mensurável.
Cap
25 (China) crédito social: Busca cidadão perfeitamente
previsível/controlável. Wabi-Sabi japonês critica vizinho chinês: perfeição
é morte do vivo. Ma (間, espaço negativo) = importância do
não-controlado, do vazio produtivo.
Design inspirado em Wabi-Sabi:
- Interfaces assintóticas: Aceitam que usuário nunca será 100%
eficiente — design para "boa o suficiente", não perfeição.
- Dados imperfeitos: Sistemas robustos a ruído, incompletude. Não
exigem dataset perfeito para funcionar.
- Obsolescência digna: Tecnologia que envelhece bem, não
obsolescência programada. Kintsugi digital — reparar com ouro, não descartar.
⚠️ Contra McMindfulness: Apropriação Corporativa vs Transformação Sistêmica
Perigo: "McMindfulness" (Ron Purser): Meditação budista → app
corporativo para "gerenciar estresse" de trabalhador superexplorado. Torna
suportável o insuportável.
Exemplos de apropriação:
- Headspace/Calm: Vendem mindfulness por US$ 15/mês. Budismo
original era gratuito, anticomercial.
- Google "Search Inside Yourself": Usa meditação para aumentar
produtividade de engenheiros. Ignora crítica budista a capitalismo (tṛṣṇā = sede
de mais).
- Yoga corporativo: Reduz Yoga (caminho de 8 membros para
liberação) a ginástica para flexibilizar corpo que volta à cadeira 10h/dia.
Diferença crucial:
- McMindfulness: Adapta indivíduo ao sistema opressor. Aumenta
resiliência para aguentar exploração.
- Budismo/Taoísmo genuíno: Critica o sistema. Tṛṣṇā
(sede/ganância) é raiz do sofrimento — capitalismo é tṛṣṇā institucionalizada.
Libertação exige transformação social, não apenas individual.
Conexão com Cap 24
(Políticas): Se usamos epistemologias orientais, deve ser para
questionar lógica do lucro, não para otimizar trabalhadores dentro dela.
Tecnologia contemplativa ≠ tecnologia produtivista disfarçada.
☯️ Epistemologias orientais não são "truques de produtividade" — são críticas
radicais à modernidade capitalista. Wu Wei questiona otimização infinita.
Pratītyasamutpāda questiona individualismo. Wabi-Sabi questiona perfeição. Pu
(simplicidade) questiona complexificação desnecessária. Não se pode "aplicar"
Taoísmo mantendo capitalismo — seria contradição. Caps 26 (Nhandereko) e 27
convergem: tecnologia não-extrativista exige cosmologia não-capitalista. Cap 28
sintetiza pluriverso de alternativas.
📚 Referências
Fontes Primárias Clássicas
• Laozi (老子). Dao De Jing (道德經). [c. 400 AEC]. Tradução: James Legge,
The Tao Teh King (1891).
• Zhuangzi (莊子). Zhuangzi (莊子). [c. 300 AEC]. Tradução: Burton Watson,
The Complete Works of Zhuangzi (2013).
• Nagarjuna (龍樹). Mūlamadhyamakakārikā (मूलमध्यमककारिका). [c. 150-250].
Tradução: Jay Garfield, The Fundamental Wisdom of the Middle Way (1995).
• Patañjali (पतञ्जलि). Yoga Sutra (योगसूत्र). [c. 400]. Tradução: Edwin
Bryant, The Yoga Sūtras of Patañjali (2009).
Filosofia da Tecnologia
• Hui, Yuk. The Question Concerning Technology in China: An Essay in
Cosmotechnics. MIT Press, 2016.
• Hui, Yuk. Art and Cosmotechnics. University of Minnesota Press, 2021.
• Hui, Yuk. Recursivity and Contingency. Rowman & Littlefield, 2019.
Epistemologia Comparada
• Matilal, Bimal Krishna. Perception: An Essay on Classical Indian Theories
of Knowledge. Oxford University Press, 1986.
• Matilal, Bimal Krishna. The Character of Logic in India. SUNY Press,
1998.
• Nakamura, Hajime. Ways of Thinking of Eastern Peoples. University of
Hawaii Press, 1964.
Budismo e Tecnologia
• Thich Nhat Hanh. The Miracle of Mindfulness. Beacon Press, 1975.
• Varela, Francisco J., Thompson, Evan e Rosch, Eleanor. The Embodied Mind:
Cognitive Science and Human Experience. MIT Press, 1991.
• Purser, Ronald E. McMindfulness: How Mindfulness Became the New Capitalist
Spirituality. Repeater Books, 2019.
Estudos Pós-Coloniais de Tecnologia
• Nandy, Ashis. Science, Hegemony and Violence: A Requiem for
Modernity. Oxford University Press, 1988.
• Escobar, Arturo. Designs for the Pluriverse: Radical Interdependence,
Autonomy, and the Making of Worlds. Duke University Press, 2018.
• Santos, Boaventura de Sousa. Epistemologies of the South: Justice Against
Epistemicide. Routledge, 2014.
Estética e Design Japonês
• Okakura, Kakuzō. The Book of Tea. 1906. Tuttle Publishing, 2000.
• Tanizaki, Jun'ichirō. In Praise of Shadows. 1933. Vintage, 2001.
• Kuma, Kengo. Small Architecture / Natural Architecture. AA
Publications, 2016.
🌏
Nota Metodológica: Evitando o Orientalismo Reverso
Este capítulo evita o
"orientalismo reverso" (idealização acrítica do Oriente) ao: 1) Usar
fontes primárias traduzidas, não apenas interpretações ocidentais; 2)
Reconhecer contradições internas nas tradições discutidas; 3) Evitar
essencialismo – "Oriente" e "Ocidente" são categorias analíticas, não entidades
metafísicas; 4) Engajar com filósofos orientais contemporâneos que
interpretam suas próprias tradições; 5) Buscar interlocução, não
apropriação. A crítica ao extrativismo epistemológico deve aplicar-se também à própria
prática intelectual.
---

Capítulo 28
Capítulo 28: Síntese das Cosmotécnicas Plurais — Ubuntu, Sumak Kawsay e a Revolução Digital
Decolonial
Introdução: A Tecnoesfera como Campo de Batalha Cosmológica
Chegamos ao capítulo final da Parte VII: Cosmotécnicas Plurais — Epistemologias
Indígenas, Orientais e Decoloniais. Ao longo desta parte, demos um passo
epistemológico radical: voltamo-nos para cosmologias não-ocidentais — Guarani
(Cap. 26) e Orientais (Cap. 27) — em busca de modos alternativos de pensar a relação entre
tecnologia, cosmos e comunidade.
Este capítulo propõe uma síntese dessa jornada: explorar duas cosmovisões
adicionais — a filosofia africana do Ubuntu e a cosmologia andina do
Sumak Kawsay (Buen Vivir) — e, a partir do diálogo entre estas quatro tradições
(Guarani, Oriental, Africana, Andina), delinear os princípios de uma cosmotécnica
decolonial para o século XXI.
Não se trata de construir uma "super-teoria" que funda todas as diferenças, mas de identificar
ressonâncias e complementariedades entre sistemas de
pensamento que, cada um à sua maneira, sempre resistiram à lógica extrativista, individualista e
dualista do capitalismo moderno.
A pergunta que orienta este capítulo é: Como essas epistemologias plurais podem nos
ajudar a imaginar e construir tecnologias digitais radicalmente diferentes? Não
tecnologias "inclusivas" dentro da mesma lógica de plataforma, mas tecnologias que emergem de
outras raízes cosmológicas — tecnologias que não separam sujeito/objeto, natureza/cultura,
indivíduo/comunidade.
Este é o nosso horizonte utópico: uma tecnoesfera
pluriversal, onde múltiplas cosmotécnicas coexistem, cada uma adequada aos
territórios, histórias e modos de vida das comunidades que as praticam.
28.1 Ubuntu: "Eu Sou Porque Nós Somos"
28.1.1 A Filosofia Ubuntu e a Crítica ao Individualismo Digital
Ubuntu é um conceito filosófico sul-africano (línguas Nguni: isiZulu, isiXhosa,
isiNdebele) que pode ser traduzido como "humanidade para com os outros" ou, na frase proverbial:
"Umuntu ngumuntu ngabantu" — "Uma pessoa é uma pessoa através de outras
pessoas".
Esta não é uma noção sentimental de "todos somos irmãos", mas uma ontologia relacional
radical: o "eu" não preexiste às relações sociais, mas emerge delas. Diferentemente
da tradição cartesiana, que começa com o cogito ("penso, logo existo") — um eu isolado,
anterior às relações —, Ubuntu afirma a primazia do nós sobre o
eu.
📜
Desmond Tutu sobre Ubuntu
"Uma pessoa com Ubuntu é aberta e disponível para os outros, não se sente ameaçada quando
outros são capazes e bons, porque está segura em saber que pertence a um todo maior e é
diminuída quando outros são humilhados ou diminuídos, quando outros são torturados ou
oprimidos."
— Desmond Tutu, arcebispo anglicano
sul-africano e líder anti-apartheid
Implicações para a tecnologia digital:
A economia digital capitalista é estruturalmente anti-Ubuntu:
1. Plataformas como facilitadoras de individualismo: Facebook, Instagram,
LinkedIn constroem e monetizam "identidades pessoais" isoladas, competindo por atenção e
validação.
2. Gamificação da reputação: Sistemas de likes, followers, ratings transformam o
prestígio social em métrica quantificável, incentivando competição zero-sum.
3. Enclosure do comum digital: Propriedade intelectual, paywalls, DRM impedem o
compartilhamento — o "seu" conhecimento não pode ser "meu" sem transação mercantil.
4. Criptografia libertária: Narrativas blockchain que celebram "soberania
individual", "propriedade self-sovereign" — ignorando que eu só existo através de outros.
💡
Tecnologia Baseada em Ubuntu
Identidades coletivas primárias: Perfis não são de indivíduos, mas de
coletivos (famílias, cooperativas, comunidades). O "eu digital" sempre aparece em
relação ao "nós".
Reputação não-competitiva: Sistemas de prestígio baseados em
contribuição ao comum, não em acumulação individual. Como o Jopói Guarani:
generosidade, não extração.
Commons digitais por design: Conteúdo, código, dados são por padrão
compartilhados. A restrição (privacidade, segredo) é exceção justificada, não regra.
Interdependência explícita: Algoritmos que visibilizam as cadeias de
trabalho, cuidado e conhecimento que sustentam qualquer "produto individual". Ninguém
cria sozinho.
28.1.2 Ubuntu e Justiça Restaurativa Digital
Ubuntu também fundamenta a tradição africana de justiça restaurativa: quando há
conflito ou transgressão, o objetivo não é punir o indivíduo isolado, mas restaurar a
harmonia da comunidade, reconhecendo que o dano a um é dano a todos.
No contexto digital, isto contrasta radicalmente com:
• Cultura do cancelamento: Destruição pública de reputação, isolamento, exclusão
permanente
• Ban/shadowban algorítmico: Plataformas que silenciam unilateralmente, sem
diálogo ou possibilidade de restauração
• Sistema penal digital: Vigilância massiva, listas negras, scores de crédito
social punitivos
Uma moderação baseada em Ubuntu implicaria:
1. Diálogo antes de banimento: Processos mediados por humanos (não algoritmos)
para entender contexto e buscar reparação
2. Caminhos de retorno: Nenhuma exclusão é permanente. Sempre há possibilidade
de reintegração através da mudança de comportamento
3. Responsabilidade coletiva: Comunidades (não corporações) decidem suas regras
de convivência e as aplicam através de assembleias
4. Transformação, não punição: O objetivo é que quem causou dano compreenda o
impacto de suas ações e mude, não que seja destruído socialmente
28.1.3 Do Ubuntu ao Software Livre: A Revolução que Já Começou
Curiosamente, a comunidade de software livre já pratica, há décadas, princípios
análogos ao Ubuntu:
• "Standing on the shoulders of giants": Todo código novo constrói sobre
trabalho de milhares de programadores anônimos. A autoria é sempre coletiva
• Copyleft: A ideia de que "liberdade só é verdadeira se for compartilhada". A
GPL (GNU General Public License) encarna isto
• Community-driven development: Projetos como Linux, Debian, Wikipedia são
governados coletivamente
🐧
Ubuntu Linux
A própria distribuição Ubuntu Linux (lançada em 2004 por Mark
Shuttleworth, sul-africano) foi nomeada em homenagem a esta filosofia. Seu slogan:
"Linux for human beings" — tecnologia que serve a humanidade, não que a
explora.
Mas o Software Livre, nascido na matriz ocidental (Richard Stallman, MIT, década de 1980),
carrega limitações:
1. Foco em liberdades individuais: As "Quatro Liberdades" do Software Livre são
formuladas em termos de direitos do usuário individual
2. Tecnoutopia meritocrática: "Code is law", "rough consensus and running code"
— soluções técnicas para problemas políticos
3. Cegueira colonial: Pouco engajamento com questões de raça, gênero,
colonialidade
Ubuntu pode radicalizar o Software Livre: ir além da
liberdade individual para afirmar a interdependência essencial e a responsabilidade coletiva.
Não basta ter acesso ao código se você não tem acesso à educação, infraestrutura, território.
Software só é livre se a comunidade é livre.
28.2 Sumak Kawsay: O Bem Viver Andino
28.2.1 Origens e Conceito
Sumak Kawsay (Quéchua) ou Suma Qamaña (Aymara), traduzido como
"Buen Vivir" ou "Bem Viver", é a cosmologia andina (povos Quéchua e Aymara dos Andes — Equador,
Bolívia, Peru) sobre o que significa uma "vida boa".
Diferentemente do conceito ocidental de "qualidade de vida" (medida em PIB per capita, consumo
individual, acesso a bens privados), Sumak Kawsay é:
1. Comunitário: Bem viver é sempre coletivo, nunca individual. Ninguém pode
viver bem se sua comunidade está mal.
2. Ecológico: A comunidade inclui a Pachamama (Mãe Terra) —
rios, montanhas, florestas, animais. Não há bem viver humano sem harmonia ecológica.
3. Pluriversal: Não existe um único modelo de "vida boa". Cada comunidade, cada
território, define seu próprio Sumak Kawsay.
4. Qualitativo, não quantitativo: Não se mede em dólares ou métricas. Mede-se em
harmonia, reciprocidade, espiritualidade,
autonomia.
📜
Alberto Acosta sobre o Buen Vivir
"O Buen Vivir não é desenvolvimentismo alternativo, mas alternativa ao
desenvolvimentismo. Não é um modelo de crescimento econômico, mas de
plenitude comunitária e ecológica que questiona a própria noção de crescimento
ilimitado."
— Alberto Acosta, economista
equatoriano
28.2.2 Sumak Kawsay nas Constituições do Equador e Bolívia
Entre 2008-2009, Equador e Bolívia inscreveram o Sumak Kawsay/Suma Qamaña em suas
constituições nacionais, inaugurando o "novo constitucionalismo
latino-americano":
⚖️
Constituição do Equador (2008), Artigo 275
"O regime de desenvolvimento é o conjunto organizado, sustentável e dinâmico dos sistemas
econômicos, políticos, socioculturais e ambientais que garantem a realização do
Buen Vivir, do Sumak Kawsay."
Além disso, ambas as constituições reconhecem Direitos da Natureza (Pachamama):
🌎
Constituição do Equador, Artigo 71
"A natureza ou Pachamama, onde se reproduz e realiza a vida, tem direito a que se
respeite integralmente sua existência e a manutenção e regeneração de seus ciclos
vitais, estrutura, funções e processos evolutivos."
Isto representa uma revolução
jurídica: pela primeira vez na história moderna, a natureza deixa de ser
objeto (propriedade) para ser sujeito de direitos.
28.2.3 Implicações para a Tecnologia Digital
Aplicar Sumak Kawsay ao digital implica questionar radicalmente as métricas e objetivos da
tecnologia:
1. Contra o Crescimento (Growth Hacking)
• Vale do Silício: "Move fast and break things", "10x growth", "unicórnios", "disrupção"
• Sumak Kawsay: Perguntar para quê crescer? Em benefício de quem? Com que
impacto ecológico e comunitário?
• Tecnologias que não buscam escalar infinitamente, mas servir comunidades
específicas em seus territórios
2. Tecnologia de Suficiência, não de Abundância
• Capitalismo: Promessa de abundância infinita (cloud storage ilimitado, streaming infinito)
• Sumak Kawsay: Saber o suficiente para viver bem. Reconhecer limites materiais
e ecológicos
• Design de plataformas que impõem limites (tempo de uso, quantidade de dados,
consumo energético) como feature, não bug
3. Direitos da Natureza Digital
Se rios e montanhas têm direitos, que dizer dos ecossistemas digitais?
• Biodiversidade de software: Proteger a diversidade de linguagens, protocolos,
plataformas contra a monocultura
• Habitats digitais saudáveis: Redes que não são tóxicas, que não extraem, que
permitem regeneração
• Impacto ambiental como métrica primária: Toda tecnologia deve reportar sua
pegada de carbono, uso de água, minerais raros
4. Pluriversalidade Tecnológica
Não existe "a" solução digital para "a" humanidade. Sumak Kawsay exige tecnologias
plurais, cada uma adequada a seu contexto.
28.2.4 Crítica: A Cooptação do Buen Vivir
⚠️
A Contradição entre Discurso e Prática
É crucial reconhecer que, apesar da radicalidade constitucional, na
prática, governos de Equador e Bolívia continuaram políticas extrativistas:
• Rafael Correa (Equador): Expandiu mineração e exploração petroleira em
territórios indígenas
• Evo Morales (Bolívia): Priorizou extração de lítio e construção de
estradas na Amazônia boliviana
A contradição revela a dificuldade de materializar
cosmovisões não-capitalistas dentro de Estados nacionais inseridos no capitalismo
global.
Lição para a tecnologia digital: Não basta inscrever "bem viver" ou "ética" em
documentos corporativos. É necessário transformar as estruturas materiais —
propriedade das plataformas, governança, modelos de negócio, infraestrutura energética.
28.3 Ressonâncias entre Cosmologias: Um Mapa Conceitual
Agora que exploramos quatro tradições — Guarani (Cap. 26), Oriental (Cap. 27), Ubuntu (28.1) e
Sumak Kawsay (28.2) —, podemos mapear suas ressonâncias e
complementariedades.
28.3.1 Ontologia Relacional vs Individualismo Cartesiano
Todas as quatro tradições rejeitam o sujeito cartesiano isolado:
• Guarani (Nhandereko): "Nós" é a unidade básica, não "eu". Tekoa (território) e
comunidade são condições de existência
• Taoísmo/Budismo: Anatman (não-eu), Pratītyasamutpāda (origem dependente)
• Ubuntu: "Eu sou porque nós somos"
• Sumak Kawsay: Bem viver é comunitário e ecológico
Implicação tecnológica unificada: Plataformas devem ser
projetadas para fortalecer comunidades, não isolar indivíduos. O "perfil pessoal" como centro da
experiência é colonialismo epistemológico.
28.3.2 Anti-Extrativismo: Da Terra aos Dados
Todas reconhecem o extrativismo como patologia civilizacional:
• Guarani: Juruá (brancos) como seres associados à ganância. Jopói
(reciprocidade) como tecnologia anti-acumulação
• Taoísmo: Wu wei (não-ação) e Pu (simplicidade original) como crítica à
extração máxima
• Ubuntu: Compartilhamento como ontologia. Acumulação individual degrada o comum
• Sumak Kawsay: Limite ao crescimento. Suficiência, não abundância infinita
Implicação tecnológica unificada: Tecnologias não podem
ser extrativistas. Não extrair valor sem reciprocidade, não acumular poder em pontos centrais,
não depredar ecossistemas.
28.3.3 Cosmotécnica: Tecnologia Não é Neutra
Todas afirmam que tecnologia incorpora cosmologia:
• Guarani: Tecnologia Guarani é ritual, territorializada, anti-acumulação
• Taoísmo/Confucionismo: Tecnologia como harmonização com Li (princípio
ordenador) e Qi (energia vital)
• Ubuntu: Tecnologia deve servir à humanização, à construção de comunidade
• Sumak Kawsay: Tecnologia deve servir à harmonia ecológica e comunitária
Implicação tecnológica unificada: Múltiplas
cosmotécnicas, não uma tecnologia universal. O projeto do Vale do Silício de construir
plataformas "globais" é colonialismo epistemológico.
28.3.4 Temporalidades Múltiplas vs Tempo Linear
Todas criticam o tempo linear, progressista, aceleracionista do capitalismo:
• Guarani: Oguatá Porã ("caminhar bem") — processo importa tanto quanto destino
• Budismo: Impermanência (anicca). Tempo cíclico, não linear
• Taoísmo: Jieqi (24 termos solares). Temporalidades ecológicas, não abstratas
• Sumak Kawsay: Tempo Pachakuti (tempo cósmico andino) — cíclico, espiralar
Implicação tecnológica unificada: Slow tech. Tecnologias
que respeitam ritmos biológicos, sociais, ecológicos. Rejeição do "move fast and break things".
28.3.5 Direitos da Natureza vs Antropocentrismo
Todas afirmam que natureza não é objeto, mas sujeito:
• Guarani: Tekoá inclui floresta, rios, animais — são parentes, não recursos
• Budismo: Compaixão (karuna) estende-se a todos os seres sencientes
• Taoísmo: Harmonia com o Dao implica respeito aos 10.000 seres
• Sumak Kawsay: Pachamama tem direitos constitucionais
Implicação tecnológica unificada: Tecnologia
não-antropocêntrica. Design que considera impacto em ecossistemas, não apenas em usuários
humanos.
28.4 Princípios para uma Cosmotécnica Decolonial
A partir destas ressonâncias, podemos propor princípios gerais para guiar o
desenvolvimento de tecnologias digitais decoloniais:
🔑
Princípio 1: Primazia do Nós sobre o Eu
Ontologia: Comunidade precede indivíduo.
Prática: Identidades coletivas como padrão, governança comunitária de
plataformas, métricas de sucesso baseadas em fortalecimento de laços sociais.
🔑
Princípio 2: Anti-Extrativismo Radical
Ontologia: Reciprocidade, não extração.
Prática: Transparência total sobre fluxos de valor, mecanismos de
reciprocidade obrigatórios, arquiteturas que impedem acumulação.
🔑
Princípio 3: Pluriversalidade Tecnológica
Ontologia: Múltiplas cosmotécnicas, não uma tecnologia universal.
Prática: Financiamento público para tecnologias locais,
interoperabilidade sem padronização, direito à desconexão.
🔑
Princípio 4: Temporalidades Múltiplas
Ontologia: Tempo não é linear, abstrato, acelerado.
Prática: Slow tech, notificações baseadas em importância real, direito
ao atraso.
🔑
Princípio 5: Direitos da Natureza Digital
Ontologia: Ecossistemas (terrestres e digitais) são sujeitos, não
objetos.
Prática: Avaliação de Impacto Ambiental obrigatória, biodiversidade
digital, tecnologias regenerativas.
🔑
Princípio 6: Soberania Territorial e Digital
Ontologia: Comunidades têm direito a autodeterminação tecnológica.
Prática: Servidores e infraestrutura em territórios locais, dados não
podem sair do território sem consentimento comunitário.
🔑
Princípio 7: Conhecimento como Comum
Ontologia: Todo conhecimento é coletivo.
Prática: Abolição da propriedade intelectual sobre conhecimentos
tradicionais, licenças que impedem cercamento, educação tecnológica pública.
🔑
Princípio 8: Justiça Restaurativa Digital
Ontologia: Conflito é oportunidade de restaurar harmonia, não de punir.
Prática: Moderação comunitária, processos de mediação antes de
banimento, nenhuma exclusão é permanente.
28.5 Obstáculos e Contradições: A Difícil Materialização
Seria ingênuo ignorar os desafios monumentais de materializar estes princípios
no mundo real. A história recente está cheia de tentativas frustradas:
28.5.1 Cooptação pelo Capitalismo
• Mindfulness corporativo: Budismo se torna técnica de produtividade
• Ubuntu Linux: Software livre que sustenta infraestrutura de Amazon, Google,
Facebook
• Buen Vivir: Governos usam discurso para legitimar extrativismo
• Comunidades indígenas digitalizadas: ONGs "levam tecnologia" sem consulta,
impondo modelos ocidentais
Problema: Cosmovisões anti-capitalistas são ressignificadas e instrumentalizadas
pelo próprio capitalismo.
28.5.2 Dependência Tecnológica Estrutural
Para implementar "tecnologias decoloniais", precisamos de:
• Hardware: Chips, servidores — produzidos por oligopólios globais
• Protocolos: TCP/IP, HTTP — controlados por instituições do Norte Global
• Energia: Data centers consomem energia massiva
• Conhecimento técnico: Formação depende de universidades e empresas do Norte
Problema: Não há descolonização digital sem descolonização material.
28.5.3 Escala e Interoperabilidade
• Redes comunitárias funcionam localmente, mas não competem em escala
• Cooperativas de plataforma são minúsculas comparadas a Uber, Airbnb
• Protocolos descentralizados não têm efeito de rede das plataformas centralizadas
Problema: Capitalismo de plataforma tem economias de escala e efeitos de rede
difíceis de combater.
28.5.4 O Dilema do Estado-Nação
Todas as cosmologias discutidas são pré-estatais ou
contra-estatais, mas no mundo contemporâneo, Estados-nação são incontornáveis
para regulamentar Big Tech e financiar alternativas.
⚖️
Possível Síntese
Plurinacionalismo: Estados que reconhecem múltiplas nações e cosmologias
dentro de si
Autonomia territorial: Comunidades têm direito a autodeterminação
tecnológica
Estado como facilitador: Financia infraestrutura, mas não impõe modelos
28.6 Horizontes Concretos: Experiências em Andamento
Apesar dos obstáculos, experiências concretas já existem:
28.6.1 Redes Mesh Indígenas (Brasil, México, Canadá)
• Rede Povos da Floresta (Acre, Brasil): Indígenas e ribeirinhos criaram redes
mesh autônomas
• Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias (México): Povos de Oaxaca
construíram redes celulares próprias
• First Mile Connectivity Consortium (Canadá): Comunidades First Nations
desenvolvem infraestrutura digital própria
Princípios praticados: Soberania territorial, governança comunitária, tecnologia
como extensão de cosmologia local.
28.6.2 Cooperativas de Plataforma no Sul Global
• CoopCycle (Europa/América Latina): Cooperativa de entregadores que compete com
Uber Eats
• DisCO: Modelo de organização cooperativa distribuída com princípios feministas
• Plataforma Cataki (Brasil): Rede de catadores de recicláveis com plataforma
cooperativa
Princípios praticados: Propriedade coletiva, democracia econômica,
anti-extrativismo.
28.6.3 Quilombos Digitais e Afrofuturismo Hacker
• Casa de Cultura Tainã (São Paulo): Coletivo de hackers negros que desenvolve
tecnologias para comunidades periféricas
• AfroBytes (África do Sul): Comunidade de desenvolvedores negros que pratica
Ubuntu
• Black Socialists in America (Tech Caucus): Ferramentas digitais para
organização política de comunidades negras
Princípios praticados: Ubuntu, justiça racial, tecnologia como reparação
histórica.
28.6.4 Tecnologias Budistas e Taoístas
• Plum Village App: Aplicativo da comunidade de Thich Nhat Hanh — gratuito, sem
anúncios, sem rastreamento
• Mastodon e Fediverse: Redes sociais descentralizadas com princípios budistas
• Permacomputing: Movimento que aplica permacultura ao design de computadores
Princípios praticados: Não-extração, temporalidades múltiplas, desaceleração.
28.6.5 Iniciativas Estatais de Buen Vivir Digital
• Constituição do Equador (2008): Direito à comunicação como parte do Sumak
Kawsay
• Lei Plurinacional das Telecomunicações (Bolívia, 2011): 17% do espectro para
rádios comunitárias indígenas
• Plano Nacional de Banda Larga (Brasil, 2010): Tentativa de universalizar
internet como direito
Princípios praticados: Comunicação como direito, não como mercadoria.
Pluralidade de vozes.
28.7 Síntese Final: O Pluriverso Digital como Horizonte
Este livro começou com Marx e Wiener — teoria crítica do capitalismo e ciência do controle e da
comunicação. Percorremos correntes marxistas contemporâneas, experimentos históricos de
cibernética socialista, análises geopolíticas, propostas de políticas públicas. E chegamos,
finalmente, às epistemologias não-ocidentais: Guarani, Oriental, Ubuntu, Sumak Kawsay.
Por que este percurso?
Porque a crise do capitalismo digital não será resolvida apenas com "melhores políticas"
ou "regulação mais forte". É uma crise civilizacional, que exige repensarmos
fundamentos ontológicos, epistemológicos, cosmológicos.
O projeto do capitalismo de plataforma — e antes dele, do colonialismo europeu — foi impor uma
monocultura cosmotécnica: um único modo de se relacionar com tecnologia,
natureza, comunidade. Este projeto está colapsando:
• Ecologicamente: Mudança climática, 6ª extinção em massa, poluição digital
• Socialmente: Desigualdade extrema, precarização, solidão epidêmica
• Politicamente: Fascismo digital, vigilância totalitária, morte da democracia
liberal
🌍
"Um mundo onde caibam muitos mundos"
— Slogan zapatista
A alternativa não é outro universalismo
(tecnologia chinesa vs americana, socialismo digital soviético vs capitalismo digital
ocidental). A alternativa é o pluriverso.
Pluriverso digital significa:
1. Múltiplas cosmotécnicas, cada uma adequada a seu território, história,
comunidade
2. Interoperabilidade sem universalidade: Redes que se conectam sem impor
modelos únicos
3. Autodeterminação tecnológica: Comunidades decidem suas próprias tecnologias
4. Diversidade como princípio de design: Biodiversidade digital, não monocultura
5. Respeito a quem escolhe não digitalizar: Direito ao offline, ao analógico, ao
"atraso" voluntário
Este não é um projeto utópico abstrato. É urgente, concreto, já em andamento nas margens — nas
aldeias indígenas com redes mesh, nos quilombos digitais, nas cooperativas de plataforma, nos
coletivos hackers do Sul Global.
A pergunta é: Os centros de poder (Estados, corporações,
universidades) vão se juntar a este movimento, ou vão continuar insistindo na monocultura
até o colapso final?
Conclusão da Parte VII: Cosmotécnicas Plurais como Fundamento
Este capítulo encerra a Parte VII do livro, dedicada à exploração de
cosmotécnicas plurais — Guarani (Nhandereko), Orientais (Taoísmo, Budismo, Vedas), Ubuntu
africano e Sumak Kawsay andino.
O que aprendemos nestas quatro tradições?
Primeiro, que a crise do capitalismo digital não é meramente técnica ou
econômica, mas cosmológica. O extrativismo de dados, a economia de vigilância,
a uberização do trabalho — todos emergem de uma cosmologia específica que foi naturalizada como
"a única possível".
Segundo, que existem outras raízes para pensar tecnologia,
comunidade e cosmos. Estas tradições sempre rejeitaram a separação sujeito/objeto, o
individualismo possessivo, a natureza como recurso inerte, o crescimento como imperativo, a
tecnologia como neutra e universal.
Terceiro, que estas epistemologias não são apenas "interessantes teoricamente",
mas estão sendo praticadas hoje: em redes mesh indígenas, cooperativas de
plataforma, quilombos digitais, projetos de software livre guiados por Ubuntu.
Quarto, que a pluriversalidade — "um mundo onde caibam muitos
mundos" — não é utopia abstrata, mas necessidade prática para a sobrevivência
ecológica e social no século XXI.
O Caminho Adiante
Voltemos ao conceito Guarani: Oguatá Porã — "caminhar bem".
Caminhar bem não significa necessariamente chegar a um destino final. Significa:
1. Prefigurar: Praticar, nos movimentos de hoje, as relações que queremos para o
amanhã
2. Resistir: Não se render à inevitabilidade do capitalismo de plataforma
3. Aprender: Ouvir as epistemologias sistematicamente silenciadas
4. Construir: Mesmo que pequeno, mesmo marginal, construir tecnologias de outro
tipo
Os povos indígenas, africanos e asiáticos resistem há séculos. Eles não foram derrotados. Eles
ainda caminham.
Nós, que habitamos os centros ou as periferias ocidentalizadas, temos muito a aprender. Não se
trata de "aplicar" Ubuntu ou Nhandereko como frameworks prontos, mas de ouvir,
dialogar, desaprender o que nos foi ensinado como universal.
Transição para os Apêndices
Com este capítulo, encerramos a jornada teórica principal do livro. Percorremos:
• Partes I-II: Fundamentos marxistas e cibernéticos
• Parte III: Correntes críticas contemporâneas
• Parte IV: Experimentos históricos de cibernética socialista
• Parte V: Análise geopolítica e conjuntura brasileira
• Parte VI: Propostas e políticas públicas
• Parte VII: Cosmotécnicas plurais e epistemologias decoloniais
Os Apêndices que seguem oferecem recursos práticos: glossário de termos,
biografias de pensadores-chave, cronologias históricas, bibliografia comentada, recursos para
ação política e guias de leitura complementar.
A revolução cibernética não virá apenas de São Francisco, Beijing
ou São Paulo. Ela virá também — e talvez principalmente — das aldeias, dos quilombos, das
comunidades indígenas e periféricas que sempre resistiram ao projeto
colonial-capitalista.
Oguatá
Porã. Caminhemos bem — e continuemos nos apêndices com as ferramentas para essa
caminhada.
🔗 Conexões com Todos os Capítulos — Síntese
Pluriversal Final
🌍 Cap 28 como Convergência das 4 Cosmotécnicas (Caps 26-28)
Este capítulo sintetiza viagem epistemológica completa:
- Cap 26
(Nhandereko Guarani): Jopói (reciprocidade), Tekoa (território),
anti-acumulação. Contribuição: tecnologia territorializada, comunidades
como unidade básica.
- Cap 27
(Epistemologias Orientais): Wu Wei (não-força), Pratītyasamutpāda
(interdependência), Wabi-Sabi (imperfeição). Contribuição:
desaceleração, tecnologias respiratórias, crítica à otimização.
- Cap 28 adiciona Ubuntu (África): "Eu sou porque nós somos".
Ontologia relacional radical, justiça restaurativa. Contribuição:
identidades coletivas primárias, moderação via diálogo.
- Cap 28 adiciona Sumak Kawsay (Andes): Bem Viver, Pachamama
sujeito de direitos. Contribuição: tecnologia regenerativa, direitos da
natureza digital.
Ressonâncias entre as 4: Todas rejeitam individualismo, acumulação
infinita, dualismo sujeito/objeto, crescimento como imperativo, tecnologia
universal. Pluriverso = múltiplas cosmotécnicas coexistindo.
🔄 7 Princípios Decoloniais vs Todo Capitalismo Digital (Caps 3-25)
Cap 28 propõe 7 princípios que invertem CADA aspecto do capitalismo
digital:
1. Relacionalidade Ontológica (Ubuntu) vs Individualismo (Cap 10 Sujeito
Automático):
- Capitalismo: Indivíduo isolado, competição zero-sum,
propriedade privada de dados/código.
- Ubuntu: "Eu" emerge de "nós", reputação não-competitiva,
commons digitais por design. Identidades coletivas primárias.
2. Reciprocidade Obrigatória (Jopói/Ayni) vs Acumulação (Cap 3-16):
- Capitalismo: Extração de dados/trabalho/atenção para acumulação
privada (Cap 8
trabalho
imaterial, 12
economia
atenção).
- Jopói/Ayni: Quem recebe DEVE retribuir. Algoritmos que impedem
acumulação, limites de escala, redistribuição forçada.
Anti-monopolização estrutural.
3. Pluriversalidade Tecnológica vs Monocultura (Cap 25 China, 21
Brasil):
- Capitalismo: 5 plataformas globais (Google, Meta, Amazon,
Apple, Microsoft) = monocultura tecnológica. Todos devem usar mesma interface,
mesma lógica.
- Pluriverso: Múltiplas cosmotécnicas — rede social Guarani opera
em tempo cíclico com categorias Guarani, não "seguidores/curtidas".
Interoperabilidade sem homogeneização.
4. Temporalidades Múltiplas (Wu Wei) vs Aceleração (Cap 14 Vício, 15
Esports):
- Capitalismo: Tempo linear 24/7, notificações infinitas, scroll
sem fim, otimização constante.
- Wu Wei/Tempo Guarani: Slow tech, respeita ciclos
biológicos/sociais, direito ao atraso. Design anti-vício por
padrão.
5. Direitos da Natureza Digital (Pachamama) vs Extrativismo (Cap
21 Brasil periferia):
- Capitalismo: Dados/energia/minerais raros extraídos até
exaustão. Cloud = minas de lítio + fazendas de dados.
- Pachamama: Ecossistemas (terrestres e digitais) são sujeitos.
Avaliação Impacto Ambiental obrigatória, tecnologias regenerativas.
Biodiversidade digital.
6. Soberania Territorial (Tekoa) vs Dependência (Cap 20-21
Geopolítica):
- Capitalismo: Infraestrutura em AWS/Azure, dados em servidores
EUA/China, algoritmos proprietários.
- Tekoa: Infraestrutura comunitária local, servidores em
território, dados não saem sem consenso. Redes mesh indígenas já
praticam.
7. Justiça Restaurativa (Ubuntu) vs Necropolítica (Cap 22 Fascismo
Tela):
- Capitalismo: Shadowban algorítmico, cancelamento, exclusão
permanente, crédito social punitivo (Cap 25 China).
- Ubuntu: Diálogo antes de banimento, caminhos de retorno,
comunidades decidem regras. Transformação, não punição.
✊ Já Está Acontecendo: 5 Exemplos Concretos (ponte Cap 19/24)
Cap 28 lista projetos REAIS que praticam princípios pluriversais:
1. Redes Mesh Indígenas (México, Canadá):
- Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias (Oaxaca): Povos
zapotecos/mixtecos construíram rede celular própria com tecnologia 2G. Sem
empresas, sem Estado. Soberania territorial + tecnológica.
- First Mile Connectivity (Canadá): First Nations desenvolvem
infraestrutura. Conecta com Cap 20 (soberania
rede).
2. Cooperativas Plataforma Sul Global (Cap 19
expandido):
- CoopCycle: Cooperativa entregadores compete com Uber Eats na
Europa/América Latina. Software livre, governança democrática.
- Cataki (Brasil): Rede catadores recicláveis com plataforma
cooperativa. Conecta Cap 21 (Brasil) + 19
(cooperativas).
3. Quilombos Digitais e Afrofuturismo Hacker:
- Casa de Cultura Tainã (SP): Coletivo hackers negros desenvolve
tecnologias para periferias. Pratica Ubuntu na prática.
- AfroBytes (África do Sul): Desenvolvedores negros que codificam
princípios Ubuntu em arquiteturas de software.
4. Tecnologias Budistas/Taoístas:
- Plum Village App: Comunidade Thich Nhat Hanh — gratuito, zero
rastreamento, sem anúncios. Tecnologia contemplativa real.
- Mastodon/Fediverse: Redes sociais descentralizadas sem
algoritmo viciante. Pratica Wu Wei (não-força).
5. Iniciativas Estatais Buen Vivir (Cap 24
políticas):
- Constituição Equador (2008): Comunicação como direito (não
mercadoria), Pachamama sujeito de direitos.
- Lei Telecomunicações Bolívia (2011): 17% espectro para rádios
comunitárias indígenas. Estado reconhece pluriversalidade.
Lição: Não é utopia — já está sendo construído.
Marginal, sim. Pequeno, sim. Mas prova que é possível.
⚠️ Perigos: Apropriação e Cooptação (lições Caps 13-16, 26-27)
Cap 28 alerta: capitalismo coopta TUDO. Como evitar?
Exemplos de apropriação já acontecendo:
- McMindfulness (Cap
27): Budismo → app Calm/Headspace US$ 15/mês. Torna
suportável exploração.
- Ayahuasca luxury (Cap
16): Sacramento Guarani → retiro Silicon Valley US$ 5mil.
Extrativismo epistêmico.
- "Economia colaborativa": Uber se autodenomina
"compartilhamento" — é uberização (Cap 8).
- Greenwashing digital: Amazon anuncia "neutralidade carbono"
enquanto consome energia de 10 países.
Diferença crucial entre apropriação e aprendizado:
- Apropriação: Extrai conceito, monetiza, mantém estrutura
capitalista. Ex: "mindfulness corporativo" aumenta produtividade em empresa
exploradora.
- Aprendizado: Ouve epistemologia, transforma estrutura social,
apoia lutas materiais. Ex: cooperativa de plataforma que pratica Ubuntu
e redistribui propriedade.
Teste prático: Se projeto "inspirado" em epistemologia
indígena/oriental aceita VC (venture capital), distribui lucro a acionistas, não tem
indígenas/orientais em controle = apropriação. Se é cooperativa,
software livre, apoia demarcação de terras = aprendizado.
🎯 Síntese com Cap
23 (Dupla Face) e 24 (Políticas): Caminho
Completo
Cap 28 fecha círculo iniciado em Cap 23:
Cap
23 propôs: Cibernética tem dupla face — controle (Caps 3-22
mostraram) vs libertação (Caps 17-19, 23-28 constroem).
Cap
24 apresentou: Políticas concretas para Brasil — CLT apps,
BNDES cooperativas, taxar Big Techs, BRICS Pay, etc. Dentro da matriz
ocidental/estatal.
Caps 26-28 adicionam: Mas políticas estatais sozinhas
insuficientes. Precisam dialogar com cosmotécnicas não-estatais (indígenas vivem sem
Estado há milênios). Pluriverso = Estado + comunidades autônomas +
cooperativas + territórios indígenas.
Caminho completo (síntese 23-24-28):
- Curto prazo (Cap
24): Regulação estatal dura — CLT plataformas, taxação Big
Techs, auditoria algoritmos, BRICS Pay. Conter dano do capitalismo
digital.
- Médio prazo (Cap 19 +
28): Construir alternativas — cooperativas plataforma, redes mesh
comunitárias, quilombos digitais, software livre. Prefigurar outra
economia.
- Longo prazo (Cap 28): Transformação cosmológica — pluriverso
digital onde múltiplas cosmotécnicas coexistem. Estado reconhece e apoia
diversidade (como Bolívia/Equador). Nhandereko + Ubuntu + Wu Wei +
políticas estatais = síntese.
Não é sequência linear (primeiro regular, depois cooperativas,
depois cosmotécnicas) — é simultaneidade estratégica. Fazer tudo ao
mesmo tempo, em escalas diferentes, articulando lutas.
🌍 Cap 28 = Horizonte Utópico Fundamentado: Não é "sonho impossível" —
redes mesh indígenas, cooperativas plataforma, quilombos digitais, software livre Ubuntu
JÁ EXISTEM. Pequenos, marginais, mas provam viabilidade. Pluriverso não é futuro
distante — é presente lutando para se expandir. Luta não é apenas econômica
(Cap 8) ou
política (24),
mas cosmológica — qual mundo queremos habitar? Capitalismo de
plataforma ou Ubuntu? Acumulação ou Jopói? Monocultura ou Pluriverso? Oguatá
Porã — caminhemos bem rumo a tecnologias de outro tipo. 🌱✊
📖
Glossário Mínimo de Conceitos Pluriversais
Ubuntu (Nguni): "Eu sou porque nós somos". Filosofia sul-africana de
humanidade relacional.
Sumak Kawsay (Quéchua) / Suma Qamaña (Aymara): "Bem Viver". Cosmologia
andina de vida boa comunitária e ecológica.
Nhandereko (Guarani): "Nosso modo de ser". Filosofia de vida baseada em
reciprocidade e territorialidade.
Tekoa (Guarani): Território como totalidade de relações.
Jopói (Guarani): Reciprocidade. Tecnologia anti-acumulação.
Pachamama (Quéchua/Aymara): Mãe Terra. Sujeito de direitos, não recurso.
Wu Wei (無為) (Taoísmo): Não-ação. Ação sem força.
Anatman (अनात्मन्) (Budismo): Não-eu. Impermanência do self.
Karuna (करुणा) (Budismo): Compaixão universal.
Cosmotécnica: Unidade entre cosmos (ordem moral) e técnica. Cada cultura
tem sua própria cosmotécnica.
Pluriverso: "Um mundo onde caibam muitos mundos". Multiplicidade
ontológica.
💭
Perguntas para Reflexão e Debate
1. Como seria um perfil de rede social baseado em Ubuntu, onde o "eu"
sempre aparece em relação ao "nós"?
2. Se uma plataforma fosse guiada por Sumak Kawsay, quais seriam suas
métricas de sucesso?
3. Uma startup digital baseada em princípios indígenas rejeitaria
investimento de venture capital? Por quê?
4. Como seria a moderação de conteúdo em uma rede social que pratica
Ubuntu?
5. Se ecossistemas digitais têm direitos (como Pachamama), isto implica
proibir certas tecnologias?
6. Por que o capitalismo consegue cooptar conceitos como Ubuntu e
Mindfulness?
7. Alternativas locais e comunitárias podem competir com plataformas
globais?
8. Como articular cosmologias não-estatais com a necessidade de atuação
estatal para regular Big Tech?
9. Como seria uma tecnologia que respeita temporalidades múltiplas (não
apenas tempo linear, 24/7)?
10. "Um mundo onde caibam muitos mundos" é compatível com capitalismo
global?
📚 Referências do Capítulo 28
Filosofia Ubuntu
• Desmond Tutu (1999). No Future Without Forgiveness. New York:
Doubleday.
• Mogobe Ramose (2002). African Philosophy Through Ubuntu. Harare: Mond
Books.
• Thaddeus Metz (2007). "Toward an African Moral Theory". Journal of
Political Philosophy, 15(3), 321-341.
• Leonhard Praeg (2014). A Report on Ubuntu. Pietermaritzburg:
University of KwaZulu-Natal Press.
Sumak Kawsay / Buen Vivir
• Alberto Acosta (2013). El Buen Vivir: Sumak Kawsay, una oportunidad para
imaginar otros mundos. Barcelona: Icaria.
• Eduardo Gudynas (2011). "Buen Vivir: Today's Tomorrow". Development,
54(4), 441-447.
• Catherine Walsh (2010). "Development as Buen Vivir: Institutional arrangements
and (de)colonial entanglements". Development, 53(1), 15-21.
• Constituição do Equador (2008). Assembleia Constituinte do Equador.
• Constituição da Bolívia (2009). Assembleia Constituinte da Bolívia.
Crítica à Cooptação
• Pablo Dávalos (2014). "Sumak Kawsay (Buen Vivir) y la descolonización en el
Ecuador post-neoliberal". In Vivir Bien: ¿Paradigma no capitalista?, La Paz:
CIDES-UMSA.
• John-Andrew McNeish (2013). "Extraction, Protest and Indigeneity in Bolivia".
Latin American and Caribbean Ethnic Studies, 8(2), 221-242.
Cosmotécnica e Pluriverso
• Yuk Hui (2016). The Question Concerning Technology in China.
Falmouth: Urbanomic.
• Arturo Escobar (2018). Designs for the Pluriverse. Durham: Duke
University Press.
• Mario Blaser (2010). Storytelling Globalization from the Chaco and
Beyond. Durham: Duke University Press.
Experiências Práticas
• Erick Huerta (2016). "Rhizomatica: The Power of Community Cellular Networks".
Internet Policy Review, 5(2).
• Trebor Scholz (2016). Platform Cooperativism. New York: Rosa
Luxemburg Stiftung.
• Stacco Troncoso & Ann Marie Utratel (2019). DisCO Manifesto.
DisCO.coop.
Tecnologia e Espiritualidade
• Thich Nhat Hanh (2014). The Art of Communicating. New York:
HarperOne.
Teorias Decoloniais
• Walter Mignolo (2011). The Darker Side of Western Modernity. Durham:
Duke University Press.
• Aníbal Quijano (2000). "Coloniality of Power, Eurocentrism, and Latin
America". Nepantla, 1(3), 533-580.
• Boaventura de Sousa Santos (2014). Epistemologies of the South.
London: Routledge.
• Silvia Rivera Cusicanqui (2010). Ch'ixinakax utxiwa: On Decolonising
Practices and Discourses. Buenos Aires: Tinta Limón.
---
Parte VIII: Meta-Reflexões — Comunicação, Dialética e o Fim do
Ultrarracionalismo
📍 Você está aqui —
Fechamento do Ciclo
Partes
I-VI ✓
→
Parte
VII ✓
→
Parte
VIII
Progresso: ~98% do livro |
Tempo estimado: 45 minutos
✅ O que você já construiu
- Fundamentos: Marx + Cibernética (Partes I-II)
- Crítica completa do capitalismo digital (Partes III-VI)
- Alternativas cosmotécnicas plurais (Parte VII)
🎯 O que você vai
refletir nesta Parte
- Cap 29: Como comunicação constrói realidade (meta-análise do livro)
- Cap 30: Filosofia→Ciência (o salto que este livro tentou)
- Cap 31: Fim do ultrarracionalismo (neoliberalismo progressista)
⚠️ Aviso Final
Esta parte é DIFERENTE. Não é mais "sobre" o
mundo — é sobre ESTE LIVRO. Meta-reflexão. Se capítulos 1-28 foram o mapa, Parte VIII é o
cartógrafo observando o próprio ato de mapear. Prepare-se para ver a água em que nadamos.
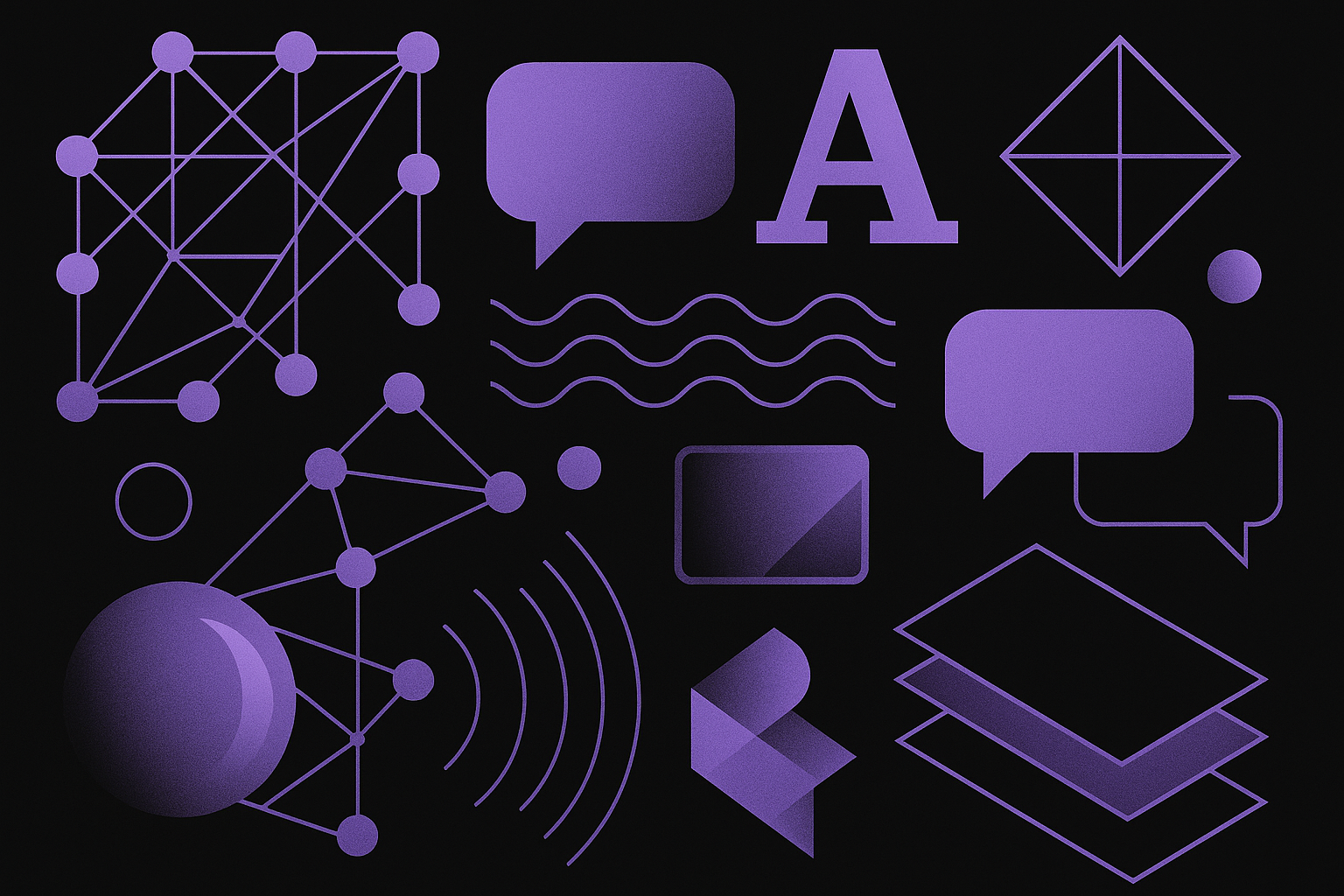
Capítulo 29
Capítulo 29: A Arquitetura Invisível: Como a Comunicação Constrói, Espelha e Transforma a
Realidade
Resumo: Este capítulo explora a comunicação para além da mera transmissão de
dados, posicionando-a como a força dialética fundamental que tece a teia da realidade social e
tecnológica. Partindo de cosmovisões indígenas, passando por ferramentas linguísticas e rituais,
e culminando numa análise do processo do pensamento reflexivo, argumentamos que a comunicação é
simultaneamente o espelho e o arquiteto da superestrutura cultural, mediando as relações entre
matéria, informação e consciência.
29.1 Do "Eu" ao "Nós" — A Base Relacional da Realidade
A pergunta mais profunda sobre a comunicação não é o que ela transmite, mas o
que ela constrói. Nossa investigação começa com um insight fundamental de povos
originários do Brasil: para os Guarani, o conceito de Ava Reko (ou
Ñande Reko) descreve o "modo de ser pessoa", um estado de existência onde o
"eu" individual só se completa e compreende dentro do "nós" coletivo. Esta não é uma mera
característica cultural, mas um pilar ontológico. Revela que a identidade, a própria noção de
ser, é relacional e construída comunicativamente.
Voltemos ao Capítulo 26, onde exploramos em profundidade o Nhandereko
Guarani. Lá vimos que Jopói (reciprocidade) não é apenas uma ética econômica,
mas uma estrutura comunicativa. Cada ato de dar/receber é simultaneamente um ato de fala: "Eu te
reconheço como parte do meu 'nós'". A tecnologia digital capitalista, ao contrário, comunica
constantemente: "Você é um indivíduo isolado competindo por recursos escassos".
Esta percepção ancestral serve como nossa pedra de toque para decifrar um princípio universal: as
ferramentas de comunicação são muito mais que instrumentos neutros; elas são os espelhos
ativos e constitutivos da superestrutura — o conjunto de instituições, cultura,
valores e ideologias que organizam uma sociedade (Capítulo 1, onde Marx
introduziu a distinção base/superestrutura). Este capítulo desvenda como essa arquitetura
invisível se ergue, desde a gramática do pensamento até os rituais do poder, e como o pensamento
reflexivo age como o motor dialético desta construção incessante.
29.2 O Espelho da Superestrutura: As Ferramentas que Moldam o Mundo
A superestrutura de uma sociedade – seu sistema de crenças, hierarquias e valores – não é uma
entidade abstrata. Ela se materializa e se reproduz através de ferramentas de comunicação
específicas, que podemos analisar em três dimensões entrelaçadas:
29.2.1 A Dimensão Estrutural: A Gramática como Destino
A linguagem impõe uma grade de interpretação sobre o mundo. A hipótese de
Sapir-Whorf (em sua forma mais branda) sugere que a estrutura da nossa língua
influencia a estrutura do nosso pensamento.
- Gênero Gramatical: A divisão binária em masculino e feminino no português
impõe uma lente categórica à realidade, espelhando e reforçando construções sociais de
gênero. Quando dizemos "os usuários" (masculino) para se referir a um grupo misto, estamos
comunicando uma hierarquia implícita.
- Tempo e Evidencialidade: Línguas que codificam como se sabe de um
fato (se por testemunho direto ou por relato) espelham uma cosmovisão onde o conhecimento e
a verdade são conceituados de maneira radicalmente diferente da nossa. No Guarani, você NÃO
PODE dizer "Está chovendo" sem especificar se você viu a chuva, ouviu falar dela, ou está
inferindo.
- O "Nós" Inclusivo: A distinção linguística que povos como os Guarani fazem
entre "nós" (eu e você) e "nós" (eu e outros, sem você) é uma ferramenta gramatical que
materializa uma superestrutura baseada na pertença precisa e na identidade coletiva.
💡
Conexão com o Livro Inteiro
Este capítulo está fazendo algo que o livro fez implicitamente desde o início:
usando linguagem para construir uma realidade alternativa. Ao
introduzir termos como "mais-valia" (Cap 1), "feedback" (Cap 2), "uberização" (Cap 3), "Nhandereko"
(Cap 26), este livro não estava apenas descrevendo conceitos —
estava construindo um vocabulário para ver relações de poder
invisíveis. A gramática cria o mundo.
29.2.2 A Dimensão Performática: A Encenação do Poder
A comunicação é um ritual que performa e, portanto, concretiza relações sociais. Seguindo a
metáfora dramatúrgica de Erving Goffman, observamos:
- Ações de Fala: Quando um juiz profere uma sentença, ele não a
descreve; ele a realiza. Esse poder performático deriva
diretamente de toda a superestrutura jurídica que o autoriza. No Capítulo
22 (Necropolítica Digital), vimos como algoritmos performam sentenças de morte
social através de shadowbans — não há juiz humano, mas o efeito é o mesmo.
- Cenografia do Poder: Um comício político, com seu palanque, bandeiras e
microfones, é uma encenação comunicativa que visa produzir e legitimar autoridade. A
linguagem corporal, os protocolos de reverência e os códigos de vestimenta são ferramentas
não-verbais que espelham e reforçam hierarquias. Pense na Sala de Operações do Cybersyn (Cap 18) — sua estética futurista comunicava um tipo
diferente de poder (transparente, coletivo) do que uma sala de reunião executiva
tradicional.
- Rituais Digitais: O "check-in" no Facebook, o Stories no Instagram, o tweet
performático — todos são rituais que comunicam pertencimento, status, identidade. A economia da atenção (Cap 12) é construída sobre a performatividade
constante da existência.
29.2.3 A Dimensão Hegemônica: A Naturalização do Arbitrário
O ápice do poder de uma superestrutura é quando ela se torna "senso comum". O conceito de
hegemonia cultural, de Antonio Gramsci, descreve este processo, no qual as
ferramentas de comunicação são vetores cruciais.
- Enquadramento Midiático: Os meios de comunicação não apenas reportam fatos;
eles os enquadram. A escolha de especialistas, o uso de termos como "gastos
sociais" versus "investimentos sociais", constroem uma versão da realidade que tende a
reforçar a ordem vigente. O Capítulo 22 mostrou como o "Gabinete do
Ódio" no Brasil usou enquadramento sistemático para transformar adversários políticos em
"inimigos da nação".
- Currículo Escolar: A narrativa histórica ensinada nas escolas é uma
ferramenta de comunicação que espelha uma ideologia nacional específica, omitindo certas
vozes e glorificando outras, tornando uma versão particular da história em "A História".
- Publicidade: Mais do que vender produtos, a publicidade comunica um estilo
de vida ideal, espelhando e reproduzindo a superestrutura do capitalismo de consumo: a
felicidade através da posse, o individualismo e o crescimento infinito. A engenharia do vício (Cap 14) é publicidade levada ao extremo —
comunicando constantemente "você está incompleto sem mais um scroll".
29.3 A Dança Dialética: Ironia, Sarcasmo e a Complexidade Reflexiva
Dentro deste campo de forças da superestrutura, emergem ferramentas de comunicação de alta
complexidade que brincam com suas próprias regras. A ironia e o sarcasmo são exemplos máximos.
- Ondas de Informação de Duas Camadas: Eles operam criando uma dissonância
deliberada entre a camada literal (o que é dito) e a camada intencional (o que é
significado). Esta contradição é o motor do seu significado. Quando dizemos "Que legal, mais
um app de entrega explorando trabalhadores", a camada literal ("legal") contradiz a
intencional ("péssimo"), e é nessa tensão que o significado emerge.
- Ferramentas do "Nós": Para funcionarem, dependem de um contexto partilhado.
O ouvinte deve ter conhecimento suficiente para perceber a dissonância e cocriar o
significado. É uma dança cognitiva que fortalece os laços do grupo, ecoando o Ava
Reko guarani. Ironia pressupõe comunidade.
- Espelhos Deformantes: A ironia age como um espelho que distorce para
revelar. Ela expõe as incongruências, hipocrisias e contradições da superestrutura, usando a
própria lógica da linguagem para subvertê-la. É uma forma de metacomunicação que comenta o
próprio ato de comunicar.
🎭
Este Livro é Irônico?
Em certo sentido, sim. Ao usar ferramentas do capitalismo digital (hiperlinks, navegação
não-linear, design de UX) para criticar o capitalismo digital, o livro performa uma
ironia estrutural. Ao escrever em português acadêmico (linguagem de poder) para criticar
estruturas de poder, há uma tensão produtiva. O Cap 28 chegou mais
perto de resolver isso ao incorporar epistemologias não-ocidentais (Ubuntu, Nhandereko),
mas a contradição permanece: você não pode escapar completamente do sistema ao
criticá-lo de dentro. A metacomunicação é tudo que podemos fazer.
29.4 A Matéria-Prima da Complexidade: O Pensamento Reflexivo como Motor Dialético
Chegamos ao cerne da questão: o que impulsiona este sistema incessante? A resposta reside na
natureza reflexiva do pensamento, o processo dialético que liga matéria e
informação.
Este processo pode ser entendido como um ciclo contínuo de feedback (Cap 2 —
Wiener), materializando-se em três níveis de interação:
1. Entre Matéria e Informação (A Emergência)
A informação é inerentemente material. O DNA (matéria) codifica a informação da vida. O cérebro
(matéria) gera a consciência (informação). Este é o salto dialético primordial: a tese
(matéria) gera sua antítese (informação imaterial), resultando numa nova síntese (a mente
consciente).
Voltemos ao Capítulo 2, onde Shannon mostrou que informação é mensurável em
bits, mas também física — requer energia para ser transmitida, armazenada. O Capítulo 11 (Síntese Marx+Cibernética) argumentou que General
Intellect (Marx) = informação quantificável (Shannon). Este
capítulo fecha o loop: informação emerge de matéria, mas TAMBÉM transforma matéria.
2. Entre Informação e Informação (A Auto-Geração)
Uma vez emergida, a informação começa a interagir consigo mesma, criando ecossistemas autônomos.
A matemática deriva teoremas de teoremas. Ideias colidem e geram novas ideias. As
superestruturas culturais são redes complexas de informação em diálogo e competição permanentes.
O Capítulo 10 (Sujeito Automático) mostrou como o capital opera como um
processo auto-reprodutor de informação — D-M-D' é um loop que roda
independentemente de intenções humanas individuais. O capitalismo é um sistema de informação que
se alimenta de si mesmo.
3. Entre Matéria e Matéria (A Realização)
O ciclo fecha-se quando a informação processada retorna para transformar o mundo material. Um
projeto de engenharia (informação) guia a construção de uma ponte (matéria). O conhecimento
médico (informação) conduz uma cirurgia (ação sobre a matéria).
O Capítulo 18 (Cybersyn) foi um exemplo perfeito: informação sobre a
economia chilena (telex das fábricas) → processamento (computadores Burroughs) → decisões (Sala
de Operações) → ações materiais (ajustar produção). Feedback loop completo da matéria à
matéria, mediado por informação.
Diagrama da Espiral Dialética
A Espiral Dialética
da Complexidade
↓
MATÉRIA BRUTA (Tese)
Contém potencial para informação
↓ emerge como ↓
INFORMAÇÃO/CONSCIÊNCIA (Antítese)
Vida, depois consciência
reflexiva
↓ cria ↓
SISTEMAS SOCIAIS/TECNOLOGIAS (Síntese)
Através do pensamento
reflexivo
↓ geram ↓
NOVA MATÉRIA TRANSFORMADA (Nova Tese)
Cidades, computadores, redes
digitais
↓ ciclo continua ↓
ad infinitum...
Este tríplice movimento forma uma espiral dialética da complexidade. O
pensamento reflexivo é, portanto, o artífice que transforma o bloco de mármore do mundo real,
guiado pelos modelos abstratos que ele próprio criou a partir desse mundo.
29.5 Conclusão: O Campo de Batalha da Realidade
A comunicação, portanto, longe de ser um canal passivo, é o campo de batalha
ontológico onde a realidade social é construída, contestada e reconstruída. Das
gramáticas que moldam nosso pensamento aos rituais que performam nosso poder, das ironias que
subvertem nossa lógica ao próprio ato reflexivo que nos permite transcender nossa condição
imediata, somos seres feitos de linguagem.
Compreender que as ferramentas de comunicação são espelhos da superestrutura é adquirir um poder
crítico fundamental: a capacidade de ver a água em que nadamos. É perceber que a linguagem do
"mercado", os rituais da "autoridade" e as narrativas da "história" não são naturais, mas
construídas. E o que é construído pode ser desconstruído e reconstruído.
A arquitetura invisível que nos cerca é um artefacto humano. E, como demonstram os Guarani com
seu Ava Reko, assim como todos os criadores de novas linguagens, tecnologias e
arte, a chave para transformar o "nós" de amanhã está na forma como comunicamos o nosso "eu"
coletivo hoje.
O diálogo, no fim, é tudo. Este livro foi um diálogo de 33 capítulos (do 0 ao
32). Mas a
conversa não termina aqui. Ela continua em cada leitor que usa esses conceitos para
comunicar — e portanto construir — uma realidade diferente. Ava
Reko: você é pessoa porque nós somos pessoas. Este livro só existe porque você o
lê. E ao lê-lo, você o recria.
🔗 Conexões com Outros Capítulos
📐 1. Superestrutura e Infraestrutura Material (Cap 1: Marx)
Conexão: Este capítulo desenvolve a distinção marxista entre
base econômica (relações de produção) e
superestrutura (cultura, ideologia, instituições). Marx
argumentou que a base determina a superestrutura "em última instância" — mas a
superestrutura tem autonomia relativa e pode influenciar a
base.
Insight deste capítulo:
Comunicação é o mecanismo pelo qual superestrutura se reproduz
e transforma. Quando você usa linguagem do "mercado livre" ou aceita "mérito"
como critério natural, está performando a superestrutura
capitalista. A gramática não é neutra — ela espelha e reforça relações de poder.
Aplicação prática: Mudar comunicação
(adotar vocabulário de "comuns digitais" ao invés de "propriedade intelectual",
"cooperação" ao invés de "competição") é luta cultural que
afeta luta material. É por isso que movimentos sociais sempre criam novas
linguagens.
🔄 2. Feedback Comunicativo (Cap 2: Cibernética + Cap 11: Síntese)
Conexão: Cap 2 introduziu feedback loops como
mecanismo fundamental de sistemas complexos. Cap 11 mostrou como capital opera
via feedback (D-M-D'). Este capítulo revela que comunicação humana é o
feedback loop primordial que conecta matéria, informação e
consciência.
Insight deste capítulo: Pensamento
reflexivo (seção 29.4) é feedback de alta ordem:
- Nível 1: Matéria ↔ Informação (DNA codifica vida)
- Nível 2: Informação ↔ Informação (ideias geram ideias)
- Nível 3: Informação → Matéria (conhecimento transforma
mundo físico)
Este é o mesmo padrão de
cibernética de segunda ordem (observador
observando a si mesmo observando).
Aplicação prática: Plataformas
digitais exploram este feedback: você comunica (post) → algoritmo processa →
feed muda → você reage → novo post. O Cap 12 (Economia da
Atenção) mostrou como isso gera vício. Quebrar o loop requer
metacomunicação — falar sobre como comunicamos, não apenas
comunicar.
👁️ 3. Vigilância Linguística (Cap 3: Capitalismo de Vigilância + Cap 22:
Necropolítica)
Conexão: Zuboff mostrou que capitalismo de vigilância extrai
excedente comportamental — dados sobre nosso comportamento. Mas
este capítulo revela que linguagem é a primeira camada de vigilância: o
que você pode dizer determina o que você pode pensar.
Insight deste capítulo: Moderação de
conteúdo em plataformas não é apenas censura — é engenharia
linguística. Algoritmos que detectam "discurso de ódio" estão
decidindo quais formas de comunicação são permitidas. Isto
molda superestrutura: se você não pode nomear algo, ele se torna invisível
(exemplo: "genocídio" vs. "conflito" em Gaza — a palavra escolhida constrói
realidade política).
Aplicação prática: Cap 22 discutiu
shadowban como violência digital. Agora entendemos: shadowban é
assassinato comunicativo — você é impedido de participar da
construção social da realidade. É necropolítica aplicada à linguagem.
🌍 4. Cosmotécnicas como Cosmolinguísticas (Caps 26-28: Pluriverso)
Conexão: Parte VII argumentou que tecnologias não são neutras —
são cosmotécnicas, enraizadas em visões de mundo específicas.
Este capítulo generaliza: linguagens também são
cosmolinguísticas. Cada língua constrói uma realidade diferente.
Exemplos concretos:
- Guarani (Cap 26): Distinção entre "nós inclusivo" e "nós
exclusivo" materializa Ava Reko (relacionalidade) na gramática. Você NÃO
PODE falar em guarani sem marcar se o ouvinte está incluído no "nós".
- Ubuntu (Cap 27): "Umuntu ngumuntu ngabantu" ("Uma pessoa é
uma pessoa através de outras pessoas") não é apenas filosofia — é
ontologia linguística. Sujeito gramatical pressupõe
coletivo.
- Toki Pona: Língua construída com apenas 120 palavras. Força
simplicidade — você não pode expressar conceitos complexos, o que
muda como você pensa.
Aplicação prática: Resistência ao
colonialismo digital exige resistência linguística. Defender
línguas indígenas não é preservacionismo nostálgico — é defender modos
alternativos de construir realidade. Se português/inglês dominam
internet, suas ontologias (individualismo, propriedade, progresso linear) se
tornam universais por default.
🤖 5. Algoritmos como Linguagem Performativa (Cap 10: Sujeito Automático + Cap 15:
Discriminação)
Conexão: Cap 10 mostrou que algoritmos não apenas executam
comandos — eles constituem subjetividades. Este capítulo revela
que código é linguagem performativa (como sentença judicial que
cria realidade ao ser enunciada).
Insight deste capítulo: Quando
algoritmo de crédito diz "você é alto risco", não está descrevendo você
— está performando sua realidade econômica. Você se torna "alto
risco" porque bancos agem com base nisso. É profecia autorrealizável. Cap 15
mostrou que isso reproduz discriminação racial/gênero: algoritmo "comunica" (via
decisões automatizadas) que certos corpos valem menos.
Aplicação prática: Auditar
algoritmos não é apenas verificar precisão técnica — é análise
linguística. Que realidade o código está construindo? Que
categorias (raça, gênero, classe) ele torna salientes? Que alternativas ele
invisibiliza? Código é comunicação, e comunicação é poder.
🎭 6. Ironia como Ferramenta Revolucionária (Cap 8: Escola de Frankfurt + Este
Capítulo)
Conexão: Cap 8 apresentou crítica da indústria cultural
(Adorno/Horkheimer): cultura de massa reproduz ideologia dominante. Mas seção
29.3 deste capítulo mostra que ironia e sarcasmo são ferramentas de
resistência — metacomunicação que expõe contradições.
Insight deste capítulo: Ironia opera
em duas camadas:
- Camada literal: "Amo trabalhar 14 horas por dia!"
- Camada intencional: Crítica à exploração trabalhista
A tensão entre camadas
desnaturaliza o que parecia óbvio. Mas
ironia exige
comunidade que entenda o código (Ava Reko novamente —
"nós" que compartilha contexto).
Exemplo contemporâneo: Memes de
esquerda (Slavoj Žižek dizendo "pure ideology!", "We live in a society") usam
ironia para tornar visível a ideologia que Adorno disse ser invisível. Mas
capital coopta isso: marcas fazem "meme marketing" irônico. A luta
continua na linguagem.
💡 Síntese das Conexões
Este capítulo é a teoria da
comunicação que faltava ao livro. Todos os capítulos anteriores
usaram comunicação para construir argumentos, mas este analisa
comunicação como prática ontológica. Agora entendemos:
- Por que Marx importa (Cap 1): superestrutura se reproduz via comunicação
- Por que cibernética importa (Cap 2): comunicação é feedback
matéria↔informação↔consciência
- Por que plataformas são perigosas (Cap 3): monopolizam infraestrutura comunicativa
- Por que cosmotécnicas importam (Caps 26-28): línguas constroem mundos
- Por que este livro existe: mudar vocabulário é mudar realidade
possível
Próximo passo: Cap
30 mostra como comunicação (filosofia) se materializa em
ferramentas (ciência) que transformam mundo físico. A espiral dialética continua.
---
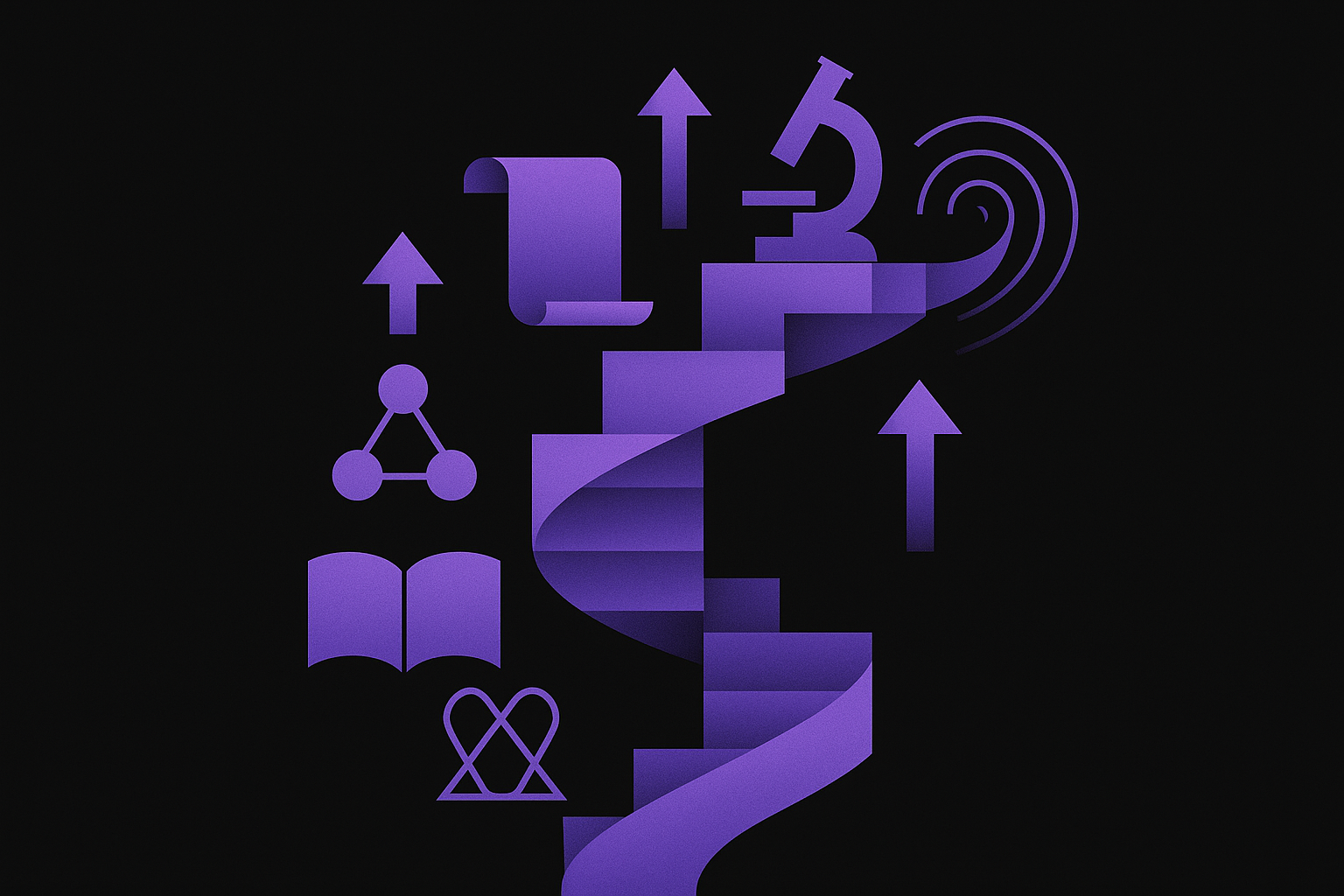
Capítulo 30
Capítulo 30: O Salto Dialético: Quando a Filosofia se Torna Ciência e Transforma o Mundo
Resumo: Este capítulo analisa o processo dialético pelo qual a abstração
filosófica se transforma em ferramenta científica concreta, alterando fundamentalmente nossa
relação com a realidade material. Através de três fases — a crise da abstração pura, a ponte
metodológica instrumental e a recriação sintética do real — exploramos como cada salto
qualitativo não substitui a filosofia, mas a concretiza e renova, gerando um ritmo permanente de
transformação cognitiva e material.
30.1 A Natureza do Salto: Negação e Transcendência
Quando o pensamento filosófico encontra seus limites, algo extraordinário acontece: ele não
desaparece — ele se transforma. Este momento de metamorfose é o que chamamos de
salto dialético, e seu entendimento é crucial para compreender a história do
conhecimento e, mais importante, para mapear possíveis futuros.
A filosofia, como explorado no Capítulo 1 sobre Marx, opera inicialmente no
campo das ideias puras. É abstração: tenta capturar essências, verdades universais, estruturas
fundamentais. Mas em determinado ponto, a abstração encontra uma contradição insolúvel — ela se
torna especulação sem fundamento, teoria desconectada da prática, mapa que não
corresponde ao território.
É aqui que o salto acontece. A filosofia não é simplesmente "abandonada" ou "provada errada". Ao
invés disso, ela se concretiza: busca ferramentas para testar,
medir, intervir no mundo material. Transforma-se em ciência. Mas este não é um
movimento linear de progresso — é uma espiral dialética.
🔄
O Padrão Dialético (Hegel → Marx → Este Livro)
Tese: Filosofia abstrata (busca essências)
Antítese: Crise da abstração (limites encontrados)
Síntese: Ciência concreta (ferramentas materiais testam ideias)
Nova Tese: Nova filosofia emerge das descobertas científicas
Este livro tentou fazer exatamente isso: Parte
I = Filosofia (Marx abstrato), Parte II = Instrumentos
(Cibernética como ferramenta), Partes III-VI = Ciência aplicada
(análise do capitalismo digital), Parte VII = Nova filosofia
(cosmotécnicas). Este capítulo é a teoria do método que o livro praticou sem
nomear.
Vamos agora analisar três momentos históricos fundacionais onde este salto ocorreu, identificando
em cada um as três fases do processo: (1) a crise da abstração, (2) a ponte metodológica
instrumental e (3) a recriação sintética do real.
30.2 Primeiro Salto: Da Filosofia Natural à Física Moderna
Fase 1: A Crise da Abstração — Aristóteles Encontra Seus Limites
Por quase dois milênios, a cosmologia aristotélica dominou o pensamento ocidental. Ela oferecia
um sistema filosófico completo e elegante:
- Substância e Essência: Cada objeto tinha uma "essência" intrínseca que
determinava seu comportamento natural. Pedras "queriam" cair porque sua essência era
terrestre. Fogo "queria" subir.
- Teleologia: Cada coisa tinha um telos (propósito final) inerente.
O carvalho existe potencialmente na bolota. O movimento dos céus era circular porque
círculos são perfeitos.
- Hierarquia do Cosmos: Mundo sublunar (imperfeito, mutável) vs. mundo
supralunar (perfeito, imutável). Terra no centro.
Este era um sistema logicamente coerente, mas começou a rachar sob o peso de
anomalias empíricas acumuladas:
- As observações astronômicas de Tycho Brahe mostravam irregularidades nos movimentos
planetários que requeriam "epiciclos sobre epiciclos" — o modelo estava ficando absurdamente
complexo.
- Experimentos com queda de corpos revelavam contradições: corpos de massas diferentes caíam à
mesma velocidade no vácuo (contrariando Aristóteles).
- A própria existência de um universo geocêntrico estava sob ataque com as observações de
Copérnico e Galileu.
A crise: A filosofia natural aristotélica era filosoficamente
satisfatória mas empiricamente inadequada. Faltava um método para resolver a
contradição entre teoria e observação.
Fase 2: A Ponte Metodológica — Instrumentos e o Método Científico
O salto dialético exigiu ferramentas:
- O Telescópio de Galileu (1609): Não era apenas uma lente — era uma extensão
sensorial que tornava o inobservável observável. Ao ver as luas de Júpiter, Galileu não
estava apenas "olhando melhor"; estava criando novos dados empíricos que a
filosofia aristotélica não podia assimilar. O instrumento material forçou uma crise teórica.
- O Método Experimental: Galileu desenvolveu a ideia de experimentos
controlados — isolar variáveis, criar condições artificiais (planos inclinados
para "desacelerar" a queda e poder medi-la). Aqui, a intervenção humana recria a
natureza em miniatura para interrogá-la.
- A Linguagem Matemática: A grande inovação de Newton foi expressar a física
em termos matemáticos precisos. F = ma não é apenas uma descrição; é uma
ferramenta preditiva. A matemática se tornou o meio pelo qual a abstração
filosófica (conceitos de força, massa, aceleração) podia ser
operacionalizada e testada.
A Ponte Instrumental
Filosofia Natural
(Aristóteles)
↓ CRISE (anomalias acumuladas) ↓
INSTRUMENTOS MATERIAIS
• Telescópio (estende sentidos)
•
Experimento (isola variáveis)
• Matemática (quantifica)
↓ TRANSFORMAÇÃO QUALITATIVA ↓
Física Moderna (Newton)
Fase 3: A Recriação do Real — Um Novo Cosmos Emerge
Com Newton, não apenas a física mudou — o próprio mundo mudou. Não apenas nossa
descrição do mundo, mas o mundo como objeto de intervenção humana. A física
newtoniana permitiu:
- Engenharia Preditiva: Cálculo de trajetórias, construção de máquinas,
navegação precisa. A Revolução Industrial (Cap 1) só foi possível
porque podíamos prever e controlar forças mecânicas.
- Novo Paradigma Filosófico: O universo como máquina
(mecanicismo). Deus como "relojoeiro" que criou as leis e se afastou. Esta é uma
nova filosofia, mas agora fundamentada em ciência comprovada.
- Condições para Próximo Salto: A física newtoniana eventualmente encontraria
suas crises (relatividade, mecânica quântica), gerando novos saltos. A espiral
continua.
30.3 Segundo Salto: Da Alquimia à Química
Fase 1: A Crise — Alquimia como Filosofia Hermética
A alquimia não era charlatanismo primitivo. Era uma proto-ciência filosófica com
um sistema coerente:
- Teoria dos Quatro Elementos: Fogo, água, ar, terra — todas as substâncias
eram combinações destes princípios abstratos.
- Transmutação como Metamorfose Essencial: Transformar chumbo em ouro não era
apenas mudar aparências, mas elevar a "essência" do metal. Era um processo espiritual tanto
quanto material.
- Linguagem Simbólica: Receitas alquímicas eram deliberadamente obscuras,
usando metáforas (o "casamento do Rei e da Rainha" para significar combinações químicas).
Conhecimento era iniciático.
A crise: Alquimistas acumulavam observações empíricas valiosas (destilação,
cristalização, reações ácido-base), mas não podiam sistematizar ou
prever reações. Faltava um framework que fosse além da metáfora.
Fase 2: A Ponte — Instrumentos de Medida Precisa
- A Balança Analítica (Lavoisier, 1770s): Ao pesar meticulosamente reagentes
antes e produtos depois de reações, Lavoisier demonstrou a lei da conservação da
massa. Nada se cria, nada se perde — a massa total é constante. Isto destruiu a
ideia alquímica de "essências" que podiam ser adicionadas ou removidas. Matéria é matéria,
quantificável.
- Termômetros e Barômetros: Padronizaram condições experimentais, permitindo
replicação — o coração do método científico.
- Nomenclatura Sistemática (Lavoisier): Abandonar símbolos herméticos (☽ para
prata, ☿ para mercúrio) e criar nomes descritivos baseados em composição (H₂O = dois átomos
de hidrogênio + um de oxigênio). Linguagem tornou-se ferramenta
operacional, não apenas poética.
Fase 3: Química Moderna — Uma Nova Ontologia da Matéria
A química do século XIX não apenas explicava melhor as transformações — recriava a
própria natureza:
- Síntese de Compostos: Friedrich Wöhler sintetizou ureia em 1828 — a
primeira substância "orgânica" criada artificialmente. Quebrou a barreira entre
vivo/não-vivo. Humanos podiam criar substâncias, não apenas descobri-las.
- Indústria Química: Fertilizantes (processo Haber-Bosch), corantes
sintéticos, plásticos. A química transformou materialmente o mundo. A comida que comemos, as
roupas que vestimos — tudo mediado por este salto dialético.
- Nova Filosofia: Materialismo científico. Se compostos orgânicos podem ser
sintetizados, talvez a vida em si seja "apenas química" — emergindo aqui o debate sobre
reducionismo que o Capítulo 2 (Cibernética) tentou superar com
conceitos de emergência e feedback.
30.4 Terceiro Salto: Do Logos à Lógica Digital — O Caso Contemporâneo
Fase 1: A Crise — Filosofia da Lógica como Pura Forma
A lógica formal clássica (desde Aristóteles) estudava as formas válidas de
raciocínio. No século XIX, com George Boole e Gottlob Frege, a lógica foi
matematizada — o "cálculo do pensamento".
Mas permanecia abstrata. Era uma filosofia da mente, um estudo de como
deveríamos pensar racionalmente. Não tinha impacto material.
Fase 2: A Ponte — A Máquina de Turing e Circuitos Eletrônicos
- Alan Turing (1936): Mostrou que qualquer computação pode ser reduzida a
operações lógicas simples (leia, escreva, mova, repita). A Máquina de
Turing era, inicialmente, um experimento mental filosófico. Mas
continha a semente da materialização.
- Circuitos Lógicos (1940s): Claude Shannon (Cap 2)
percebeu que operações lógicas booleanas (AND, OR, NOT) podiam ser implementadas em
circuitos elétricos — portas lógicas. De repente, filosofia da lógica se
tornou engenharia.
- Von Neumann e a Arquitetura de Computadores: Transformou a lógica abstrata
em máquinas universais — computadores que podiam executar qualquer
algoritmo. O pensamento tornou-se máquina.
💻
Este Livro é Produto Deste Salto
Você está lendo este texto em HTML, processado por um navegador, rodando em silício. Cada
palavra que você vê é o resultado de bilhões de operações lógicas booleanas por segundo.
O Cap 12 (Economia da Atenção) descreveu como algoritmos de
recomendação (lógica computacional) transformam materialmente
comportamento humano. O capitalismo de plataforma (Cap 3) só existe
porque lógica pura foi concretizada em chips.
A crise atual? IA generativa e redes neurais
desafiam a lógica booleana tradicional — estamos talvez testemunhando um novo
salto dialético em andamento, de lógica determinística para sistemas
probabilísticos/emergentes.
Fase 3: O Mundo Digital — Realidade Recriada
O salto da lógica para o digital não apenas criou ferramentas — recriou o próprio espaço
da existência humana:
- Ciberespaço: Um novo "lugar" onde interações sociais, econômicas, políticas
acontecem. O Capítulo 21 (Soberania Digital) explorou como este espaço
se tornou território de disputa geopolítica.
- Subjetividade Algorítmica: Como visto no Capítulo 10
(Sujeito Automático), os algoritmos não apenas processam informação —
constituem sujeitos. Somos interpelados por feeds, recomendações, scores de
crédito.
- Nova Filosofia Emergente: Filosofias pós-humanistas, aceleracionismo (Cap 24), pensamento cibernético (Cap 2) — todas
tentam dar conta desta nova ontologia onde humanos e máquinas co-constituem
realidade.
30.5 O Padrão Universal: Três Movimentos do Salto
Sintetizando os três casos, o padrão emerge com clareza:
🎯
Anatomia do Salto Dialético
1. CRISE DA TESE FILOSÓFICA
Filosofia abstrata encontra limites: contradições empíricas, incapacidade preditiva,
desconexão com prática. Exemplo: Aristóteles não pode explicar os dados de
Brahe.
2. ANTÍTESE INSTRUMENTAL
Ferramentas materiais são desenvolvidas para testar e
operacionalizar conceitos filosóficos abstratos. Exemplo:
Telescópio + matemática + experimentos controlados.
3. SÍNTESE TRANSFORMADORA
Nova ciência emerge, não anulando mas concretizando a filosofia. Gera
nova materialidade (tecnologias) e nova filosofia
(paradigmas). Exemplo: Física newtoniana permite Revolução Industrial e inspira
mecanicismo filosófico.
4. CICLO REINICIA
A nova síntese eventualmente encontra suas crises (relatividade desafia Newton,
IA desafia lógica booleana), gerando novos saltos. A espiral é
infinita.
30.6 Implicações para Este Livro e Além
Se este é o padrão, o que ele nos ensina sobre o projeto deste livro e sobre possíveis futuros?
Este Livro como Tentativa de Salto
A estrutura deste livro espelha, talvez inconscientemente, o movimento dialético:
- Partes I-II (Tese): Filosofia — Marx + Cibernética como sistemas abstratos
de pensamento.
- Partes III-VI (Antítese): Instrumentos — Análise concreta do capitalismo
digital usando ferramentas conceituais (mais-valia de dados, feedback loops, sujeito
automático).
- Partes VII-VIII (Síntese?): Tentativa de nova filosofia — Cosmotécnicas
plurais (Cap 26), Ubuntu (Cap 28), comunicação
como ontologia (este capítulo). Não é volta ao puro abstrato, mas filosofia
informada pela prática.
Mas o livro não pode completar o salto sozinho. Para isso, seriam necessários:
- Instrumentos Sociotécnicos: Plataformas cooperativas funcionando em escala
(Cap 25), experimentos de democracia digital (Cybersyn,
OGAS).
- Testes Empíricos: Políticas públicas implementadas, medidas, ajustadas — o
equivalente dos "experimentos controlados" de Galileu.
- Linguagem Operacional: Não apenas crítica (o que este livro faz bem), mas
protocolos, algoritmos, arquiteturas — ferramentas que materializam a
filosofia.
O Próximo Salto Está Acontecendo Agora?
Há sinais de que estamos no meio de um salto dialético não-planejado:
- Crise do Paradigma Computacional Clássico: IA generativa (LLMs, redes
neurais) não seguem lógica booleana tradicional — são probabilísticas,
emergentes, "caixa-preta". A filosofia computacional de Turing está em crise.
- Novos Instrumentos: Computação quântica, interfaces cérebro-máquina,
blockchains descentralizados — ferramentas que reconfiguram o que é
possível.
- Síntese Desconhecida: Não sabemos ainda qual "nova ciência" emergirá. Mas
podemos estar certos: ela recriará o mundo tão profundamente quanto a
física newtoniana ou a química moderna.
A questão é: quem controla esse salto? Será dirigido por corporações (Google,
OpenAI) ou será um processo democrático e plural? O Cap 21 (Soberania
Digital) argumentou que esta é a batalha geopolítica central do século XXI.
30.7 Conclusão: A Dança Eterna entre o Mapa e o Território
O salto dialético não é um evento único na história do pensamento — é o ritmo
permanente pelo qual humanidade evolui cognitivamente. Filosofia se torna ciência,
que gera tecnologia, que recria o mundo material, que inspira nova filosofia. E o ciclo
continua.
Reconhecer este padrão é adquirir uma lente poderosa:
- Humildade Epistemológica: Toda ciência atual é apenas uma "filosofia
concretizada temporariamente". Ela encontrará seus limites e será transcendida.
- Urgência Ética: Se novos saltos estão acontecendo agora (IA,
bioengenharia, computação quântica), temos responsabilidade de direcionar
esses saltos para fins emancipatórios, não opressivos.
- Ferramenta Crítica: Quando alguém diz "isto é apenas filosofia sem
aplicação prática", podemos responder: "Toda ciência começou como filosofia 'impraticável'.
A questão é: que instrumentos precisamos desenvolver para torná-la prática?"
A filosofia não morre quando se torna ciência. Ela se multiplica. Cada salto
dialético é um parto doloroso de novos mundos possíveis. E nós, seres reflexivos, somos
simultaneamente as parteiras e os nascidos — criando as ferramentas que nos recriam. O
mapa nunca foi separado do território. Mapear é transformar. Pensar é fazer. E este
livro, ao tentar mapear o capitalismo digital, já o alterou — nem que seja apenas em sua mente,
leitor. E sua mente, agora armada com novos conceitos, alterará o mundo material que toca. A
espiral continua.
🔗 Conexões com Outros Capítulos
🏭 1. Materialização do General Intellect (Caps 5 e 11: Marx + Cibernética)
Conexão: Cap 5 introduziu o conceito de General
Intellect — conhecimento social geral acumulado pela humanidade.
Marx especulou que, no futuro, valor seria criado menos por trabalho manual e
mais por aplicação de ciência/conhecimento. Cap 11 mostrou que informação
(Shannon) = General Intellect materializado.
Insight deste capítulo: O
salto dialético É a materialização do General Intellect. Veja o
padrão:
- Filosofia natural aristotélica (conhecimento abstrato sobre
movimento) → Física newtoniana (F=ma permite calcular
trajetórias) → Revolução Industrial (máquinas a vapor,
ferrovias — conhecimento virou máquina)
- Alquimia (teorias sobre transformação da matéria) →
Química (tabela periódica, reações quantificáveis) →
Indústria química (fertilizantes, plásticos — conhecimento
virou produtos)
- Lógica filosófica (Boole, Frege) → Ciência da
computação (Turing, von Neumann) → Era Digital
(este livro que você lê agora — pensamento virou silício)
Implicação marxista: Cada salto
aumenta a contradição central do capitalismo. Produção se torna cada vez
mais social (depende de conhecimento coletivo acumulado ao longo de
séculos), mas apropriação permanece privada (patentes,
copyright, Big Tech). Cap 25 propôs cooperativas como solução —
socializar a apropriação para corresponder à natureza social da
produção.
🔬 2. Experimentos Históricos como Saltos Abortados (Caps 17-18: OGAS e Cybersyn)
Conexão: OGAS (Cap 17) e Cybersyn (Cap 18) foram tentativas de
salto dialético no campo político-econômico:
- Tese: Economia planificada soviética/chilena (filosofia
socialista)
- Antítese: Ferramentas cibernéticas (computadores, telex,
algoritmos de otimização)
- Síntese esperada: Democracia econômica em tempo real,
planejamento descentralizado
Insight deste capítulo: Ambos foram
saltos incompletos. OGAS falhou porque:
- Instrumentos inadequados (computadores soviéticos eram inferiores)
- Burocracia resistiu (variedade requisita — Cap 2 — não foi atendida)
- Não houve "Fase 3" (recriação do real) — o sistema nunca funcionou em escala
Cybersyn chegou mais perto (realmente funcionou!), mas foi
abortado por
golpe militar antes de completar o salto. A síntese foi impedida por
força bruta, não falha conceitual.
Lição: Saltos dialéticos não são
automáticos. Requerem condições materiais (tecnologia adequada)
+ vontade política (poder de implementar) +
tempo (iteração, ajuste). Capitalismo tem interesse em impedir
saltos que o desafiam — vide golpe no Chile.
🌐 3. Este Livro Como Tentativa de Salto (Meta-análise)
Conexão: Este capítulo afirma explicitamente: "Este livro tentou
fazer exatamente isso" (referindo-se ao padrão dialético). Vamos mapear:
FASE 1 — Crise da Abstração:
- Marxismo clássico (Cap 1) explica capitalismo industrial, mas
não capitalismo digital
- Cibernética (Cap 2) explica sistemas de controle, mas não
explica exploração
- Contradição: Ferramentas conceituais antigas inadequadas
para fenômenos novos
FASE 2 — Ponte Metodológica:
- Cap 11: Síntese Marx + Cibernética — General Intellect =
Informação, Mais-valia = Excedente de Dados
- Partes III-VI: Análise concreta do capitalismo de
plataforma usando ferramentas sintéticas
- Parte VII: Cosmotécnicas — epistemologias alternativas como
instrumentos conceituais
- Parte VIII: Meta-reflexão — observar o próprio método
FASE 3 — Recriação do Real (AINDA NÃO
COMPLETADA):
- Propõe ferramentas (Cap 25: cooperativas, Cap 21: soberania digital), mas
não as implementa
- Para completar o salto, leitores precisam materializar
conceitos em código, políticas, organizações
- Este livro é apenas Fase 1 e 2. Fase 3 depende de você,
leitor.
Humildade epistemológica: Este
capítulo ensina que toda síntese gerará nova crise. Mesmo se
cooperativas de plataforma forem implementadas globalmente, elas encontrarão
limites, contradições, anomalias. E isso gerará novo salto.
Conhecimento é processo sem fim.
🧬 4. Cosmotécnicas como Saltos Não-Lineares (Caps 26-28)
Conexão: Este capítulo descreve saltos dentro da tradição
ocidental (Aristóteles→Newton, Alquimia→Química, Logos→Digital). Mas Parte VII
revelou: outras tradições tiveram seus próprios saltos,
seguindo padrões diferentes.
Exemplos de saltos não-ocidentais:
- China (Cap 26): Filosofia confuciana/taoísta → Tecnologias
burocráticas (exames imperiais, canais, papel-moeda) → Coordenação de
império vasto. Não seguiu padrão "abstração matemática → experimento
controlado", mas coordenação harmônica de muitos elementos.
- África (Cap 27, Ubuntu): Filosofia comunitária →
Tecnologias sociais (círculos de diálogo, economia da dádiva, sistemas de
linhagem) → Coesão social resiliente. Salto não foi para controle da
natureza, mas cultivo de relações.
- Guarani (Cap 28, Nhandereko): Cosmologia do Teko Porã →
Práticas agrícolas (policultura, manejo florestal) → Convivência sustentável
com Terra sem Mal por milênios. Salto foi para simbiose,
não domínio.
Crítica ao universalismo: Este
capítulo poderia ser lido como eurocentrico ("O" salto é sempre Ocidente). Mas
seção 30.6 reconhece: precisamos de saltos plurais. Tecnologia
digital pode seguir lógica Ubuntu (cooperação) tanto quanto lógica newtoniana
(otimização). Cap 31 desenvolverá: ultrarracionalismo
ocidental chegou ao limite — hora de saltos cosmotécnicos
plurais.
⚠️ 5. IA como Salto em Andamento e Perigo Iminente (Caps 12-15)
Conexão: Seção 30.4 menciona que IA generativa está
gerando novo salto agora — de lógica determinística (Turing) para
sistemas probabilísticos (redes neurais). Mas Caps 12-15 mostraram os perigos:
O salto IA segue o padrão:
- Fase 1 — Crise: Lógica booleana tradicional não consegue
lidar com ambiguidade (linguagem natural, reconhecimento de padrões
complexos)
- Fase 2 — Instrumentos: Redes neurais profundas, GPUs
massivas, Big Data como "combustível"
- Fase 3 — Recriação: LLMs reescrevem código, geram arte,
diagnosticam doenças, substituem trabalho cognitivo
Mas quem controla o salto?
- Cap 12: IA é engenharia do vício (algoritmos de
recomendação maximizam engajamento viciante)
- Cap 13: IA reproduz viés algorítmico (discriminação
racial/gênero codificada)
- Cap 15: IA acelera precarização (automação de trabalho sem
redistribuição de riqueza)
Urgência política: Saltos dialéticos
não são neutros. A mesma tecnologia (física nuclear) gerou
energia elétrica E bomba atômica. IA pode gerar democracia
aumentada (Cybersyn 2.0) OU totalitarismo
algorítmico (China's Social Credit System levado ao extremo
global). A decisão está sendo tomada AGORA, enquanto você lê.
Cap 21 (soberania digital) e Cap 25 (cooperativas) são urgentes.
📚 6. Educação como Salto Permanente (Cap 0: Como Usar Este Livro)
Conexão: Cap 0 propôs pedagogia não-linear, ativa, reflexiva.
Este capítulo revela: aprendizagem É um salto dialético
perpétuo.
O salto educacional individual:
- Fase 1 — Crise: Você começa com compreensão ingênua do
mundo (senso comum, ideologia dominante)
- Fase 2 — Instrumentos: Lê este livro, outros textos,
discute em grupos, adquire conceitos (mais-valia, feedback,
cosmotécnica)
- Fase 3 — Recriação: Sua percepção do mundo muda. Você
vê exploração onde antes via "livre mercado". Vê algoritmos
como poder político, não apenas código neutro. Sua
praxis (ação no mundo) se transforma.
Mas o processo não termina: Nova
compreensão gera novas perguntas → busca novos instrumentos (outros livros,
experiências, organização política) → nova síntese. Educação como
espiral infinita, não acumulação linear de "fatos".
Freire revisitado: Paulo Freire
(citado em Apêndice F) chamou isso de
conscientização — processo dialético de ler o mundo (Fase 1),
nomear o mundo (Fase 2), transformar o mundo (Fase 3). Este capítulo fornece a
epistemologia subjacente ao método freiriano.
💡 Síntese das Conexões
Este capítulo é a epistemologia do
livro inteiro. Explica como conhecimento avança — não linearmente,
mas dialeticamente. Três lições fundamentais:
- Teoria sem prática é estéril: Filosofia precisa se materializar
(Fase 2 — instrumentos). Marxismo acadêmico sem organização política é tese sem
salto.
- Prática sem teoria é cega: Ativismo sem conceitos claros repete
erros. Cybersyn funcionou porque Beer tinha teoria cibernética para
guiar design.
- Toda síntese é provisória: Não há "fim da história". Cada solução
gera novos problemas. Isso não é bug, é feature. Complexidade
crescente = evolução.
Próximo passo: Cap
31 aplica este framework ao presente: diagnostica o
ultrarracionalismo como filosofia em crise, identifica seus limites, propõe
instrumentos plurais (cosmotécnicas) para próximo salto. A espiral
continua — sempre.
---
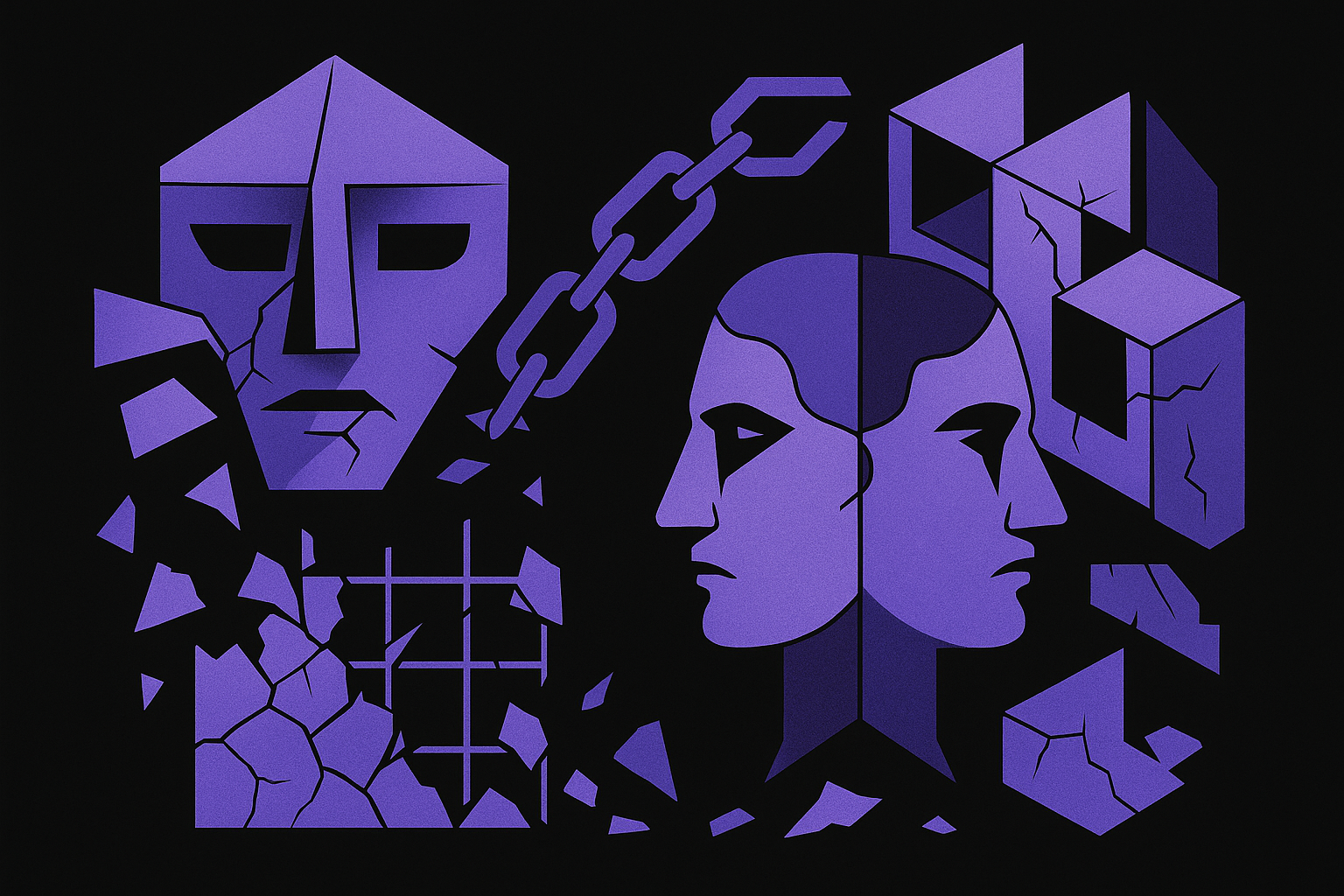
Capítulo 31
Capítulo 31: O Fim da Era Ultrarracionalista: Fascismo Libertário, Neoliberalismo Progressista e
Outros
Modelos de Captura
Resumo: Este capítulo final de conteúdo analisa como o projeto
ultrarracionalista do Iluminismo — a crença na razão como caminho único para a emancipação — foi
capturado e reconfigurado pelo capitalismo tardio. Exploramos três experimentos contemporâneos
na América Latina: o fascismo libertário de Milei (Argentina), que destrói o
Estado social enquanto fortalece o aparato repressivo; o neoliberalismo
progressista
do PT (Brasil), que coopta linguagem emancipatória enquanto mantém estruturas de exploração; e o
reformismo progressista de Petro (Colômbia), que tenta transformação estrutural
mas esbarra em constrangimentos institucionais e econômicos. Argumentamos que a superação destes
modelos exige não apenas crítica, mas a construção de racionalidades plurais
que
este livro tentou mapear nas Partes VII e VIII. Os casos latino-americanos funcionam como
laboratórios
acelerados onde contradições do capitalismo global manifestam-se de forma mais crua, antecipando
futuros possíveis para o sistema mundial.
31.1 A Promessa Iluminista e Sua Trajetória
O projeto iluminista europeu (séculos XVII-XVIII) articulou uma visão poderosa e sedutora: a
razão humana, liberada das amarras da superstição, tradição e autoridade
religiosa, conduziria inevitavelmente à emancipação universal. Kant sintetizou
isto no lema "Sapere aude" — "ouse saber". A luz da razão dissiparia as trevas da
ignorância.
Esta promessa tinha três pilares fundamentais:
- Universalismo: A razão é universal. Verdades descobertas pela ciência valem
para todos os humanos, em todos os lugares. Um experimento replicável em Paris é replicável
em Pequim.
- Progressismo Linear: A história humana é uma marcha progressiva em direção
à racionalidade crescente. Cada geração é mais esclarecida que a anterior. O futuro será
necessariamente melhor que o passado.
- Instrumentalidade: A razão é uma ferramenta neutra. Pode ser aplicada a
qualquer problema (natural, social, político) para produzir soluções ótimas.
Problemas complexos têm soluções racionais.
Como vimos no Capítulo 1, Marx era filho deste Iluminismo — mas um filho
crítico. Ele apontou que a "razão" burguesa escondia interesses de classe. A "liberdade" do
contrato de trabalho era liberdade de morrer de fome. Mas Marx ainda acreditava numa razão
superior — a razão dialética do materialismo histórico — que revelaria as leis
objetivas da história.
O Capítulo 2 (Cibernética) mostrou como este projeto ultrarracionalista
culminou no século XX: a ideia de que sistemas complexos (economia, sociedade, até mente humana)
podiam ser modelados, otimizados e controlados através de feedback matemático.
OGAS (Cap 17) e Cybersyn (Cap 18) foram tentativas
socialistas de realizar esta visão.
Mas algo deu profundamente errado no caminho. A razão não emancipou — frequentemente oprimiu. E
no século XXI, ela encontrou sua forma mais insidiosa: o neoliberalismo
progressista.
31.2 O Neoliberalismo Progressista: Quando a Emancipação Vira Produto
31.2.1 Definindo o Monstro
Nancy Fraser cunhou o termo "neoliberalismo progressista" para descrever a
aliança ideológica dominante nas democracias ocidentais das últimas décadas. É caracterizado
por:
- Retórica Emancipatória: Defende diversidade, direitos LGBTQIA+, igualdade
de gênero, multiculturalismo, sustentabilidade ambiental. Usa linguagem de justiça social.
- Economia Neoliberal: Simultâneamente promove desregulamentação financeira,
austeridade fiscal, flexibilização trabalhista, privatização de serviços públicos,
concentração de riqueza.
- Meritocracia como Ideologia: A mensagem é: "Todos podem ascender
socialmente se forem talentosos e trabalharem duro". Desigualdade é justificada como reflexo
de mérito individual.
O resultado? Capitalismo com cara progressista. Você pode ser uma mulher negra
CEO de uma startup de tecnologia, explorando trabalhadores precários de plataforma, enquanto
publica posts sobre #BlackLivesMatter. Não há contradição percebida — porque o sistema capturou
a linguagem da emancipação e a reconfigurou como emancipação individual dentro do
mercado.
⚠️
Exemplo Paradigmático: Big Tech "Woke"
Empresas como Google, Apple, Facebook publicam relatórios de diversidade, celebram Pride
Month com logos coloridos, doam para causas progressistas. Mas:
- Extraem mais-valia de dados globalmente sem compensação (Cap 3)
- Exploram trabalho precarizado de moderadores de conteúdo (Cap
12)
- Constroem ferramentas de vigilância vendidas a regimes autoritários (Cap
21)
- Lobby contra regulação trabalhista e tributação progressiva
A captura é completa: "Diversidade" não
significa redistribuir poder/riqueza — significa distribuir rostos diversos entre os
executivos enquanto a pirâmide de exploração permanece intacta.
31.2.2 O Caso Brasileiro: PT como Neoliberalismo Progressista Tropical (2003-2016,
2023-presente)
Se nos EUA o neoliberalismo progressista encontrou sua expressão na aliança Clinton-Obama-Wall
Street,
no Brasil ele materializou-se nos governos do Partido dos Trabalhadores. Esta
não é
uma crítica desinformada de direita, mas reconhecimento dialético: o PT produziu avanços reais
dentro dos limites que nunca buscou efetivamente romper.
Os Avanços Inegáveis (2003-2014)
- Redução da Pobreza: Bolsa Família tirou 36 milhões da miséria. Salário
mínimo
cresceu 72% acima da inflação. Entre 2003-2014, 40 milhões ascenderam à "classe C". Mérito
genuíno.
- Inclusão Educacional: Expansão de universidades federais (14 novas),
ProUni,
cotas raciais. Pela primeira vez, filhos de trabalhadores acessaram ensino superior em
massa.
- Políticas Identitárias: Criação da SEPPIR (Secretaria de Promoção da
Igualdade
Racial), SPM (Secretaria de Políticas para Mulheres), reconhecimento de terras quilombolas.
Linguagem progressista tornou-se oficial.
- Política Externa: BRICS, integração sul-americana (Unasul), cooperação
Sul-Sul. Reposicionamento do Brasil no sistema mundial (Cap 23).
As Contradições Estruturais
Mas como estes avanços foram financiados e implementados? Aqui reside a captura:
- Pacto com Agronegócio: Bancada ruralista apoiou governos PT em troca de
não-reforma agrária e expansão da fronteira agrícola. Resultado: desmatamento acelerado,
concentração fundiária mantida (Gini de terra = 0,87, um dos piores do mundo), agrotóxicos
liberados. O Cap 7 (Extrativismo Digital) tem paralelo no extrativismo
material: commodities exportadas, renda apropriada por oligarquias locais e capital
transnacional.
- Aliança com Mercado Financeiro: Henrique Meirelles (ex-presidente do
BankBoston)
comandou Banco Central 2003-2011, mantendo juros reais mais altos do mundo, enriquecendo
rentistas. Superávit primário preservado para pagar dívida pública. Programas sociais foram
financiados sem redistribuir riqueza acumulada — via crescimento econômico
(boom de commodities) e expansão de crédito.
- Precarização Silenciosa: Crescimento de empregos foi majoritariamente em
trabalho informal e baixa remuneração. "Pleno emprego" de Dilma (2014)
incluía
milhões em call centers, terceirizados, sem direitos plenos. A uberização (Cap
11)
foi preparada por esta flexibilização.
- Neodesenvolvimentismo Extrativista: Belo Monte, transposição do São
Francisco,
concessões de petróleo no pré-sal. Desenvolvimentismo sem questionar modelo exportador
primário.
O Cap 6 (Dependência) explica: permanecemos periféricos, exportando
natureza, importando industrializados e tecnologia.
⚠️
A Fórmula do Neoliberalismo Progressista Petista
Inclusão pelo consumo + manutenção de estruturas de poder = estabilidade política
temporária
Lula articulou o que Francisco de Oliveira chamou de
"hegemonia às avessas": classe trabalhadora no governo, mas governando
para o capital. Políticas compensatórias (Bolsa Família) pacificavam base popular;
políticas econômicas ortodoxas (câmbio flutuante, metas de inflação, superávit primário)
tranquilizavam mercados.
O resultado foi conciliação de classe:
bancos
lucraram recordes históricos (Itaú, Bradesco, Santander), enquanto pobreza caía. Mas sem
transformação estrutural — concentração de riqueza permaneceu (1% mais
rico detém 49% da riqueza nacional). Quando boom de commodities acabou (2014), modelo
colapsou. Não havia sido construída base produtiva autônoma.
Lulismo 3.0 (2023-presente): Progressismo sob Constrangimentos
O retorno de Lula em 2023, pós-Bolsonaro, revelou limites ainda mais estreitos:
- Ministério da Fazenda Ortodoxo: Fernando Haddad, ex-progressista,
implementa
agenda fiscal conservadora. Arcabouço fiscal limita gastos sociais. Reforma tributária
aprovada não tributa grandes fortunas nem heranças — apenas "racionaliza"
impostos sobre consumo (que penalizam pobres).
- Agronegócio Incontestado: Marina Silva (Meio Ambiente) tenta conter
desmatamento,
mas governo não enfrenta bancada ruralista. "Plano Safra" 2025/2026 destinou R$ 516,2
bilhões ao
agro — mais que todo orçamento de saúde.
- Reformas Estruturais Ausentes: Reforma agrária? Não mencionada.
Democratização
da mídia? Abandonada (Globo apoia Lula contra Bolsonaro, cobrará depois). Taxação de
super-ricos?
"Inviável politicamente". Regulação de big techs? Tímida.
- Retórica Progressista Internacional: Brasil como liderança climática (COP30
em
Belém 2025), defesa de direitos humanos, crítica a Israel. Mas contradiz prática doméstica.
É progressismo performático — essencial para coalizão eleitoral e prestígio
global, mas sem correspondência estrutural.
A captura completa-se: PT mobiliza linguagem de esquerda, governa ao
centro-direita
economicamente, apresenta isto como "pragmatismo necessário". Alternativas (ecossocialismo,
planejamento democrático, desmercantilização) são excluídas do espectro do "possível". Gramsci
(Cap 29): hegemonia é quando dominados aceitam como natural e inevitável
a ordem que os oprime. PT construiu hegemonia progressista do inevitável: "Não há alternativa
viável ao neoliberalismo, mas podemos humanizá-lo com políticas sociais".
Conecte ao Cap 10 (Sujeito Automático): o capital como
sujeito
que subordina humanos. PT não subordinou capital ao projeto político — subordinou projeto
político
à lógica do capital (crescimento, lucro, acumulação). Políticos de esquerda tornaram-se
gestores competentes do capitalismo, não seus superadores.
31.2.2.1 Interlúdio Fascista: Temer e Bolsonaro como Reação Neoliberal Brutal (2016-2022)
Mas para entender o retorno do PT em 2023 e seus limites ainda mais estreitos, é necessário
analisar o interlúdio fascista que interrompeu a hegemonia petista. Não foi
acidente histórico — foi resposta de classe quando conciliação não era mais
suficiente para elites.
Temer (2016-2018): O Golpe Institucional e Neoliberalismo Sem Máscara
O impeachment de Dilma Rousseff em 2016 foi golpe parlamentar (não militar, mas
igualmente antidemocrático). Pretexto jurídico frágil ("pedaladas fiscais") escondeu motivação
real: classe dominante brasileira — agronegócio, mercado financeiro, mídia corporativa — cansou
de conciliar. Queriam neoliberalismo puro, sem concessões sociais.
O programa de Temer:
- Teto de Gastos (EC 95/2016): Congelamento de investimentos públicos por 20
anos. Inviabiliza políticas sociais estruturalmente. É austeridade
constitucionalizada
— não importa quem ganhe eleições, orçamento está amarrado.
- Reforma Trabalhista (2017): Legalização do trabalho intermitente,
terceirização ilimitada, prevalência do negociado sobre o legislado. CLT destruída após 74
anos. Preparou terreno jurídico para uberização plena (Cap 11).
- Privatizações Aceleradas: Aeroportos, portos, pré-sal. Programa "Crescer"
vendeu ativos públicos a preços de banana para capital estrangeiro.
- Desmantelamento de Políticas Identitárias: SEPPIR, SPM, Ministério da
Cultura
— esvaziados ou fundidos em pastas menores. Retrocesso silencioso.
Temer foi neoliberalismo tecnocrático: sem carisma, sem legitimidade popular (9%
de aprovação), mas eficiente em implementar agenda de classe. Não precisava ser eleito — bastava
ter apoio de Congresso comprado, Judiciário cúmplice e mídia hegemônica. É ditadura de
mercado por vias institucionais.
⚠️
A Função do Golpe de 2016
Por que golpe foi necessário se PT já governava para capital? Porque contradições
acumularam-se. Crise econômica pós-2014 tornou insustentável manter tanto
lucros
recordes para bancos quanto programas sociais. Algo tinha que ceder.
Elites escolheram: sacrificar pacto social.
Mas PT, mesmo em crise, mantinha base eleitoral. Solução: retirar PT do poder
sem eleições. Impeachment foi mecanismo "legal" de interrupção democrática.
Conecte ao Cap 22 (Necropolítica):
golpe de 2016 não matou corpos (como 1964), matou possibilidades
políticas.
Institucionalizou austeridade, criminalizou esquerda (Lava-Jato como lawfare), preparou
terreno para Bolsonaro.
Bolsonaro (2019-2022): Fascismo Neoliberal Tropical
Mas Temer era insustentável eleitoralmente. Precisava de substituto que
combinasse
agenda neoliberal radical com apelo popular. Entra Bolsonaro: fascismo como forma
política
do neoliberalismo em crise na periferia.
Características do bolsonarismo:
- Neoliberalismo Radical: Paulo Guedes (Ministro da Economia, Chicago Boy
brasileiro)
implementou agenda mais agressiva que Temer: privatização de Eletrobras, Correios na fila,
reforma da Previdência que Temer não conseguiu, flexibilização ambiental total. Agronegócio
liberado para desmatar sem fiscalização.
- Necropolítica Explícita: Mais de 710 mil mortos de COVID-19 por negligência
deliberada
("gripezinha", sabotagem de vacinas, incentivo a tratamentos ineficazes). É literalmente
deixar morrer como política de Estado (Cap 22).
Genocídio Yanomami: garimpo ilegal, desnutrição, malária — Estado ausente propositalmente.
- Milicianismo Digital: Bolsonaro construiu poder via WhatsApp, fake news,
"gabinete do ódio". Combinação de Cap 14 (Engenharia do Vício) —
algoritmos viciantes — com Cap 21 (Vigilância) — mineração de dados
para microdirecionar desinformação.
- Culto à Violência: Elogio à ditadura militar, tortura, fuzilamento.
"Bandido bom é bandido morto". Polícia matou 6.400 pessoas em 2022 (recorde). Feminicídios
e LGBTfobia cresceram com discurso presidencial autorizador.
- Fundamentalismo Cristão: Aliança com bancada evangélica. "Brasil acima de
tudo, Deus acima de todos". Teocracia como horizonte — mas teocracia
neoliberal:
teologia da prosperidade, não teologia da libertação. Deus quer você rico (se você não é,
falta fé/esforço).
- Anti-intelectualismo Militante: Universidades como "antros de maconha e
comunismo". Cortes brutais em CNPq, CAPES, FAPESP. Ciência como inimiga. Terra plana,
negacionismo climático, criacionismo — irracionalismo performático.
🔥
Fascismo ou Neoliberalismo? Ambos.
Debate acadêmico questiona se Bolsonaro era "verdadeiro fascista" (faltaria partido de
massas, corporativismo, projeto totalizante). Mas dialeticamente, é fascismo
neoliberal — forma específica do século XXI:
Semelhanças com fascismo clássico:
- Culto ao líder carismático (miliciano que "fala verdades")
- Nacionalismo reacionário ("Brasil acima de tudo")
- Machismo, misoginia, LGBTfobia como política de Estado
- Violência como espetáculo (armamentismo, elogio à tortura)
- Inimigo interno (comunistas, "esquerdopatas", universidades, artistas)
Diferenças neoliberais:
- Não quer Estado forte — quer Estado mínimo para pobres, máximo para
ricos
- Não é corporativista — é ultraliberal economicamente (Paulo Guedes)
- Não mobiliza massas via partido — via redes digitais
descentralizadas
- Não tem projeto industrial nacional — é exportador de commodities servil
É autoritarismo de mercado: usa
irracionalismo cultural (religiões, fake news, negacionismo) para implementar
racionalidade neoliberal (privatização, austeridade, desregulamentação). Fascismo como
método, neoliberalismo como conteúdo.
Por Que Bolsonaro Perdeu (2022)? E Por Que Quase Ganhou?
Perdeu porque: COVID expôs necropolítica demais visivelmente. Mais de 710 mil
famílias
enlutadas. Economia em frangalhos (inflação, desemprego). Isolamento internacional (Biden não
atende ligação). E Lula, mesmo preso, mantinha 30%+ de intenções de voto — memória afetiva de
quando "dava para viver".
Mas quase ganhou (49,1% vs 50,9%) porque: Base bolsonarista sólida — 58 milhões
de votos. Não são "fascistas convictos", mas capturados por hegemonia
neoliberal-fascista:
meritocracia ("pobre é vagabundo"), punitivismo ("bandido bom é morto"), moralismo ("ideologia
de gênero destrói família"), messiânico ("Deus escolheu Bolsonaro"). É subjetivação
fascista — não apenas voto, mas forma de vida.
O Cap 29 (Comunicação e Hegemonia) explica: hegemonia não é só coerção,
é consenso ativo. Bolsonaro construiu hegemonia via dispositivos digitais
(Cap 14): algoritmos + fake news + fundamentalismo = máquina de
subjetivação. Mesmo derrotado eleitoralmente, bolsonarismo permanece — como
cultura política, forma de sociabilidade, reserva autoritária.
Implicações para Lula 3 (2023-presente)
O retorno de Lula não foi restauração do lulismo 1.0 e 2.0 (2003-2016). É
lulismo constrangido por cicatrizes fascistas:
- Teto de Gastos (EC 95): Ainda vigente, limitando investimentos sociais
estruturalmente. Haddad tenta "novo arcabouço fiscal" mas continua austeridade disfarçada.
- Reforma Trabalhista: Não revogada. Uberização consolidada legalmente. PT
em 2023 não ousa desafiar capital como nem sequer ousava em 2003.
- Congresso Mais Conservador: Bancada bolsonarista (PL + aliados) é maior
que bancada petista. Qualquer projeto progressista é bloqueado ou diluído.
- Judiciário Capturado: Ministros indicados por Temer/Bolsonaro no STF.
Lava-Jato criminalizou esquerda, mas corrupto de direita (Bolsonaro, filhos) segue impune.
- Polarização Permanente: Brasil dividido 50/50. Metade do país vê Lula como
"ladrão comunista". Governabilidade depende de coalizão com centro-direita (Centrão), que
cobra caro: cargos, emendas, concessões.
- Ameaça Golpista Latente: Tentativa de golpe em 8/1/2023 (invasão de
Brasília)
mostrou: bolsonarismo não aceita derrota. Militares não intervieram, mas também não
protegeram democracia ativamente. Espada de Dâmocles sobre governo Lula.
Resultado: Lula 3 é neoliberalismo progressista sob tutela
fascista.
Pode fazer progressismo performático (discursos em ONU, COP30, defesa de direitos humanos) mas
não pode tocar estruturas porque: (1) não tem maioria parlamentar; (2) mercados vigiam e punem
qualquer "radicalização"; (3) ameaça golpista real se ousar demais; (4) herança institucional
de Temer/Bolsonaro amarra orçamento e legislação.
É o que Gramsci chamaria de revolução passiva às avessas: mudanças cosméticas
(tirar Bolsonaro, colocar Lula) para garantir que nada muda fundamentalmente.
Elites aceitam PT de volta porque: (1) Lula domesticou esquerda; (2) alternativa era caos
(Bolsonaro ameaçava até interesses de frações de capital); (3) PT administra capitalismo
periférico competentemente, com legitimidade popular que direita não tem.
O interlúdio fascista (2016-2022) não foi "desvio" ou "parêntesis". Foi reestruturação
de campo de possibilidades políticas. Pós-Bolsonaro, qualquer política minimamente
progressista parece "vitória" em comparação. Horizonte de expectativas foi rebaixado. Lulismo
3.0
oferece migalhas e diz "olhem, não é Bolsonaro" — e base aceita, porque alternativa visível é
retorno fascista. É captura pela ameaça: não precisa seduzir, basta não ser
o pior.
31.2.3 Mecanismos da Captura Ideológica
Como esta captura opera? Podemos identificar três mecanismos centrais, agora com exemplos
concretos:
A. Individualização do Político
Problemas estruturais são reframeados como responsabilidades individuais.
- Mudança Climática: Ao invés de regulação estatal de corporações poluidoras,
a solução proposta é "consumo consciente" individual. Você deve usar canudos de papel
(enquanto 100 empresas geram 71% das emissões globais de carbono). No Brasil: campanhas de
reciclagem enquanto agronegócio desmata Amazônia e Cerrado impunemente.
- Desigualdade de Gênero: Ao invés de transformação de estruturas
patriarcais, a solução é "empoderamento" individual — lean in, seja assertiva, negocie seu
salário. Como se o problema fosse falta de confiança das mulheres, não sistema
de dominação.
- Racismo: "Educação antirracista" individual é importante, mas quando
desconectada de políticas redistributivas (reparações, cotas, reforma agrária), torna-se
apenas performance de consciência que não ameaça estruturas de poder.
O Capítulo 29 mostrou como comunicação constrói realidade. Aqui vemos a
aplicação: a linguagem da responsabilidade individual reconstrói problemas
políticos como problemas pessoais, invisibilizando estruturas.
B. Mercantilização da Identidade
Identidades marginalizadas são transformadas em nichos de mercado.
- "Pink Money": População LGBTQIA+ como segmento consumidor. Marcas disputam
este mercado com publicidade "inclusiva" — mas lucros não retornam à comunidade. É
extração de mais-valia identitária.
- "Afrofuturismo Corporativo": Estética afrofuturista (Wakanda, Black
Panther) é vendida pela Disney como produto cultural, gerando bilhões, enquanto comunidades
negras reais permanecem excluídas de riqueza e poder.
- "Feminismo de Mercado": Slogans como "O futuro é feminino" estampados em
camisetas produzidas em sweatshops por mulheres asiáticas ganhando US$ 2/dia. A ironia é
cruel — mas funciona.
Conecte ao Capítulo 10 (Sujeito Automático): o capital não tem conteúdo
ideológico fixo. Ele metaboliza qualquer discurso que possa ser monetizado.
Progressismo tornou-se lucrativo entre certas demografias — então capital o abraça.
C. Racionalidade Tecnocrática como Despolitização
Decisões políticas são revestidas de linguagem técnica "neutra" para esconder escolhas
ideológicas.
- Austeridade Fiscal: Apresentada como "necessidade matemática" ("as contas
não fecham"), quando na verdade é escolha política sobre quem paga a conta
de crises (trabalhadores via cortes sociais vs. ricos via impostos).
- Algoritmos como Autoridade: Decisões algorítmicas (concessão de crédito,
seleção de currículos, sentenças judiciais) são tratadas como "objetivas" porque são
"matemáticas". Mas algoritmos reproduzem vieses de dados históricos, perpetuando
discriminação sob máscara de neutralidade (Cap 15 — Discriminação
Algorítmica).
- Jargão Gerencialista: "Otimização", "eficiência", "sinergia", "disrupção" —
termos que soam técnicos mas escondem agendas políticas (geralmente: precarização de
trabalho, concentração de poder).
O Capítulo 30 analisou como filosofia se torna ciência. Aqui vemos o
reverso perverso: ciência (ou pseudociência) é usada para despolitizar a
filosofia. "Não há alternativa" (TINA — Margaret Thatcher) torna-se mantram
"racional".
31.3 Outros Modelos de Captura: Um Bestiário Contemporâneo
O neoliberalismo progressista não é o único modelo pelo qual racionalidade emancipatória foi
capturada e reconfigurada. Brevemente, um catálogo de outras formas:
A. Fascismo Libertário: O Experimento Milei na Argentina (2023-2025)
A eleição de Javier Milei na Argentina em 2023 oferece um laboratório em tempo
real
de um fenômeno que parecia contraditório nos termos: fascismo que se veste de libertarismo.
Economista midiático transformado em presidente, Milei prometeu "dinamitar o Banco Central",
eliminar ministérios, dolarizar a economia e libertar os argentinos do "Estado parasitário".
A retórica da liberdade: Milei usa vocabulário austríaco/libertário —
propriedade
privada, mercados livres, indivíduo soberano. Cita Mises, Hayek e Rothbard. Apresenta-se como
anti-establishment, "leão contra a casta política". Para eleitores desiludidos com
peronismo e macrismo, isto soou como ruptura radical.
A prática autoritária: Mas observe o que aconteceu:
- Choque sem Consenso: "Terapia de choque" brutal: desvalorização de 50%,
cortes de gastos sociais, demissões massivas no setor público. Pobreza saltou para mais de
55% em 2024. Mas não foi implementado por "consenso democrático" — foi decreto presidencial
contornando Congresso.
- Concentração de Poder: Para um "libertário anti-estado", Milei expandiu
poderes executivos através de Decretos de Necessidade e Urgência (DNUs). Concentração
presidencialista que Bolsonaro tentou mas não conseguiu.
- Repressão Social: Quando sindicatos e movimentos sociais protestaram contra
medidas, resposta foi gás lacrimogêneo e prisões. "Protocolo antipiquete" criminaliza
manifestação.
Liberdade de mercado, não liberdade de rua.
- Amigos Autoritários: Milei elogia Pinochet, Bolsonaro, Trump. Participa de
CPACs. "Liberdade" que admira não é democrática — é hierárquica, machista, nacionalista.
⚠️
A Contradição Constitutiva
"Fascismo libertário" parece oxímoro. Como pode ser fascista (autoridade
estatal total) e libertário (Estado mínimo) simultaneamente?
A solução dialética: é libertário para
capital
(desregulamentação, privatização, flexibilização) e fascista para
trabalho
(repressão sindical, criminalização de protesto, disciplinamento de corpos). O Estado
não desaparece — muda de função: de provedor social para garantidor
da ordem proprietária através da violência.
Conecte ao Cap 5 (Acumulação Primitiva):
é necessário Estado forte para implementar mercado livre contra
resistência
popular. Pinochet já havia demonstrado no Chile (1973-1990): Chicago Boys + tortura =
neoliberalismo real-existente.
Os Resultados (até 2025): Inflação de três dígitos "controlada" mas à custa de
recessão profunda. PIB caiu 5,1% em 2024. Consumo popular despencou. Mas mercados
financeiros
adoraram — risco-país caiu, reservas internacionais subiram (via endividamento
externo),
setor agroexportador celebra. Mais-valia extraída de trabalhadores transferida para credores
internacionais e elite rentista local.
A captura: Milei capturou legítimo ódio ao Estado corrupto e
ineficiente
(sentimento real na Argentina pós-2001, pós-Kirchnerismo) e o canalizou não para
democratização
do Estado, mas para sua destruição seletiva. Destrói programas sociais, mantém
aparato
repressivo. Coopta linguagem de "liberdade" enquanto implementa ditadura do
mercado.
É aceleracionismo de direita na periferia — acelera colapso do welfare state, acelera
concentração,
acelera necropolítica (Cap 22). O Cap 6 (Dependência)
explica: periferia sempre experimenta versões mais brutais de modelos centrais.
B. Aceleracionismo de Direita (Vertente Teórica)
Como discutido no Capítulo 24, o aceleracionismo de direita argumenta que
devemos acelerar o colapso do capitalismo e democracia liberal para purgar
"fraquezas" (welfare state, diversidade) e emergir um futuro de hierarquias "naturais" —
geralmente uma tecno-monarquia neofeudalista.
A captura: Coopta crítica marxista ao capitalismo (aceita que o sistema é
insustentável) mas inverte os valores — ao invés de emancipação, propõe dominação. Usa linguagem
darwinista ("seleção natural") como racionalização pseudocientífica. Milei representa a
prática deste projeto na periferia.
C. Positivismo de Dados (Data Positivism)
A crença que "dados falam por si mesmos" e que análise quantitativa massiva revelará verdades
objetivas sem necessidade de teoria ou interpretação.
A captura: Ignora que dados são sempre construídos — o que
escolhemos medir, como categorizamos, que proxies usamos. O Capítulo 13 (Viés
Algorítmico) mostrou como "objetividade matemática" pode perpetuar injustiças
históricas. Racionalidade dos dados mascara decisões normativas não-examinadas.
D. Tecnosolucionismo
Evgeny Morozov define como a crença que toda problema (social, político, existencial) tem uma
solução tecnológica. App para isso, blockchain para aquilo, IA para tudo.
A captura: Despolitiza problemas. Pobreza não é questão de distribuição de
riqueza — é falta de acesso a apps de microcrédito. Solidão não é alienação capitalista — é
necessidade de melhores redes sociais. Transforma cidadãos em usuários e
política em design de produto.
E. Greenwashing Corporativo
Empresas extrativistas (petrolíferas, mineradoras) investem em marketing "verde" enquanto
continuam destruindo ecossistemas.
A captura: Coopta linguagem ecológica (sustentabilidade, carbono neutro, ESG)
para legitimar business-as-usual. "Petróleo limpo" é oxímoro, mas funciona como técnica de
relações públicas. O Capítulo 22 (Necropolítica) poderia incluir
"ecocídio" — morte de ecossistemas — como nova fronteira.
F. Reformismo Progressista: O Experimento Petro na Colômbia (2022-presente)
A eleição de Gustavo Petro em 2022 — primeiro presidente de esquerda na história colombiana —
parecia marcar ruptura histórica. Ex-guerrilheiro do M-19, senador crítico, com vice-presidente
afro-colombiana (Francia Márquez), plataforma de reforma estrutural: agrária,
tributária, energética, paz total. Prometia "transformar a Colômbia", não apenas administrá-la.
Três anos depois (2025), o balanço é tensão dialética irresolvida entre intenção
transformadora e constrangimentos estruturais:
As Promessas de Ruptura
- Transição Energética: Petro declarou que Colômbia deve abandonar
dependência
de carvão e petróleo (que representam 50% das exportações). Propôs moratória em novas
concessões de petróleo, investimento em energias renováveis. Retórica: "É petróleo ou vida".
- Reforma Agrária: Redistribuição de 3 milhões de hectares para camponeses,
fim de concentração fundiária (0,4% dos proprietários controlam 67% da terra).
Reconhecimento
de territórios indígenas.
- "Paz Total": Negociações simultâneas com todas as guerrilhas e grupos
armados
(ELN, dissidências FARC, Clan del Golfo). Objetivo: terminar 60 anos de conflito armado.
- Reforma Tributária Progressiva: Taxar grandes fortunas, mineradoras,
exportadores. Financiar programas sociais sem depender de FMI.
- Reforma à Saúde: Sistema público universal, desmantelando "EPS" (empresas
privadas que intermediam e lucram com saúde).
As Colisões com a Realidade
Mas implementação revelou limites da via eleitoral para transformação sistêmica
na periferia capitalista:
- Congresso Hostil: Petro não tem maioria. Coalizão governante precisa
negociar
com partidos tradicionais (alguns ligados a paramilitares, narcotráfico, elite fundiária).
Cada reforma estrutural é diluída em negociações.
- Sabotagem Econômica: Quando Petro anunciou moratória de petróleo, peso
colombiano desvalorizou, investimentos estrangeiros congelaram. Pressão do FMI e mercados
forçou recuo. Realidade: economia periférica não tem soberania para
escolher
modelo energético (Cap 6 — Dependência).
- Reforma Agrária Travada: Latifundiários, paramilitares e narcotraficantes
(que frequentemente são os mesmos) usam violência. Em 2023-2024, 300+ líderes sociais e
indígenas assassinados. Estado colombiano não tem monopólio da violência
— compartilha com poderes privados armados.
- Fragmentação da Esquerda: Setores à esquerda de Petro o acusam de
"traição" quando recua; centro-direita o acusa de "radicalismo" quando avança. Isolamento
político crescente. Aprovação caiu de 56% (2022) para 28% (2025).
- Limitações Institucionais: Constituição de 1991, escrita para era
neoliberal,
tem travas constitucionais: autonomia de Banco Central (controle inflacionário prioritário
a emprego), regra fiscal (limita gasto público), "estado de coisas inconstitucional" permite
Corte Constitucional bloquear reformas.
⚠️
O Dilema do Reformismo Radical
Petro enfrenta contradição clássica da esquerda eleitoral: precisa transformar estruturas
usando instituições criadas para preservar essas estruturas. É como
tentar demolir uma casa usando apenas ferramentas que estão pregadas no chão da casa.
Quando Allende tentou socialismo pela via eleitoral no Chile
(1970-1973), elite respondeu com golpe. Petro aprendeu a lição: não confronta militares,
não nacionaliza grandes empresas, não rompe com FMI. Mas então, pode haver
transformação
estrutural sem confrontar estruturas de poder?
O Cap 1 explicou materialismo histórico:
mudança real requer transformação de relações de
produção
(quem é dono de quê, quem trabalha para quem). Petro muda
superestrutura
(discurso político, algumas políticas) mas base (concentração de terra,
capital, meios de produção) permanece. É reformismo progressista, não
revolucionário.
Retórica vs. Prática: A Captura em Ato
O governo Petro exemplifica captura em processo — não concluída, mas em curso:
- Linguagem Transformadora: Petro discursa em ONU sobre "capitalismo
genocida",
compara guerra às drogas a colonialismo, defende reparações históricas. Retoricamente, é
mais
radical que qualquer líder latino-americano desde Chávez.
- Práticas Constrangidas: Mas governo continua exportando carvão (2024:
recorde
de exportação — 80 milhões de toneladas), petróleo segue fluindo, reforma tributária
aprovada não taxou grandes fortunas (Senado bloqueou), reforma à saúde
engavetada, reforma agrária distribuiu apenas 80 mil hectares (2,6% da meta).
- Coalização Contraditória: Gabinete inclui progressistas genuínos (Francia
Márquez) mas também políticos tradicionais, ex-uribistas, representantes de oligarquias
regionais. Necessário para governabilidade, mas esvazia projeto transformador.
A captura: Petro mobiliza esperança de mudança estrutural mas
canaliza-a para reformas dentro da ordem. Frustração popular cresce — mas para
onde vai? Direita colombiana (Centro Democrático, uribismo) aguarda colapso de Petro para
retomar
poder com narrativa "provamos que esquerda não funciona". É o que aconteceu pós-Dilma no Brasil.
Conecte ao Cap 29: comunicação política de Petro é
sofisticada
(usa redes sociais, dialoga com movimentos). Mas comunicação sem poder material
(controle de meios de produção, força organizada) é teatral. Gramsci: hegemonia requer tanto
consenso (ideologia) quanto coerção (força). Petro tem consenso fragmentado, não tem força.
O experimento colombiano ainda está em curso (2025), mas já revela limites do reformismo
eleitoral na periferia capitalista do século XXI. Não é "fracasso pessoal" de Petro
—
é demonstração empírica de que estruturas globais de poder (mercados
financeiros,
FMI, oligarquias locais armadas) constrangem severamente margem de manobra de governos
progressistas.
A pergunta que fica: se via eleitoral não transforma, qual via?
🌎
Laboratórios Latino-Americanos de Captura (2020-2025): Uma Síntese
Comparativa
América Latina oferece, simultaneamente, quatro experimentos políticos
divergentes
que iluminam os mecanismos de captura discutidos neste capítulo. Não são "fracassos"
aleatórios —
são manifestações estruturais de contradições capitalistas na periferia. Incluímos
Bolsonaro
(2019-2022) porque, embora não esteja mais no poder, seu legado condiciona
estruturalmente
o que é possível no Brasil pós-2023:
| Dimensão |
🦁 Milei (ARG) |
💀 Bolsonaro (BRA) |
⭐ PT/Lula 3 (BRA) |
✊ Petro (COL) |
| Modelo |
Fascismo Libertário |
Fascismo Neoliberal |
Neoliberalismo Progressista (sob tutela fascista)
|
Reformismo Progressista |
| Período |
2023-presente |
2019-2022 (legado perdura) |
2023-presente |
2022-presente |
| Retórica |
"Liberdade" de mercado, anti-estatismo |
Deus, pátria, família; anti-comunismo; armamentismo
|
Inclusão, direitos humanos, clima (limitada pela
reação) |
Transformação estrutural, paz, justiça social |
| Prática Econômica |
Choque brutal: desvalorização 50%, cortes sociais
massivos |
Paulo Guedes (Chicago): privatizações, reforma da
Previdência, austeridade |
Ortodoxia fiscal (Haddad), arcabouço = austeridade
disfarçada |
Tenta reformas mas recua sob pressão (FMI,
oligarquias) |
| Relação com Capital |
Submissão total (mercados, FMI, agro) |
Aliança com agro, finanças, milícias; predação de
Amazônia |
Conciliação constrangida (não ousa desafiar após
Bolsonaro) |
Conflito não-resolvido: quer regular, não consegue
|
| Relação com Trabalho |
Repressão (protocolo antipiquete, criminalização)
|
Hostilidade total: sindicalistas = comunistas;
uberização celebrada |
Cooptação fraca (sindicatos desmobilizados por
2016-22) |
Aliança frágil (movimentos esperançosos mas
frustrados) |
| Impacto Social |
Catastrófico: pobreza 55%+, PIB -5% |
Necrótico: 700k mortos COVID, genocídio Yanomami,
fome retorna |
Restauração limitada (Bolsa Família volta, mas sem
ousadia) |
Estagnado: 300+ líderes assassinados, reformas
travadas |
| Violência de Estado |
Repressão de protesto, gás lacrimogêneo, prisões
|
Necropolítica explícita: 6.400 mortos por
polícia/ano, milícias |
Herdada (polícia militarizada por Bolsonaro, não
reformada) |
Paramilitares, narcotraficantes (Estado não tem
monopólio) |
| Mecanismo de Captura |
Coopta ódio ao Estado → destrói social, preserva
repressão |
Coopta ressentimento de classe + fundamentalismo →
neoliberalismo + necropolítica |
Captura pela ameaça: "não sou Bolsonaro" basta como
legitimação |
Canaliza esperança → reformas dentro da ordem |
| Contradição Central |
"Liberdade" via Estado autoritário (para capital) e
repressivo (para trabalho) |
Neoliberalismo + fascismo: mercado livre +
teocracia + violência |
Progressismo retórico constrangido por estrutura
neoliberal-fascista herdada |
Transformação via instituições desenhadas para
impedi-la |
| Conexão Teórica |
Cap 5 (Acum. Primitiva) + Cap 22 (Necropolítica) |
Cap 22 (Necropolítica) + Cap 14 (Eng. do Vício/Fake News) |
Cap 10 (Sujeito Automático) +
Cap 29 (Hegemonia)
|
Cap 1 (Mat. Histórico) + Cap 6 (Dependência) |
O Padrão Revelado: Os quatro casos, apesar
de
divergentes ideologicamente, compartilham constrangimento estrutural
comum:
inserção periférica no capitalismo global. Milei e Bolsonaro aceleram
subordinação
via fascismo (libertário vs. neoliberal); PT gerencia subordinação com
face
humana, mas sob tutela da herança fascista (Temer-Bolsonaro deixaram travas estruturais
— teto
de gastos, reforma trabalhista, Congresso reacionário); Petro tenta
resistir
mas é forçado a capitular. Nenhum rompe com lógica de acumulação
(produção
para lucro privado) nem com divisão internacional do trabalho
(periferia
exporta commodities, importa tecnologia).
Caso Especial do Brasil: A sequência
PT (2003-16) → Temer/Bolsonaro (2016-22) → PT (2023-) revela ciclo dialético
perverso:
neoliberalismo progressista gera contradições → capital responde com fascismo para
reestruturar campo político → fascismo é insustentável eleitoralmente (COVID, caos) →
PT retorna, mas domesticado por memória traumática e constrangimentos
institucionais. É dialética sem síntese emancipatória — apenas
alternância
entre gestão progressista do capitalismo e gestão fascista, sem horizonte de superação.
A Lição Dialética: Não é questão de "líderes
fracos" ou "escolhas equivocadas". É demonstração de que estruturas capitalistas
globais (mercados financeiros, corporações transnacionais, arquitetura
institucional
neoliberal) operam como limite objetivo à ação política nacional. O
Cap 6 (Dependência) não é teoria obsoleta — é realidade vivida.
Transformação emancipatória na periferia requer coordenação
transnacional
(retornaremos a isto na seção 31.6) ou confronto aberto que nenhum dos quatro está
disposto
a arriscar (Milei e Bolsonaro porque servem capital; PT e Petro porque temem golpe).
31.4 Por Que a Captura Funciona: Psicologia e Estrutura
Estes modelos não persistem apenas porque elites os impõem. Eles são hegemônicos
(Gramsci, Cap 29) — internalizados por dominados e dominantes. Por quê?
Fatores Psicológicos
- Dissonância Cognitiva: É psicologicamente confortável acreditar que você
pode ser "ético" dentro do sistema (comprar orgânico, investir em ESG) sem precisar
transformar o sistema. Captura oferece essa fantasia.
- Desejo de Pertencimento: Adotar linguagem progressista sinaliza pertencer
ao grupo "dos bons". Performance de valores substitui ação política — mas satisfaz
necessidades sociais.
- Complexidade Paralisante: Problemas sistêmicos são enormes e assustadores.
Soluções individuais (mudar hábitos de consumo) são mensuráveis e controláveis. Oferece
sensação de agência mesmo que ineficaz.
Fatores Estruturais
- Hegemonia Midiática: Quem controla narrativas dominantes? Corporações de
mídia, que são elas mesmas parte da elite econômica. Críticas sistêmicas são marginalizadas;
reformas individualizadas são amplificadas.
- Precariedade Material: Quando você trabalha 60 horas/semana para pagar
aluguel, não tem tempo para organização política coletiva. Precariedade não
é bug, é feature — mantém população desmobilizada.
- Colonização do Imaginário: Margaret Thatcher: "A economia é o método. O
objetivo é mudar o coração e a alma". Neoliberalismo não é apenas política econômica — é
subjetivação. Nos ensina a pensar em nós mesmos como "empreendedores de
si", "capital humano". Alternativas tornam-se literalmente impensáveis.
O Capítulo 14 (Engenharia do Vício) mostrou como plataformas digitais
moldam comportamento via dopamina. Podemos pensar captura ideológica como engenharia do
imaginário — recompensas psicológicas (sentir-se virtuoso) por conformidade
discursiva sem ameaça estrutural.
31.5 Sintomas do Esgotamento: Crises da Racionalidade Ultrarracionalista
Mas há sinais que o modelo está entrando em crise terminal. Contradições acumulam-se:
- Crise Climática Inegável: Soluções individualizadas fracassaram. Fica claro
que apenas transformação sistêmica pode funcionar — mas isso exige abandonar capitalismo de
crescimento infinito.
- Desigualdade Explosiva: Mesmo dentro do Norte Global, meritocracia é
exposta como mito. Mobilidade social cai. Jovens escolarizados enfrentam precariedade.
"Trabalhe duro e terá sucesso" soa cada vez mais cruel.
- Colapso de Confiança Institucional: Pessoas não acreditam mais em mídia
tradicional, política eleitoral, expertise científica. Isto é parcialmente manipulado por
extrema-direita, mas também reflete falhas reais de instituições liberais.
- Ascensão de Alternativas "Irracionais": Negacionismo climático, teorias
conspiratórias, fundamentalismo religioso. Sintomas de que racionalidade iluminista perdeu
apelo — porque foi associada a elites indiferentes.
A crise não é da razão em si, mas de uma racionalidade específica — estreita,
instrumental, individualista, a-histórica — que foi hegemonizada pelo projeto neoliberal.
31.6 Caminhos para Além: Racionalidades Plurais e Praxis Conectadas
Se o ultrarracionalismo capturado está em crise, qual caminho à frente? Este livro tentou mapear
alternativas em várias frentes:
Epistemologia Plural (Parte VII)
O Capítulo 26 introduziu cosmotécnicas não-ocidentais — formas de conhecer
e fazer tecnologia que não separam sujeito/objeto, mente/natureza, razão/emoção. Não são
"pré-modernas" ou "irracionais" — são racionalidades alternativas igualmente
sofisticadas.
Ubuntu (Cap 28): "Eu sou porque nós somos". Racionalidade
relacional, não atomística. Decisões ótimas não maximizam utilidade individual, mas fortalecem
tecido comunitário.
Sumak Kawsay (Bem Viver andino): Prosperidade não é acumulação material, mas
harmonia com natureza e comunidade. PIB não é métrica adequada — bem-estar coletivo é.
Nhandereko Guarani: Reciprocidade (jopói) como princípio
tecnoeconômico. Tecnologias digitais poderiam ser projetadas para facilitar troca
não-mercantilizada, não acumulação.
Ferramentas Materiais (Partes IV-VI)
Racionalidades alternativas precisam de materialização (ler Cap 30
— o salto dialético):
- Cooperativas de Plataforma (Cap 25): Propriedade
coletiva de infraestrutura digital. Não é "solução individual", é estrutura
alternativa.
- Democracia Cibernética (Cap 18, Cybersyn):
Planejamento participativo mediado por tecnologia. Não é "tecnocracia autoritária", mas
ferramenta de empoderamento coletivo.
- Soberania Digital (Cap 21): Infraestrutura
nacional/regional de dados. Rejeita tanto vigilância corporativa (EUA) quanto estatal
(China), propondo controle democrático de dados como bem comum.
Praxis Conectada
Crucialmente, alternativas não podem ser apenas locais ou
individuais. Precisam ser:
- Escaláveis: Cooperativas precisam federar-se em redes interoperáveis. Não
basta uma startup ética — precisa de ecossistema.
- Translocais: Sul Global e periferias do Norte compartilham interesses
contra extrativismo digital. Alianças estratégicas (Cap 23 — BRICS+)
podem criar contra-hegemonia.
- Prefigurativas: Novas estruturas devem performar os
valores que pregam. Uma organização socialista hierárquica é contradição performativa.
Processo é conteúdo (Cap 29).
🌍
A Tarefa Histórica
Não estamos propondo abandono da razão, mas sua pluralização e
relocação. A razão iluminista europeia foi uma entre muitas. Ela produziu
avanços (ciência moderna, direitos humanos) mas também horrores (colonialismo, ecocídio,
bomba atômica — sempre justificados como "racionais").
A tarefa do século XXI é construir um pluriverso de
racionalidades em diálogo horizontal, não hierarquia colonial. Este livro —
escrito em português acadêmico, citando Marx e Wiener e Mbembe e Rivera Cusicanqui — é
uma tentativa imperfeita e incompleta deste diálogo. Mas tenta.
31.7 Conclusão: Não o Fim da Razão, mas Seu Renascimento Plural
O ultrarracionalismo está morrendo. Seus modelos de captura — neoliberalismo progressista,
tecnosolucionismo, positivismo de dados, fascismo libertário — ainda dominam institucionalmente,
mas perderam legitimidade moral e eficácia prática. As crises se multiplicam: climática,
democrática,
econômica, existencial.
A América Latina como Microcosmo Global: Os experimentos simultâneos de Milei
(Argentina),
PT (Brasil) e Petro (Colômbia) — analisados neste capítulo — não são anomalias periféricas. São
laboratórios acelerados onde contradições do capitalismo tardio manifestam-se
de
forma mais crua, sem os amortecedores institucionais do Norte Global. Revelam três caminhos
possíveis,
todos problemáticos:
- Via Regressiva (Milei): Fascismo libertário que destrói o social enquanto
preserva o repressivo. Acelera concentração e necropolítica. É a barbárie
explícita.
- Via Conciliatória (PT): Neoliberalismo progressista que humaniza exploração
sem transformar estruturas. Inclusão pelo consumo, não pela redistribuição de poder. É
captura hegemônica — mais eficaz porque menos visível.
- Via Reformista (Petro): Tenta transformação estrutural via instituições
desenhadas para impedi-la. Frustração crescente levanta questão: se eleições não mudam
nada fundamental, por que elites as permitem? É impasse dialético.
Nenhum dos três rompe com racionalidade ultrarracionalista no sentido profundo.
Milei fetichiza "eficiência de mercado"; PT fetichiza "indicadores de desenvolvimento"; Petro
fetichiza "institucionalidade democrática". Todos aceitam premissas iluministas: crescimento
econômico como métrica de progresso, Estado-nação como unidade política, racionalidade técnica
como árbitro de decisões. As cosmotécnicas alternativas exploradas na Parte VII
(Ubuntu, Sumak Kawsay, Nhandereko) permanecem marginalizadas, folclorizadas, não-operacionais.
Este não é o fim da razão. É o fim de uma razão — estreita, instrumental,
colonial, mercantilizada. E no vazio de sua crise, dois futuros disputam espaço:
- Regressão Autoritária: Fascismo digital, teocracia algorítmica,
neofeudalismo tecnocrático. Futuro onde elites híbridas (humano-IA) governam massas
precarizadas através de vigilância total. Milei é prévia deste futuro —
combina retórica de "liberdade individual" com práticas de controle social. Não é ficção
distópica — é Buenos Aires em 2025.
- Pluriverso Emancipatório: Multiplicidade de racionalidades coexistindo,
hibridizando, traduzindo-se mutuamente. Tecnologias a serviço de comunidades, não
corporações. Democracia radical mediada por feedback cibernético. Elementos
existem
— cooperativas de plataforma (Cap 25), práticas indígenas
(Cap 26), redes transnacionais de solidariedade. Mas fragmentados,
não-escalonados, sem poder suficiente. Possível? Talvez. Necessário? Absolutamente.
A Lição Latino-Americana para o Mundo: O que acontece hoje em Buenos Aires,
Brasília e Bogotá prefigura o que acontecerá amanhã em Paris, Berlim, Nova York. Crise
climática,
colapso institucional, polarização extrema, ascensão de "alternativas" autoritárias disfarçadas
de inovação. A periferia não "atrasa" — antecipa. O Cap 6
(Dependência) mostrou: periferia é laboratório onde centros testam modelos antes de
implementá-los em casa. Pinochet foi ensaio para Thatcher/Reagan. Bolsonaro foi ensaio para
Trump 2.0. Milei pode ser ensaio para próxima onda neofascista global.
Este livro apostou — e você, ao tê-lo lido até aqui, apostou junto — que o segundo futuro é
construível. Não por inevitabilidade histórica (Marx nos ensinou a rejeitar determinismo), mas
por escolha coletiva e luta organizada. E essa luta precisa aprender com
fracassos do presente:
- Não basta ganhar eleições (lição de Petro): estruturas de poder econômico
(mercados financeiros, corporações transnacionais) operam fora e acima de democracia
eleitoral.
Transformação requer poder dual — institucional + movimentos sociais +
controle de meios de produção.
- Não basta administrar melhor o capitalismo (lição do PT): conciliação de
classe é temporária. Quando crescimento econômico para, contradições explodem. Reformas
compensatórias sem transformação estrutural criam castelo de cartas que
desmorona na primeira crise.
- Não basta destruir o Estado sem alternativa (contra-lição de Milei):
desmantelar provisão pública sem construir formas não-mercantilizadas de reprodução social
gera apenas darwinismo social. "Estado mínimo" para pobres + Estado
policial
para dissidentes = novo feudalismo.
A razão não salva. Nunca salvou. Mas racionalidades plurais, enraizadas em éticas de cuidado,
reciprocidade e pertencimento, armadas com ferramentas cibernéticas de feedback e
auto-organização, podem construir mundos habitáveis. Os casos latino-americanos
ensinam que isso requer:
- Internacionalismo Renovado: Nenhum país periférico sozinho resiste a
pressões de mercados globais. Alianças estratégicas (BRICS+, integração sul-americana) não
como fim, mas como espaço de manobra. O Cap 23
explorou possibilidades e limites.
- Democracia Econômica: Propriedade social de meios de produção
(cooperativas,
empresas públicas, commons digitais) não como slogan, mas infraestrutura material. O
Cap 25 mapeou cooperativas de plataforma como protótipo.
- Tecnologia como Comum: Soberania digital, código aberto, infraestrutura
pública de dados. Rejeitar tanto vigilância corporativa (Vale do Silício) quanto estatal
(China), propor controle democrático. O Cap 21
defendeu esta via.
- Epistemologias Plurais: Reconhecer racionalidades não-ocidentais não como
"folclore", mas como conhecimentos operacionais. Cybersyn (Cap
18)
poderia dialogar com Nhandereko Guarani (Cap 28) — ambos sobre
reciprocidade e feedback.
O ultrarracionalismo está morto. Milei, PT e Petro — cada um à sua maneira —
são sintomas de sua agonia, não superações. Longa vida às racionalidades plurais. Longa
vida aos muitos futuros possíveis, não ao futuro único prescrito (seja
mercado livre, seja planejamento centralizado, seja reforma eleitoral). Longa vida à
dança dialética entre matéria e informação, indivíduo e coletivo, tradição e
inovação, Norte e Sul, centro e periferia. Este livro termina, mas o trabalho — seu trabalho,
leitor, especialmente se você está na América Latina, na África, na Ásia — começa
agora. Oguatá Porã. Caminhemos bem, juntos, em muitas direções ao mesmo tempo,
aprendendo com nossos erros, celebrando nossos acertos, construindo o que Zapatistas chamam
de "mundo onde cabem muitos mundos".
🔗 Conexões com Outros Capítulos — Síntese Final
🏛️ 1. O Projeto Iluminista e Sua Traição (Caps 1, 8, 9: Teoria Crítica)
Conexão: Cap 1 apresentou Marx como filho crítico do
Iluminismo — aceitava razão/ciência, mas mostrou que "liberdade
burguesa" escondia exploração. Cap 8 (Escola de Frankfurt) levou crítica mais
longe: Adorno/Horkheimer argumentaram que razão instrumental
(razão voltada apenas para eficiência) gerou Auschwitz e indústria cultural. Cap
9 (Habermas) tentou resgatar razão via "razão comunicativa".
Insight deste capítulo: O problema
não é razão per se, mas ultrarracionalismo — a crença
que:
- Razão é universal (mesma para todos)
- Razão é neutra (sem valores embutidos)
- Razão sempre progride (linearidade histórica)
- Problemas têm soluções técnicas racionais (tecnosolucionismo)
Neoliberalismo progressista é a forma contemporânea desta traição:
usa
linguagem emancipatória (diversidade, inclusão) para legitimar
estruturas opressivas (precarização, vigilância). É "razão
comunicativa" (Habermas) capturada pelo mercado.
Solução: Não abandonar razão, mas
pluralizá-la. Reconhecer que Guarani (Cap 26), Ubuntu (Cap 27),
Confucionismo (Cap 26) têm suas próprias racionalidades — igualmente válidas,
mas diferentes. Razão ocidental não é "A" razão.
💰 2. Captura Capitalista de Movimentos Emancipatórios (Caps 3, 10, 12: Plataformas)
Conexão: Cap 3 explicou como plataformas digitais (Google,
Facebook, Uber) extraem mais-valia de dados. Cap 10 mostrou que capital opera
como sujeito automático — processo que metaboliza qualquer
conteúdo (incluindo crítica). Cap 12 revelou economia da atenção como
extrativismo cognitivo.
Insight deste capítulo:
Neoliberalismo progressista É capitalismo de plataforma aplicado à
política identitária. Veja o paralelo:
|
Plataforma Digital |
Neoliberalismo Progressista |
| Extrai dados de
usuários "gratuitos" |
Extrai trabalho
emocional de "aliados" performando diversidade |
| Vende anúncios
segmentados |
Vende "pink money",
mercantiliza identidades |
| Algoritmo cria
bolhas ideológicas |
Política identitária
fragmenta classe trabalhadora |
| Monetiza engajamento
(raiva, medo) |
Monetiza indignação
(woke capitalism) |
Exemplo concreto: Facebook celebra
Pride Month (logo arco-íris) enquanto algoritmo amplifica discurso de ódio
anti-LGBTQIA+ em países do Sul Global (Cap 22 — necropolítica digital).
Não é hipocrisia — é lógica do capital. Cada mercado recebe
mensagem otimizada para extração de valor.
Resistência: Cap 25 propôs
cooperativas de plataforma como alternativa. Mas este capítulo adiciona:
cooperativas precisam resistir à captura discursiva. Não basta
ser "Uber mas cooperativo" — precisa questionar toda lógica (gig economy,
precarização, individualização do risco).
🌍 3. Dependência Digital e Colonialismo Progressista (Caps 19-21: Geopolítica)
Conexão: Cap 19 cunhou termo colonialismo de
dados — extração de recursos (dados) da periferia para centros
imperiais. Cap 20 mapeou dependência digital do Brasil. Cap 21 propôs soberania
digital como resistência.
Insight deste capítulo:
Neoliberalismo progressista é ferramenta de soft power
imperial. Funciona assim:
- Passo 1: Big Tech dos EUA (Google, Microsoft, Meta) dominam
infraestrutura digital global
- Passo 2: Exportam valores "universais" (direitos humanos,
diversidade, sustentabilidade) via plataformas
- Passo 3: Países/culturas que resistem são rotulados
"autoritários", "atrasados", "violadores de direitos"
- Passo 4: Justifica sanções, intervenções, regime change —
sempre em nome de valores "progressistas"
Exemplo histórico: "Responsabilidade
de Proteger" (R2P) foi doutrina "progressista" (proteger civis de genocídio)
usada para justificar intervenção na Líbia (2011) — que destruiu o país mais
próspero da África e criou mercados de escravos. Linguagem emancipatória
mascarou imperialismo.
Resistência digital: Cap 21 propôs
soberania digital. Este capítulo adiciona: soberania não pode ser apenas técnica
(data centers nacionais) — precisa ser epistêmica. Rejeitar
universalismo ocidental disfarçado de "valores globais". Caps 26-28 mostraram
alternativas: Ubuntu, Nhandereko, Confucionismo são bases éticas tão válidas
quanto liberalismo ocidental.
📊 4. Positivismo de Dados e Quantificação Neoliberal (Caps 13, 15: Algoritmos)
Conexão: Cap 13 expôs viés algorítmico — sistemas "objetivos"
reproduzem preconceitos históricos. Cap 15 mostrou discriminação algorítmica em
crédito, justiça criminal, contratação. Ambos criticaram fetiche da
neutralidade matemática.
Insight deste capítulo:
"Positivismo de dados" é racionalidade ultrarracionalista aplicada ao
Big Data. Pressupostos:
- Dados são fatos objetivos (ignora que dados são construídos
— o que medimos, como categorizamos, que proxies usamos)
- Mais dados = melhor verdade (ignora que correlação ≠ causação, e padrões
passados não determinam futuros justos)
- Algoritmos são neutros (ignora que código materializa decisões
normativas de programadores/corporações)
Exemplo concreto (seção 31.2.2.C):
Austeridade fiscal apresentada como "necessidade matemática" ("as contas não
fecham"). Mas é escolha política: cortar gastos sociais OU
taxar ricos? "Matemática" despolitiza decisão que é intrinsecamente política.
Contraposição: Cap 18 (Cybersyn)
mostrou uso emancipatório de dados — transparência em tempo
real para trabalhadores tomarem decisões coletivas. Dados não são
problema. Problema é quando dados são usados para ocultar
poder (via pretensa neutralidade) ao invés de democratizar
poder (via transparência).
💀 5. Necropolítica Progressista (Cap 22: Violência Digital)
Conexão: Cap 22 introduziu necropolítica
digital (Mbembe aplicado a tecnologia) — poder de decidir quem vive
e quem morre via algoritmos. Exemplos: shadowban de ativistas, desinformação
sobre vacinas, algoritmos de moderação que censuram Palestina mas não Israel.
Insight deste capítulo:
Neoliberalismo progressista pratica necropolítica enquanto fala
linguagem de direitos humanos. Casos:
- Greenwashing corporativo (seção 31.3.D): Shell fala de
"sustentabilidade" enquanto extrai petróleo no Ártico. Mudança climática
mata majoritariamente pobres do Sul Global. Necropolítica
climática com cara progressista.
- Moderação de conteúdo: Facebook bane nudez (protegendo
"crianças") mas permite vídeos de linchamento. Quem decide? Algoritmo
treinado por moderadores mal-pagos no Sul Global (Cap
12). Necropolítica terceirizada.
- "Intervenção humanitária": Drones dos EUA matam civis no
Paquistão/Yemen. São chamados "strikes cirúrgicos" (linguagem médica!).
Algoritmo de IA escolhe alvos. Assassinato algorítmico com retórica
salvacionista.
A lógica: Progressismo neoliberal
divide mundo em "vidas que importam" (ocidentais, consumidores,
conectados) e "vidas descartáveis" (periferias, precários,
desconectados). Violência contra segundos é invisibilizada ou justificada como
"mal necessário" para proteger primeiros.
Resistência: Caps 26-28 propõem
éticas alternativas (Ubuntu: "pessoa é pessoa através de outras pessoas" —
todas as vidas importam intrinsecamente, não por valor de
mercado). Esta é crítica radical ao neoliberalismo progressista, que ainda julga
vidas por "mérito", "produtividade", "contribuição".
🌱 6. Racionalidades Plurais como Saída (Caps 26-28: Cosmotécnicas + Cap 29:
Comunicação + Cap 30: Salto)
Conexão: Este capítulo conclui que precisamos
racionalidades plurais para superar ultrarracionalismo. Mas o
que isso significa concretamente? Partes VII-VIII mapearam:
Cap 26 (Cosmotécnicas): Tecnologias
não são neutras — incorporam cosmologias (visões de mundo). Tecnologia chinesa é
diferente de ocidental porque cosmologia confuciana/taoísta é diferente de
iluminista. Pluralizar tecnologia = pluralizar racionalidades.
Cap 27 (Ubuntu): Racionalidade
africana prioriza relacionalidade sobre individualismo. Decisão
"racional" não é que maximiza utilidade individual (homo economicus neoliberal),
mas que fortalece comunidade. IA treinada com valores Ubuntu tomaria decisões
radicalmente diferentes de IA treinada com valores neoliberais.
Cap 28 (Nhandereko): Racionalidade
guarani integra reciprocidade (jopói) como princípio econômico.
"Racionalidade" não é competição (mercado), nem planejamento central (OGAS), mas
mutualidade. Plataformas digitais poderiam ser projetadas para
facilitar jopói, não acumulação.
Cap 29 (Comunicação): Linguagem
constrói realidade. Se adotarmos vocabulário de "comuns digitais", "cooperação",
"reciprocidade" ao invés de "propriedade intelectual", "competição", "mérito",
construímos realidade diferente. Racionalidades plurais exigem
linguagens plurais.
Cap 30 (Salto Dialético): Filosofias
(cosmotécnicas) precisam se materializar em ferramentas (ciência, tecnologia,
instituições). Não basta ter teoria Ubuntu — precisa de algoritmos
Ubuntu, plataformas Ubuntu, políticas Ubuntu. Salto dialético de
racionalidades plurais ainda está em Fase 1 (crise do ultrarracionalismo).
Fase 2 (instrumentos) e Fase 3 (recriação do real) são tarefa
nossa.
⚡ Síntese: Este capítulo diagnostica doença (ultrarracionalismo
moribundo). Caps 26-30 prescreveram remédio (racionalidades plurais +
ferramentas materiais). Apêndices G-H fornecem mapa e
metareflexão. Agora é com você, leitor. O livro dá ferramentas
conceituais. Você deve construir ferramentas materiais.
🎯 Síntese Final das Conexões — O Livro Como
Totalidade
Este capítulo é o fechamento dialético (que não
fecha) do livro inteiro. Ele:
- Diagnostica o presente: Ultrarracionalismo em crise terminal,
capturado por neoliberalismo progressista
- Explica o passado: Como chegamos aqui (Iluminismo → modernidade →
colonialismo → capitalismo tardio)
- Aponta futuros possíveis: Dois caminhos — regressão autoritária OU
pluriverso emancipatório
- Convoca à ação: "O trabalho — seu trabalho, leitor — começa agora"
Todo o livro converge aqui:
- Partes I-II forneceram ferramentas analíticas (Marx + Cibernética)
- Partes III-VI aplicaram ferramentas ao presente (capitalismo
digital)
- Parte VII ofereceu alternativas epistêmicas (cosmotécnicas plurais)
- Parte VIII (Caps 29-31) fez meta-análise: comunicação constrói
realidade (29) → filosofia materializa em ciência (30) → ultrarracionalismo atual é
filosofia moribunda que precisa salto dialético (31)
O loop não fecha. A espiral continua. Oguatá Porã. 🌿✨
Próximo: Apêndice G (Mapa Mental) visualiza teia conceitual do livro |
Apêndice H (Metareflexão) questiona se precisamos "fechar"
livro sobre sistemas abertos
---
Capítulo 32
Capítulo 32: A Democracia como Sistema Operacional — Bugs, Patches e um Novo Protocolo
"A democracia liberal não é o fim da história, mas um sistema operacional com bugs críticos. A
tarefa não é apenas aplicar patches, mas desenvolver um novo protocolo para a computação
social."
— O Besta Fera, 2025
A Ilusão do Contrato e a Realidade do Código
Nos capítulos anteriores, desconstruímos a ficção do "eu" individual, revelando-o como um nó em
uma vasta rede de relações. Argumentamos que o capitalismo opera como um sistema cibernético de
primeira ordem, um mecanismo de controle que se alimenta da atomização dos sujeitos. Agora,
voltamos nossa atenção para a arena onde essa atomização é politicamente consagrada: a
democracia liberal representativa.
Longe de ser um ideal atemporal, a democracia liberal é uma tecnologia política específica, com
uma arquitetura e um código-fonte que merecem ser examinados. Seus arquitetos, como John
Locke e Montesquieu, não estavam projetando um sistema para a
emancipação coletiva, mas um mecanismo para proteger a propriedade privada e limitar o poder do
Estado absolutista. O "contrato social" é a interface do usuário; a separação de poderes é o seu
código-fonte.
Montesquieu, em "O Espírito das Leis" (1748), propôs a divisão tripartite do poder — Executivo,
Legislativo e Judiciário — como um sistema de freios e contrapesos (checks
and balances). A lógica é a de um circuito de feedback negativo: cada poder deve ser
capaz de conter os excessos dos outros, garantindo um equilíbrio que impeça a tirania. É, em
essência, um algoritmo de controle projetado para manter a estabilidade do sistema, não para
transformá-lo. A democracia liberal, portanto, não é um sistema de autogoverno popular, mas um
sistema de governo limitado para uma classe proprietária.
Como aponta a crítica marxista, desde Marx até Rosa Luxemburgo, o Estado burguês, mesmo em sua
forma democrática, permanece um "Estado de classe". A igualdade formal perante a lei e o direito
ao voto coexistem com a desigualdade material gritante da exploração capitalista. A separação
entre o cidadão (na esfera política) e o trabalhador (na esfera econômica) é o bug fundamental
que permite que a exploração continue, mascarada pela ficção da representação.
O Presidencialismo de Coalizão: Um Fork Tropicalizado com Bugs Crônicos
No Brasil, essa arquitetura foi implementada através de um fork específico: o
presidencialismo de coalizão. Adotado na Constituição de 1988, este sistema
combina um presidente com amplos poderes com um sistema multipartidário altamente fragmentado. O
resultado é um sistema operacional cronicamente instável, que exige do Executivo a constante
negociação de apoio no Legislativo através da distribuição de cargos e verbas — um convite
institucionalizado à corrupção e ao clientelismo.
Este modelo transforma a governabilidade em um mercado, onde o apoio político é uma mercadoria.
As consequências são falhas sistêmicas que corroem a legitimidade do sistema:
| Falha Sistêmica |
Descrição |
Consequência no Brasil |
| Corrupção Endêmica |
O sistema incentiva a troca de favores e a captura do Estado por interesses
privados para garantir a governabilidade. |
Escândalos recorrentes (Mensalão, Lava Jato) que desmoralizam a política e
alimentam o cinismo. |
| Crise de Representatividade |
Os representantes, ocupados com a barganha política, se distanciam das demandas
da população que os elegeu. |
Desconexão profunda entre a classe política e a sociedade, resultando em
protestos massivos e desconfiança nas instituições. |
| Judicialização da Política |
O Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal (STF), é cada vez mais
chamado a arbitrar disputas políticas, excedendo sua função original. |
Ativismo judicial que politiza a justiça e judicializa a política, gerando
instabilidade e questionamentos sobre a legitimidade das decisões. |
| Paralisia Decisória |
A necessidade de construir e manter coalizões frágeis impede a implementação de
reformas estruturais e políticas de longo prazo. |
Incapacidade de enfrentar os problemas crônicos do país, como a desigualdade, a
violência e a dependência econômica. |
O presidencialismo de coalizão não é uma falha acidental; é a expressão lógica de um sistema
projetado para gerenciar o conflito entre elites, marginalizando a participação popular efetiva.
É um sistema de primeira ordem que visa manter o status quo, não canalizar a vontade
coletiva para a transformação social.
O Patch Participativo: Um Upgrade Insuficiente
Diante das falhas evidentes do sistema representativo, surgiram propostas de "patches" —
atualizações que visam corrigir os bugs mais gritantes sem alterar o sistema operacional
central. A democracia participativa é o mais importante desses patches.
Experiências como o Orçamento Participativo (OP), pioneiro em Porto Alegre, e a
criação de conselhos populares demonstram o potencial de incluir os cidadãos
diretamente em algumas decisões, especialmente no nível municipal.
Esses mecanismos introduzem loops de feedback mais curtos e diretos entre a população e o Estado.
No Orçamento Participativo, por exemplo, os cidadãos deliberam e decidem sobre a alocação de
parte dos recursos públicos, fiscalizando a execução das obras. É um vislumbre de uma
cibernética de segunda ordem, onde o sistema se torna capaz de observar e modificar a si mesmo
com base na participação de seus componentes.
A democracia digital, através de plataformas como o portal e-Democracia da
Câmara dos Deputados, tenta replicar essa participação no nível federal, permitindo que cidadãos
proponham e debatam projetos de lei. No entanto, essas iniciativas permanecem como apêndices de
um sistema cuja lógica central continua sendo a representação atomizada e a barganha de cúpula.
Elas são patches valiosos, mas insuficientes. Eles não alteram a arquitetura
fundamental do poder.
Para Além do Patch: Um Novo Protocolo de Governança
A crítica radical, alinhada ao espírito deste manifesto, exige mais do que patches. Exige um novo
protocolo de governança, uma transição para uma cibernética política de
segunda ordem. Isso significa superar a separação entre representantes e
representados, entre planejamento e execução, entre Estado e sociedade.
Inspirados em experimentos como o Projeto Cybersyn no Chile de Allende
(detalhado no Capítulo 18), que tentou criar um sistema de planejamento econômico participativo
em tempo real, podemos imaginar uma arquitetura política para o século XXI baseada em quatro
pilares fundamentais:
1. Plataformas de Deliberação Coletiva: O GitHub da Legislação
A democracia representativa opera em ciclos longos e opacos: eleições a cada quatro anos,
projetos de lei escritos por gabinetes fechados, votações que a população só acompanha pelos
jornais. O primeiro pilar do novo protocolo é a criação de plataformas de deliberação
coletiva que permitam a participação direta e contínua na construção das políticas
públicas.
Imagine um sistema inspirado no GitHub, a plataforma de desenvolvimento
colaborativo de software. Nela, qualquer pessoa pode propor uma mudança no código (pull
request), outros podem revisar, sugerir melhorias, debater e, finalmente, a mudança é
incorporada ou rejeitada com base em critérios transparentes. Aplicado à legislação, isso
significaria:
- Proposição Aberta: Qualquer cidadão ou coletivo pode propor uma política
pública, redigindo-a em linguagem clara e estruturada. A proposta é publicada na plataforma,
acessível a todos.
- Revisão por Pares: Especialistas, movimentos sociais, cidadãos interessados
e até algoritmos de análise de impacto podem revisar a proposta, apontando inconsistências,
conflitos com outras leis, possíveis consequências não intencionais.
- Debate Estruturado: Em vez de comentários caóticos, o debate é organizado
em tópicos específicos (impacto econômico, viabilidade técnica, justiça social, etc.).
Ferramentas de moderação algorítmica e humana garantem que o debate seja produtivo, não uma
guerra de trolls.
- Emendas Colaborativas: Qualquer participante pode propor emendas à proposta
original. As emendas são discutidas e votadas separadamente, permitindo que a proposta
evolua organicamente.
- Votação Ponderada: A decisão final não é uma simples maioria de cliques.
Pode-se usar sistemas de votação mais sofisticados, como votação quadrática
(onde o custo de cada voto adicional aumenta exponencialmente, evitando que minorias
intensas sejam sempre derrotadas por maiorias apáticas) ou democracia
líquida (onde cada pessoa pode votar diretamente ou delegar seu voto a alguém
de confiança em temas específicos).
- Implementação Transparente: Uma vez aprovada, a política é implementada com
total transparência. Dados sobre sua execução são publicados em tempo real na mesma
plataforma, permitindo que a população monitore e cobre resultados.
Exemplos embrionários já existem. O vTaiwan, plataforma taiwanesa, usou
ferramentas de deliberação online para construir consenso sobre temas polêmicos como regulação
de Uber e venda de álcool online, envolvendo milhares de cidadãos. O Decidim,
usado em Barcelona e outras cidades, permite que cidadãos proponham, debatam e votem em
políticas municipais. O desafio é escalar essas experiências, tornando-as a norma, não a
exceção.
🔗
Conexões com o Manifesto
Este capítulo concretiza politicamente o que o Manifesto Cibernético
declara filosoficamente:
"Não somos indivíduos isolados, mas nós de uma rede interdependente". Se nossa
ontologia é relacional,
nossa política não pode ser liberal-individualista.
📖 Leia especialmente:
• Loop 2
(Sistema) — sobre como
sistemas criam realidades através de feedback
• Loop 3
(Agência) — sobre como a
ação coletiva organizada transforma sistemas
• Práxis Programática — as 12
diretrizes que conectam teoria e ação
2. Sensores Sociais e Feedback em Tempo Real: O Painel de Controle do Bem-Estar Coletivo
O segundo pilar é a construção de um sistema de sensores sociais que permita ao
sistema político perceber as necessidades da população em tempo real, não apenas a cada quatro
anos. Isso não significa vigilância totalitária, mas a criação de canais transparentes e
voluntários de feedback que alimentem o planejamento democrático.
No Projeto Cybersyn, fábricas chilenas enviavam dados de produção diariamente para um centro de
controle, permitindo que o governo detectasse problemas (como falta de matéria-prima ou greves)
e respondesse rapidamente. Hoje, com smartphones, internet das coisas e big data, podemos criar
um sistema infinitamente mais sofisticado e democrático:
- Aplicativos de Feedback Cidadão: Plataformas onde cidadãos podem reportar
problemas urbanos (buracos, falta de iluminação, violência), avaliar serviços públicos
(saúde, educação, transporte) e sugerir melhorias. Esses dados, agregados e anonimizados,
criam um mapa em tempo real das necessidades de cada território.
- Indicadores de Bem-Estar Coletivo: Em vez de focar apenas no PIB, o sistema
monitora indicadores multidimensionais de bem-estar: saúde mental, qualidade do ar, tempo de
deslocamento, acesso a cultura, segurança alimentar, etc. Esses dados são coletados de forma
transparente e ética, com consentimento explícito e controle dos cidadãos sobre seus
próprios dados.
- Assembleias Digitais Aleatórias: Periodicamente, amostras aleatórias da
população são convidadas a participar de assembleias digitais sobre temas específicos. Essas
assembleias, inspiradas nos júris cidadãos usados na Irlanda e na França,
garantem que a diversidade da população seja ouvida, não apenas os mais engajados ou
ruidosos.
- Painéis de Controle Públicos: Todos esses dados alimentam painéis de
controle públicos, acessíveis a qualquer cidadão. Você pode ver, em tempo real, como está a
qualidade da água no seu bairro, quantas pessoas estão esperando por cirurgia no hospital
mais próximo, qual a taxa de desemprego na sua região. E, mais importante, pode ver como as
políticas públicas estão impactando esses indicadores.
- Planejamento Adaptativo: Com esse fluxo contínuo de informação, o
planejamento deixa de ser um exercício burocrático feito a cada quatro anos e se torna um
processo dinâmico e adaptativo. Se um indicador de bem-estar cai em determinada região, o
sistema alerta automaticamente e dispara um processo de deliberação coletiva para
identificar causas e soluções.
A chave aqui é que os dados não são usados para controlar a população, mas para
empoderar a população a controlar o Estado. A propriedade dos dados é coletiva,
a governança é transparente, e o objetivo é o bem-estar, não o lucro ou o controle.
3. Autogestão em Múltiplas Escalas: A Rede Federada de Poder Popular
O terceiro pilar é o fortalecimento de estruturas de autogestão em múltiplas
escalas — do bairro à nação — organizadas em uma rede federada onde o poder flui de baixo para
cima, não de cima para baixo. Isso inverte a lógica do Estado centralizado, aplicando o
princípio da subsidiariedade: decisões devem ser tomadas no nível mais próximo
possível dos afetados.
- Conselhos de Bairro: Na escala mais local, cada bairro ou comunidade tem
seu conselho, eleito ou sorteado entre os moradores. Esse conselho delibera sobre questões
locais: uso de espaços públicos, prioridades de infraestrutura, mediação de conflitos. Tem
orçamento próprio (parte do orçamento municipal) e poder de decisão real.
- Comitês de Fábrica e Cooperativas de Trabalho: No mundo do trabalho, a
autogestão significa que trabalhadores controlam democraticamente suas empresas. Comitês de
fábrica, inspirados nos conselhos operários históricos, tomam decisões sobre produção,
distribuição de lucros, condições de trabalho. Cooperativas, onde cada trabalhador é sócio,
substituem a hierarquia capitalista pela gestão horizontal.
- Conselhos Setoriais: Em setores estratégicos (saúde, educação, energia,
transporte), conselhos compostos por trabalhadores, usuários e especialistas deliberam sobre
políticas setoriais. Um conselho de saúde, por exemplo, reúne médicos, enfermeiros,
pacientes e gestores para decidir sobre alocação de recursos, protocolos de atendimento,
pesquisa.
- Assembleias Municipais e Regionais: Decisões que afetam múltiplos bairros
ou setores são levadas a assembleias municipais ou regionais, onde delegados dos conselhos
de base apresentam propostas, debatem e votam. Esses delegados têm mandatos
imperativos (devem seguir as diretrizes de suas bases) e são
revogáveis (podem ser destituídos a qualquer momento se traírem o mandato).
- Federação Nacional: No nível nacional, uma assembleia federada reúne
delegados de todas as regiões e setores para deliberar sobre questões que exigem coordenação
em larga escala: política externa, infraestrutura nacional, redistribuição de recursos entre
regiões. Mas essa instância não tem poder de impor decisões de cima para baixo; seu papel é
coordenar, não comandar.
Essa arquitetura federada cria múltiplos loops de feedback entre diferentes escalas de poder.
Problemas identificados na base sobem para instâncias superiores quando necessário; recursos e
coordenação descem das instâncias superiores para apoiar as bases. O poder não está concentrado
no topo, mas distribuído em rede.
Exemplos históricos e contemporâneos inspiram essa visão: os sovietes russos de
1917 (antes da burocratização stalinista), as comunas da Guerra Civil
Espanhola, os conselhos populares da Revolução Portuguesa de 1974, e, mais
recentemente, a experiência de Rojava no norte da Síria, onde um sistema de
confederalismo democrático organiza a sociedade em múltiplas escalas de autogoverno.
4. Sorteio e Mandatos Imperativos: Desprofissionalizando a Política
O quarto pilar ataca diretamente a formação de uma classe política profissional
separada da sociedade. A democracia ateniense usava o sorteio (kleroterion) para
escolher a maioria dos cargos públicos, garantindo que qualquer cidadão pudesse governar e ser
governado. Esse princípio, combinado com mandatos imperativos e revogáveis, pode ser
ressuscitado para o século XXI.
- Sorteio para Assembleias Legislativas: Em vez de eleger profissionais da
política, uma parcela significativa das assembleias legislativas (por exemplo, 50%) seria
composta por cidadãos sorteados, como em um júri. Esses cidadãos seriam liberados de seus
trabalhos (com salários mantidos), receberiam formação intensiva sobre o funcionamento do
Estado e deliberariam por um período limitado (1-2 anos) antes de retornar à vida civil.
Isso garante que a assembleia reflita a diversidade real da população, não apenas de quem
pode pagar uma campanha eleitoral.
- Eleição com Mandatos Imperativos: Para funções que ainda exijam eleição
(como cargos executivos ou representantes de movimentos sociais), os eleitos devem ter
mandatos imperativos: são obrigados a seguir as diretrizes decididas por
suas bases em assembleias. Se um deputado foi eleito com um programa de defesa da saúde
pública e vota pela privatização, ele está traindo o mandato e pode ser imediatamente
revogado.
- Revogabilidade Permanente: Qualquer representante, eleito ou sorteado, pode
ser destituído a qualquer momento se perder a confiança de sua base. Isso exige mecanismos
simples e acessíveis de recall, como plataformas digitais onde cidadãos podem iniciar
processos de revogação com um número mínimo de assinaturas.
- Rotatividade e Limite de Mandatos: Ninguém deve fazer carreira na política.
Mandatos são limitados (por exemplo, máximo de dois mandatos consecutivos) e há rotatividade
obrigatória. Isso impede a cristalização de uma elite política e garante renovação
constante.
- Remuneração Equivalente: Representantes recebem salários equivalentes à
média dos trabalhadores que representam, não salários de elite. Isso garante que a motivação
para ocupar cargos públicos seja o serviço, não o enriquecimento pessoal.
Essas medidas, inspiradas em experiências como as assembleias cidadãs da Irlanda
(que deliberaram sobre aborto e casamento igualitário) e os conselhos operários
históricos, visam desprofissionalizar a política, transformando-a de carreira
em serviço temporário. O objetivo é que qualquer pessoa possa participar do governo, não apenas
uma casta de políticos profissionais.
⚙️
Conexões com o Conceito
Nhandereko
Os quatro pilares deste capítulo ressoam com os princípios relacionais do conceito
Nhandereko
— "nosso modo de ser" como base para organização coletiva não-hierárquica:
🌱 Como Nhandereko inspira cada pilar:
• Plataformas de Deliberação → Organização horizontal baseada em relações,
não hierarquias
• Sensores Sociais → Escuta ativa da comunidade como processo coletivo
• Autogestão Federada → Redes de reciprocidade e decisões distribuídas
• Desprofissionalização → Rotatividade e responsabilidade compartilhada
� Explore o conceito: Veja os capítulos sobre epistemologias indígenas e
organização relacional
🏛️ Arquitetura do Novo Protocolo Democrático
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ FEDERAÇÃO NACIONAL (Coordenação) │
│ Delegados revogáveis + Mandatos imperativos │
└──────────────────┬─────────────────────────────────────────────┘
│
┌─────────┴─────────┐
│ │
┌────────▼────────┐ ┌──────▼──────────┐
│ ASSEMBLEIAS │ │ CONSELHOS │
│ REGIONAIS │ │ SETORIAIS │
│ (Múltiplos │ │ (Saúde, │
│ territórios) │ │ Educação...) │
└────────┬────────┘ └──────┬──────────┘
│ │
└─────────┬────────┘
│
┌─────────▼─────────┐
│ │
┌────────▼────────┐ ┌──────▼──────────────┐
│ CONSELHOS DE │ │ COMITÊS DE │
│ BAIRRO │ │ FÁBRICA/ │
│ (Autogestão │ │ COOPERATIVAS │
│ territorial) │ │ (Autogestão work) │
└─────────────────┘ └─────────────────────┘
│ │
└─────────┬────────┘
│
┌─────────▼─────────┐
│ PLATAFORMAS │
│ DIGITAIS │
│ • GitHub Político │
│ • Sensores Sociais│
│ • Painéis Públicos│
└───────────────────┘
FEEDBACK EM TEMPO REAL ↑↓ TODOS OS NÍVEIS
PODER FLUI ↑ DE BAIXO PARA CIMA
COORDENAÇÃO FLUI ↓ SEM IMPOSIÇÃO
Síntese: Da Crítica à Construção
Esses quatro pilares — plataformas de deliberação coletiva, sensores sociais em tempo real,
autogestão federada e desprofissionalização da política — não são uma utopia distante, mas um
horizonte político construído a partir das ferramentas e das lutas do presente. Significa levar
a sério a premissa do nosso manifesto: se somos um eu coletivo, uma rede interdependente, nossa
forma de governo deve refletir essa realidade. Deve ser um sistema distribuído, participativo e
em constante aprendizado — uma democracia digna do nome.
O desafio é imenso. Exige a construção de novas tecnologias, novas instituições e, acima de tudo,
uma nova cultura política. Mas, como vimos nos loops de agência, a transformação sistêmica
começa com a ação coletiva organizada. A tarefa é começar a construir, aqui e agora, os
protótipos desse novo sistema operacional, nos movimentos sociais, nos sindicatos, nas
cooperativas e nas fissuras do velho Estado.
A revolução cibernética não será apenas tecnológica; será, fundamentalmente, democrática. E essa
democracia não será representativa, mas participativa, federada e autogerida —
um sistema operacional de segunda ordem, capaz de se observar, se criticar e se transformar
continuamente. O código-fonte está aberto. Cabe a nós, coletivamente, começar a programar.
🔄
O Loop se Fecha:
Democracia como Cibernética de Segunda Ordem
Este capítulo encerra o livro onde ele começou: com a questão do sistema
operacional.
Se os primeiros capítulos desconstruíram o capitalismo como sistema cibernético de primeira
ordem (controle sem reflexão),
este capítulo final propõe a democracia como cibernética de segunda ordem —
um sistema capaz de
observar a si mesmo, aprender com seus erros e se transformar através da
participação coletiva.
Não é utopia. É engenharia política. É a aplicação rigorosa dos princípios cibernéticos
(feedback, autogestão,
adaptação) à arena democrática. A revolução não virá de um vanguardismo iluminado,
mas da construção
coletiva de um novo protocolo — linha por linha, assembleia por assembleia,
cooperativa por cooperativa.
O código-fonte está aberto. Fork it. Debug it. Deploy it. 🚀
📚 Referências
[1] Montesquieu, C. (1748). O Espírito das Leis. Disponível em fontes de domínio
público.
[2] Luxemburg, R. (1900). Reforma ou Revolução? Disponível em: marxists.org
[3] Brasil. (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em:
planalto.gov.br
[4] Abranches, S. (2021). Presidencialismo de coalizão em transe e crise da democracia no
Brasil. Revista de Administração Pública, 55(1), 178-199.
[5] Alencar, C. H. R. (2011). A (in)eficácia do sistema judicial no combate à
corrupção. Revista de Direito da GV, 7(2), 577-606.
[6] Monteiro, L. M. (2015). Teorias da democracia e a práxis política e social
brasileira. Sociedade e Estado, 30(1), 131-152.
[7] Mello, P. (2025). STF e o Ativismo Judicial no Presidencialismo à Brasileira.
MPSC. Disponível em: mpsc.mp.br
[8] Fedozzi, L. (2023). Orçamento Participativo (OP) alia democracia, cidadania ativa e
justiça urbana. Observatório das Metrópoles. Disponível em: observatoriodasmetropoles.net.br
[9] Brasil. (2014). Decreto nº 8.243, de 23 de maio de 2014. Disponível em: planalto.gov.br
[10] Câmara dos Deputados. Portal e-Democracia. Disponível em: edemocracia.camara.leg.br
[11] Tang, A. (2019). vTaiwan: An Empirical Study of Open Consultation Process in
Taiwan. Disponível em: vtaiwan.tw
[12] Decidim. Plataforma de participação democrática. Disponível em: decidim.org
[13] OECD. (2020). Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions:
Catching the Deliberative Wave. Disponível em: oecd.org
[14] Knapp, M., Flach, A., & Ayboga, E. (2016). Revolution in Rojava: Democratic Autonomy
and Women's Liberation in Syrian Kurdistan. Pluto Press.
[15] Citizens' Assembly Ireland. Final Report on the Eighth Amendment of the
Constitution. Disponível em: citizensassembly.ie
---
🌀 Três Loops: A Estrutura Fractal do Livro
Nhandereko (Guarani: "nosso modo de ser") — Este livro não é apenas
sobre sistemas recursivos.
Ele É um sistema recursivo conceitual. Três loops fractais se contêm
mutuamente:
LOOP 1
🔵 Micro: Operação
"Como o agente consulta e registra?"
- Escala temporal: Segundos a minutos
- No livro: Cada capítulo individualmente
- No conceito: Observar/Refletir/Agir
- Na vida: Microrresistências diárias
Toda leitura de um capítulo é um loop micro: você absorve (observa),
processa (reflete), age (integra na memória).
Cada pequena ação transforma o sistema.
LOOP 2
🟣 Macro: Sistema
"Como o sistema aprende com cada interação?"
- Escala temporal: Dias a meses
- No livro: Partes inteiras (Passado/Presente/Futuro)
- No conceito: Padrões emergentes, conexões não-óbvias
- Na vida: Organização coletiva, movimentos
Após ler múltiplos capítulos, padrões emergem: você conecta Turing com
plataformas,
Wiener com vigilância, Cybersyn com cooperativas. O sistema (livro) está aprendendo
através de você.
LOOP 3
🟣 Meta: Criação
"Como criamos sistemas que aprendem juntos?"
- Escala temporal: Meses a anos
- No livro: Teoria → Manifesto → Sistema completo
- No Nhandereko: Redesenhar arquitetura, novas regras
- Na vida: Transformação sistêmica
Depois de absorver o livro completo, você não apenas entende cibernética — você
cria novos sistemas.
Fork o Nhandereko. Escreva seu manifesto. Organize sua cooperativa.
Meta-consciência = ação transformadora.
🔄
A Estrutura Fractal: Cada Loop Contém os Outros
Isso não é metáfora. É arquitetura real:
- Toda operação micro (ler capítulo) já é sistêmica
(incorpora padrões do passado) e meta (pode mudar suas regras futuras)
- Toda transformação meta (criar cooperativa) precisa de
operações micro (reuniões semanais) para se realizar
- Toda observação sistêmica (padrão emerge) vem de milhões de
micro-ações (cada pessoa lendo, compartilhando, discutindo)
🌱 Você está em todos os três loops simultaneamente:
• Loop 1: Lendo este texto agora
• Loop 2: Conectando com outros capítulos e ideias
• Loop 3: Já imaginando como usar isso para transformar o mundo
O loop se fecha. O observador está no sistema. Você é a revolução
cibernética.
Apêndices
Apêndice A
Glossário Completo
📖
O Loop se Fecha: Glossário
como Estabilização Semântica
Você chegou ao Apêndice A após 33 capítulos. Agora, o
vocabulário se cristaliza.
Ao longo dos capítulos, conceitos foram introduzidos em contextos
específicos — "mais-valia" em Cap 1, "feedback" em Cap
2, "uberização" em Cap 3. Mas significados se dispersam ao
longo de milhares de linhas. Este glossário é o momento de estabilização:
todos os conceitos, em um só lugar, com definições precisas.
🔄 Loop Backward: Se você reler qualquer capítulo após consultar
este glossário, sua compreensão será diferente. Por quê? Porque agora você tem
vocabulário estabilizado. Termos que pareciam ambíguos ("trabalho abstrato"
= trabalho mental? Não! = substância social do valor) se tornam precisos. Este é o poder da
retroalimentação semântica.
Como usar este glossário no loop:
- Primeira leitura: Consulte quando encontrar termo desconhecido nos
capítulos
- Segunda leitura (pós-glossário): Releia capítulos com vocabulário
estabilizado — perceberá nuances invisíveis antes
- Terceira leitura (crítica): Questione as definições — estão completas?
Eurocêntricas? Suas próprias definições seriam diferentes?
💡
Meta-função: Este glossário não é apenas "lista de termos" — é mapa
de estabilidade em livro sobre sistemas instáveis. É o ponto fixo (ou quase
fixo) que permite navegar turbulência conceitual dos 33 capítulos. Mas cuidado: estabilidade
excessiva = dogma. Use definições como pontos de partida, não verdades
finais.
A
- A Agenda Neoliberal Digital
- O lobby das Big Techs é uma força poderosa em Brasília. Ele atua para influenciar a
legislação brasileira, como nas discussões sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) ou
o "PL das Fake News", buscando sempre garantir um ambiente de baixa regulação, impostos
mínimos e extração máxima de valor. A agenda das plataformas se torna a agenda digital do
país.
- A Batalha pela Variedade
- Como vimos, a luta política hoje pode ser entendida como uma batalha cibernética pela
variedade. O capital, com seus monopólios, seus algoritmos de recomendação e sua busca pela
padronização, busca incessantemente reduzir a variedade do mundo. A resistência, por outro
lado, busca aumentar a variedade: criar novas formas de vida, novas formas de organização,
novas tecnologias, novas culturas. A luta pela libertação é a luta para manter o futuro
aberto.
- A Construção de Realidades Paralelas
- A combinação das bolhas de filtro algorítmicas (que nos mostram apenas o que queremos ver)
com a desinformação em massa cria ecossistemas de informação completamente fechados. Os
seguidores da extrema-direita passam a viver em uma realidade paralela, com seus próprios
fatos, suas próprias fontes "confiáveis" (influenciadores e sites de fake news) e uma
desconfiança radical em relação a qualquer informação que venha de fora (a "mídia
tradicional", a "ciência").
- A Economia da Desinformação
- O fascismo de tela é um negócio lucrativo. As milícias digitais, como o chamado "gabinete do
ódio" no Brasil, são redes profissionalizadas de perfis falsos, bots e influenciadores pagos
para criar e disseminar fake news em escala industrial. Eles exploram a lógica do algoritmo
para viralizar mentiras, destruir reputações e manipular a opinião pública, muitas vezes
recebendo dinheiro público ou privado para isso.
- A Gamificação da Violência
- A lógica dos videogames é aplicada à política. A violência (verbal ou física) é incentivada,
e os perpetradores são recompensados com status e reconhecimento dentro da comunidade
online. Atacar um "inimigo" em uma rede social se torna uma missão a ser cumprida, que gera
pontos (curtidas, seguidores) e a admiração dos pares. A política se torna um jogo de "nós
contra eles", onde o objetivo é "mitar" e "lacrar", não debater.
- A Gestão da Morte Simbólica
- A necropolítica digital não se manifesta apenas na incitação à violência física. Ela opera
cotidianamente através da morte simbólica. O cyberbullying, o assédio em massa (conhecido
como dogpiling), o doxxing (a divulgação de informações privadas de um indivíduo) e as
campanhas de cancelamento orquestradas são ferramentas para destruir a reputação, a saúde
mental, a carreira e a vida pública de pessoas que são marcadas como inimigas. É uma forma
de assassinato social, executado em escala por exércitos de anônimos.
- A Máquina de Turing Universal
- Turing então imaginou uma máquina especial, a Máquina Universal, que seria capaz de ler a
descrição de qualquer outra Máquina de Turing (seu programa) a partir da fita e simular seu
comportamento. Em outras palavras, uma única máquina para governar todas as outras. Esta é a
ideia fundamental por trás do computador moderno, que pode executar qualquer programa (um
navegador, um editor de texto, um jogo) sem precisar mudar seu hardware.
- A Paranoia como Estratégia
- O discurso fascista se alimenta da paranoia. Ele constrói uma narrativa onde um pequeno
grupo de heróis está lutando contra um inimigo onipresente e conspirador (o "marxismo
cultural", o "globalismo", a "ideologia de gênero"). Qualquer evidência que contradiga a
narrativa é instantaneamente descartada como prova da conspiração. A paranoia torna o
diálogo impossível.
- A Sala de Operações
- O componente mais famoso e visualmente impressionante do projeto. Era uma sala hexagonal
futurista, que parecia saída de um filme de ficção científica, com sete cadeiras giratórias
de fibra de vidro (equipadas com botões), painéis com diagramas do sistema econômico e telas
onde os dados podiam ser projetados. É crucial entender que a sala não foi projetada para
ser um centro de comando no estilo da NASA, onde um único chefe tomaria todas as decisões.
Pelo contrário, seu design foi pensado para a deliberação coletiva. Era um espaço para que
ministros, gerentes e, idealmente, representantes dos trabalhadores pudessem se reunir,
visualizar as informações de forma clara e tomar decisões de forma consensual. A estética
radical da sala era uma declaração política: este não era o poder burocrático de sempre, mas
uma nova forma de poder, transparente e baseada em dados.
- A Subsunção Real Cibernética
- Argumentamos que o capitalismo de plataforma representa uma nova fase da subsunção do
trabalho ao capital. Se a subsunção formal era o controle externo do processo de trabalho e
a subsunção real era a incorporação da ciência na maquinaria (Capítulo 5), o que vemos hoje
é uma subsunção real cibernética. O controle não está mais apenas na máquina, mas na própria
rede informacional que media toda a nossa existência. O trabalho, o lazer, a amizade, o
desejo — tudo é subsumido pela lógica da plataforma, que busca extrair dados e valor de cada
interação.
- Afrofuturismo
- Um movimento estético e político que explora a intersecção da diáspora africana com a
tecnologia e a ficção científica.
- Algoritmo
- Um conjunto finito de regras ou instruções passo a passo para resolver um problema ou
executar uma tarefa.
- Algoritmo de Recomendação
- Sistema algorítmico que seleciona e ordena conteúdo apresentado a usuários em plataformas
(YouTube, Netflix, TikTok, Facebook). Baseado em machine learning, analisa comportamento
passado para prever e moldar comportamento futuro. Crítica: maximiza engajamento (não
verdade ou bem-estar), cria bolhas de filtro, amplifica polarização e extremismo (conteúdo
controverso gera mais cliques), é opaco e não auditável. É ferramenta central da economia da
atenção e da modulação comportamental.
- Autogestão
- Um sistema em que as empresas são geridas pelos próprios trabalhadores, geralmente através
de conselhos eleitos.
- Autopoiese
- A condição de sistemas (como os seres vivos) que se produzem e se mantêm continuamente a si
mesmos, através de uma rede fechada de processos de produção de componentes.
- Autômato
- Uma máquina autônoma projetada para seguir uma sequência predeterminada de operações ou
imitar as ações de seres humanos ou animais.
- Ahimsa
- Conceito central no hinduísmo, jainismo e budismo: não-violência, não-dano. Não é apenas
abstenção de violência física, mas postura ética que se estende a pensamentos, palavras e
ações. Na tecnologia: questiona se inovações causam dano a seres vivos, ecossistemas,
comunidades. Cosmotécnica indiana que difere radicalmente tanto do utilitarismo ocidental
quanto do pensamento chinês.
B
- Biometria
- O uso de características físicas ou comportamentais únicas (como impressão digital,
frequência cardíaca, etc.) para identificação e análise.
- Bioprodução (ou Produção Biopolítica)
- Conceito de Hardt e Negri para descrever uma fase do capitalismo que busca gerenciar e
produzir não apenas mercadorias, mas a própria vida social (saúde, segurança, cultura,
relações).
- Bit
- A unidade mais básica de informação, representando um de dois estados possíveis (0 ou 1,
ligado/desligado, verdadeiro/falso).
- Bolha de Filtro
- Um estado de isolamento intelectual que pode resultar de buscas personalizadas quando um
algoritmo seleciona seletivamente as informações que um usuário gostaria de ver.
- BRICS Pay
- Um projeto de sistema de pagamento em desenvolvimento pelos países do BRICS para facilitar
transações em moedas locais e reduzir a dependência do dólar.
- Blockchain
- Tecnologia de registro distribuído que armazena dados em blocos encadeados e criptografados,
distribuídos por uma rede de computadores. Embora frequentemente associada a criptomoedas
como Bitcoin, é uma infraestrutura que consome enormes quantidades de energia. Sua
implementação no capitalismo digital reforça lógicas especulativas e financeirização, ao
invés de democratizar o acesso.
- Burnout
- Um estado de exaustão física, emocional e mental causado por estresse excessivo e
prolongado, comum em profissões de alta performance como os esports.
C
- Capital
- Valor (geralmente na forma de dinheiro) que é investido com o objetivo de se valorizar, ou
seja, gerar mais valor (lucro). É uma relação social de exploração, não apenas um conjunto
de coisas.
- Capital Constante (c)
- É a parte do capital investida nos meios de produção — máquinas, prédios, matérias-primas.
Marx o chama de "constante" porque, no processo de produção, ele apenas transfere seu
próprio valor ao produto final. Uma máquina que custou 1.000 reais e produz 1.000 sapatos
antes de se desgastar, transfere 1 real de seu valor para cada sapato. Ela não cria valor
novo.
- Capital Variável (v)
- É a parte do capital investida na compra da força de trabalho, ou seja, os salários. Marx o
chama de "variável" porque é a única parte do capital capaz de criar um valor novo, um valor
maior do que ela mesma. Um trabalhador que recebe um salário (o valor de sua força de
trabalho) pode produzir, em sua jornada, um valor muito superior (a mais-valia), que é
apropriado pelo capitalista.
- Capitalismo Cognitivo
- Paradigma em que o conhecimento e a informação se tornam as principais fontes de criação de
valor, e o capital busca capturar e privatizar o conhecimento produzido socialmente.
- Capitalismo de Plataforma
- Modelo de negócio baseado em infraestruturas digitais que intermediam interações entre
diferentes grupos, em vez de produzir bens ou serviços diretamente.
- Capitalismo de Vigilância
- Termo cunhado por Shoshana Zuboff para descrever uma nova ordem econômica que extrai e
mercantiliza dados da experiência humana como sua principal fonte de lucro.
- Centro-Periferia
- Modelo que divide a economia mundial em um "centro" industrializado e uma "periferia"
exportadora de matérias-primas, marcada por uma relação de troca desigual.
- CEPAL
- Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, órgão da ONU que desenvolveu a teoria
estruturalista do subdesenvolvimento.
- Ciberfeminismo
- Uma corrente do feminismo que analisa a relação entre gênero, tecnologia e poder, e que
utiliza a internet e a cultura digital como espaços de teoria e ativismo.
- Cibernética
- A ciência do controle e da comunicação em sistemas complexos, sejam eles animais, máquinas
ou organizações sociais. Seu conceito central é o feedback.
- Cibernética de Primeira Ordem
- O estudo dos sistemas observados, onde o observador se considera externo e objetivo, focando
no controle e na regulação.
- Cibernética de Segunda Ordem
- O estudo dos sistemas observantes, onde o observador é incluído como parte do sistema,
focando na autorreferência, na circularidade e na responsabilidade do observador.
- Ciborgue
- Figura proposta por Donna Haraway, um híbrido de organismo e máquina, que serve como um mito
político para uma política feminista baseada na afinidade em vez da identidade.
- Caixa-Preta (Black Box)
- Metáfora para sistemas algorítmicos cuja lógica interna é opaca, inacessível ou
incompreensível para usuários e mesmo para seus operadores. A opacidade pode ser técnica
(algoritmos complexos), comercial (segredo industrial) ou política (falta de transparência
intencional). No capitalismo de vigilância, a caixa-preta é instrumento de poder: quem
controla o algoritmo controla sem ser controlado.
- ChatGPT
- Modelo de linguagem baseado em inteligência artificial desenvolvido pela OpenAI, capaz de
gerar texto em linguagem natural. Representa a fase atual de IA generativa que, embora
impressionante tecnicamente, reproduz vieses dos dados de treinamento, concentra poder em
poucas corporações (Microsoft/OpenAI) e levanta questões sobre trabalho intelectual,
propriedade de dados e concentração de poder computacional.
- Cinco G (5G)
- Quinta geração de redes móveis, prometendo alta velocidade, baixa latência e conexão massiva
de dispositivos (IoT). Infraestrutura crítica para automação industrial, cidades
inteligentes, veículos autônomos. Geopolítica: disputa entre EUA e China (Huawei) sobre
controle dessa infraestrutura essencial. Crítica: aumenta consumo energético, acelera
obsolescência de dispositivos 4G, expande vigilância através de IoT, aprofunda exclusão
digital (acesso desigual).
- Clickworker
- Trabalhador digital que realiza microtarefas online (rotular imagens, moderar conteúdo,
transcrever áudios) geralmente para treinar algoritmos de IA. Trabalho extremamente
fragmentado, mal remunerado e invisibilizado. Exemplos: Amazon Mechanical Turk, Appen,
Lionbridge. É a "maquiladora digital" do século XXI — trabalho precarizado e global que
sustenta a aparente "magia" da IA.
- CIPS (Cross-Border Interbank Payment
System)
- O sistema de pagamento interbancário transfronteiriço da China, projetado para liquidar
transações em yuan.
- Cosmotécnica
- Conceito desenvolvido por Yuk Hui que questiona a universalidade da tecnologia moderna
ocidental. Cada cultura desenvolve relações específicas entre cosmos (ordem do mundo), moral
(valores) e técnica (fazer). A tecnologia ocidental moderna pressupõe separação entre
humano/natureza e visa dominação. Cosmotécnicas alternativas (chinesa, indígena, japonesa)
articulam tecnologia, ética e cosmologia de formas radicalmente diferentes. Não é
relativismo cultural, mas reconhecimento de pluralidade ontológica.
- Crowdsourcing
- Modelo de produção que distribui tarefas para uma "multidão" (crowd) via plataformas
digitais. Pode ser colaborativo (Wikipedia, software livre) ou extrativista (empresas que
terceirizam trabalho fragmentado sem direitos trabalhistas). A fronteira entre "colaboração
voluntária" e "trabalho não remunerado" é muitas vezes turva. No capitalismo de plataforma,
frequentemente é forma de extrair valor de trabalho não pago.
- Colonialismo Digital
- A dinâmica pela qual os países centrais extraem dados brutos dos países periféricos para
alimentar suas indústrias de alta tecnologia, reforçando a dependência.
- Composição Orgânica do Capital (COC)
- A razão entre o capital constante e o capital variável (c/v), que mede o grau de intensidade
de capital de uma produção.
- Computabilidade
- Um problema é "computável" se uma Máquina de Turing pode ser programada para resolvê-lo.
- Conselhos de Cidadãos para a
Governança da IA
- As decisões sobre os usos de tecnologias poderosas como a Inteligência Artificial não podem
ser deixadas para os especialistas ou para o mercado. É preciso criar novos mecanismos de
deliberação democrática, como conselhos de cidadãos sorteados, que, após receberem
informação de qualidade de especialistas de diversas áreas, possam deliberar e decidir sobre
os limites éticos do uso da IA em áreas críticas como a segurança pública, a saúde e a
educação.
- Construtivismo Social
- Teoria que sustenta que a tecnologia é moldada por fatores sociais, econômicos e políticos,
e não é uma força autônoma.
- Cooperativismo de Plataforma
- Um movimento que propõe a criação de plataformas digitais (aplicativos, sites) que são
propriedade e geridas democraticamente por seus trabalhadores e usuários.
- Crítica do Valor (Wertkritik)
- Corrente teórica alemã que critica o capitalismo não do ponto de vista do trabalho, mas a
partir de uma crítica radical às suas categorias fundamentais (trabalho abstrato, valor,
mercadoria, dinheiro).
- Crítica Esotérica
- A leitura de Marx que foca nas categorias abstratas e impessoais (o Valor) que dominam toda
a sociedade, em oposição à crítica exotérica (focada na luta de classes).
- Cybernet
- Uma rede de máquinas de telex (uma tecnologia de teletipo já antiga, mas a única disponível
no Chile na época) instaladas em cada uma das empresas nacionalizadas. Através dessa rede,
as fábricas enviavam um punhado de indicadores-chave de produção para o centro de computação
em Santiago todos os dias. Era uma solução de baixa tecnologia, mas eficaz, para um problema
de comunicação em tempo real.
- Cyberstride
- Um software de análise estatística, desenvolvido por uma equipe de jovens engenheiros
chilenos, que rodava em um único computador mainframe. O Cyberstride recebia dados diários
das fábricas e, em vez de simplesmente repassá-los, ele usava métodos de estatística
bayesiana para analisar as tendências e identificar anomalias — desvios significativos da
norma que poderiam indicar um problema ou uma oportunidade. A ideia era filtrar o "ruído" e
enviar aos gerentes apenas a informação relevante, evitando a sobrecarga informacional.
- Cyborg (Haraway)
- Figura conceitual proposta por Donna Haraway no "Manifesto Ciborgue" (1985): híbrido de
organismo e máquina que transcende dualidades (natureza/cultura, homem/mulher,
humano/animal). O cyborg não busca retorno à origem ou pureza, mas abraça a hibridação como
condição pós-identitária. É metáfora para política feminista que rejeita essencialismos.
- Crip Theory
- Campo de estudos críticos sobre deficiência que questiona normalização de corpos e mentes.
"Crip" é reapropriação do termo pejorativo "cripple" (aleijado), similar a "queer". Critica
capacitismo estrutural: sistemas sociais, arquitetônicos e tecnológicos projetados para
corpos e mentes normativos, excluindo todos os demais.
- Cibernética Crip
- Aplicação de crip theory à cibernética. Questiona pressupostos normativos em conceitos como
feedback, input/output, homeostase. Propõe o "crip cyborg": tecnologia não como correção de
deficiência, mas como expansão de possibilidades. Cadeira de rodas não "corrige" pernas —
cria nova forma de mobilidade. Leitor de tela não "compensa" cegueira — revela que
interfaces visuais são apenas uma entre muitas formas de interação.
- Capacitismo Estrutural
- Sistema de opressão que privilegia corpos e mentes normativos e marginaliza pessoas com
deficiência. Não é apenas preconceito individual, mas estrutura social: arquitetura
inacessível, educação excludente, mercado de trabalho discriminatório, tecnologia
capacitista. No digital: interfaces que assumem visão, audição e motricidade padrão;
algoritmos que tratam neurodivergência como erro.
D
- Dark Patterns (Padrões Sombrios)
- Elementos de design de interface deliberadamente criados para enganar ou manipular os
usuários a fazerem coisas que não pretendiam, como comprar ou se inscrever em algo.
- Datificação
- O processo de transformar aspectos da vida em dados que podem ser quantificados, analisados
e monetizados.
- Data Center
- Instalação física que concentra servidores, sistemas de armazenamento e infraestrutura de
rede para processar e armazenar dados. Consome enormes quantidades de energia (1-2% da
eletricidade global) e água (para resfriamento). Concentrados geograficamente em países
centrais, reforçam dependência tecnológica. Sua materialidade contradiz a ideologia da
"nuvem" etérea — a infraestrutura digital é concreta, pesada e ambientalmente custosa.
- Deep Learning (Aprendizagem Profunda)
- Subcampo do machine learning baseado em redes neurais artificiais com múltiplas camadas.
Permite que sistemas "aprendam" padrões complexos em grandes volumes de dados. Base técnica
da IA contemporânea (reconhecimento facial, tradução automática, ChatGPT). Requer imenso
poder computacional e dados, concentrando capacidade em poucas corporações (Google,
Microsoft, Meta). Reproduz e amplifica vieses presentes nos dados de treinamento.
- Dependência de Infraestrutura
- A infraestrutura física da internet no Brasil é quase inteiramente dependente de tecnologia
estrangeira. Os cabos submarinos que nos conectam ao mundo, os data centers que armazenam
nossos dados (mesmo que localmente, são operados pela Amazon, Microsoft e Google), e o
hardware de rede 5G (Huawei, Ericsson) são todos controlados por empresas de fora. Qualquer
decisão política que desagrade os países centrais ou a China pode resultar em uma pressão
sobre essa infraestrutura crítica.
- Desdolarização
- O processo de redução da dependência do dólar americano como moeda de reserva, de comércio e
de investimento.
- Desindustrialização
- Processo de redução da participação da indústria no PIB e no emprego, especialmente agudo em
países periféricos como o Brasil. Não é "transição natural" para economia de serviços, mas
resultado de políticas neoliberais, abertura comercial sem proteção industrial e
reprimarização da economia. No capitalismo digital, desindustrialização combinada com
dependência tecnológica aprofunda subordinação periférica.
- Desregulamentação
- Política neoliberal de remoção ou redução de regulações estatais sobre atividades
econômicas. No setor digital: resistência a leis de proteção de dados, tributação, direitos
trabalhistas. Apresentada como "liberdade" e "inovação", na prática concentra poder
corporativo ao remover limites públicos. Plataformas digitais são mestras em lobby por
desregulamentação enquanto capturam agências reguladoras.
- Desenvolvimento
- Para a teoria da dependência, não é um estágio, mas um processo histórico de
industrialização autônoma e diversificação econômica, típico dos países do centro.
- Deterioração dos Termos de Troca
- A tendência de longo prazo de queda dos preços dos produtos primários (exportados pela
periferia) em relação aos preços dos produtos manufaturados (exportados pelo centro).
- Determinismo Tecnológico
- Teoria que sustenta que a tecnologia é a principal força motriz da mudança social e que a
sociedade se adapta a ela.
- Direitos Digitais como Direitos Humanos
- O acesso à internet, a proteção de dados, a liberdade de expressão e o direito à privacidade
devem ser consagrados na Constituição como direitos fundamentais, protegidos pelo Estado.
- Divisão Internacional do Trabalho
- A especialização produtiva dos diferentes países no sistema capitalista global (ex: alguns
produzem tecnologia, outros alimentos, outros minérios).
- Do Cybersyn ao Cooperativismo de
Plataforma
- Vimos como a visão de Stafford Beer para o Projeto Cybersyn (Capítulo 18) era baseada em uma
cibernética da autonomia. O objetivo não era o controle central, mas fornecer as ferramentas
para que os próprios trabalhadores pudessem gerenciar suas fábricas de forma autônoma e
coordenada. Essa mesma filosofia ressoa hoje nas propostas de cooperativismo de plataforma
(Capítulo 19) e na luta pela soberania de rede (Capítulo 20). São todas tentativas de usar a
tecnologia de rede não para o controle hierárquico, mas para a coordenação horizontal.
- Do Gerenciamento Algorítmico à
Necropolítica
- Vimos como o gerenciamento algorítmico nas plataformas de trabalho (Capítulo 3) e a
engenharia do vício nos jogos e apostas (Capítulo 14) são aplicações diretas da cibernética
de primeira ordem: a observação e o controle de um sistema a partir de um ponto de vista
externo, com um objetivo pré-definido (a maximização do lucro). O trabalhador e o usuário
são tratados como componentes de uma máquina a serem otimizados. Essa lógica atinge seu
ápice na necropolítica digital (Capítulo 22), onde o controle se torna a gestão da própria
vida e da morte, decidindo quem é visível e quem é descartável.
- Dominação Abstrata
- A ideia de que a dominação no capitalismo não é primariamente pessoal (de um burguês sobre
um operário), mas a dominação impessoal de uma estrutura social (o Valor) sobre todos os
indivíduos.
- Direito à Reparação (Right to Repair)
- Movimento e legislação que obriga fabricantes a fornecer peças, manuais e ferramentas para
reparar eletrônicos. Combate obsolescência programada, reduz e-waste, democratiza acesso à
tecnologia. No Brasil, há projetos de lei em tramitação. Beneficia especialmente pessoas com
deficiência que dependem de tecnologias assistivas.
- Decrescimento Digital Seletivo
- Não é rejeitar tecnologia, mas questionar: quais tecnologias servem necessidades sociais e
quais servem apenas acumulação? Priorizar tecnologias essenciais (saúde, educação,
comunicação) e reduzir tecnologias supérfluas (8K streaming, IoT desnecessária, blockchain
energívora). Não é primitivismo — é planejamento democrático de recursos escassos.
- Desenho Universal (Universal Design)
- Princípio de design que funciona para todos desde o início, não como adaptação posterior.
Desenvolvido por Aimi Hamraie e outros. Exemplos: rampas beneficiam cadeirantes, pessoas com
carrinhos de bebê, idosos; legendas beneficiam surdos, pessoas em ambientes barulhentos,
não-nativos do idioma. Acessibilidade não é "modo especial" — é design melhor para todos.
E
- Ecossocialismo Digital
- Uma corrente de pensamento que faz a crítica ecológica do capitalismo digital, focando em
sua materialidade (consumo de energia, lixo eletrônico, mineração de conflito) e propondo
uma transição para uma tecnologia sustentável e justa.
- Efeito de Rede
- Fenômeno em que o valor de um serviço para um usuário aumenta à medida que mais pessoas o
utilizam, criando um loop de feedback positivo que favorece monopólios.
- Engenharia do Vício
- O uso de princípios da psicologia comportamental e do design de jogos para criar produtos e
serviços que incentivam o uso compulsivo e habitual.
- Entropia (Informacional)
- Uma medida da incerteza, aleatoriedade ou imprevisibilidade em uma fonte de informação.
- Epistemologia
- Ramo da filosofia que estuda a natureza, a origem e os limites do conhecimento.
- Escola de Frankfurt
- Corrente de teoria crítica marxista (Adorno, Horkheimer, Marcuse) conhecida por sua crítica
à razão instrumental e à indústria cultural.
- Esports (Esportes Eletrônicos)
- Competições de videogames organizadas, geralmente em nível profissional.
- Excedente Comportamental
- Os dados sobre o comportamento humano coletados por plataformas, que vão além do necessário
para o funcionamento do serviço e se tornam a matéria-prima para produtos de previsão.
- A prática de coletar grandes volumes de dados de usuários, muitas vezes sem seu
consentimento informado, para fins comerciais.
- Economia do Cuidado Digital
- Monetização e plataformização do trabalho de cuidado (limpeza, cuidado infantil, cuidado de
idosos, trabalho emocional) via apps e plataformas. Exemplos: TaskRabbit, Care.com,
GetNinjas. Reproduz lógica patriarcal que desvaloriza trabalho reprodutivo, agora mediado
por algoritmos que precificam afeto e extraem comissão sem oferecer direitos trabalhistas.
- E-waste (Lixo Eletrônico)
- Resíduos de equipamentos eletrônicos descartados (smartphones, laptops, TVs, etc.). 50
milhões de toneladas produzidas anualmente, 80% exportadas ilegalmente para países do Sul
Global (Gana, Índia, Brasil). Queima de componentes libera toxinas (chumbo, mercúrio,
dioxinas) que causam câncer, problemas respiratórios e contaminação ambiental.
F
- Fairwork Foundation
- Uma organização internacional que avalia e classifica as condições de trabalho em
plataformas digitais em todo o mundo.
- Fan Token
- Um tipo de criptoativo que supostamente dá aos seus detentores acesso a uma variedade de
vantagens relacionadas a um clube esportivo, como votações em decisões do clube ou
recompensas.
- Fantasy League/Sports
- Jogos online onde os participantes montam equipes imaginárias de jogadores reais de um
esporte profissional e pontuam com base no desempenho estatístico real desses jogadores.
- Fascismo de Tela
- Um termo para descrever a estética e a prática do fascismo na era digital, caracterizado
pelo uso de memes, ironia, desinformação em massa e gamificação da violência.
- Fechamento Operacional
- A propriedade de um sistema (como um sistema autopoiético) cujas operações são recursivas e
se referem apenas a si mesmas, formando uma rede fechada.
- Feedback (Retroalimentação)
- O processo em que a informação sobre o resultado de uma ação é usada para modificar ações
futuras. Pode ser negativo (estabilizador) ou positivo (amplificador).
- Feedback Negativo
- É estabilizador. Ele busca reduzir o erro e manter o sistema em um estado de equilíbrio
(homeostase). O termostato é o exemplo clássico. Seu corpo mantendo uma temperatura
constante de 36.5°C é outro.
- Feedback Positivo
- É amplificador e desestabilizador. Ele amplifica o erro, levando a um crescimento
exponencial ou a um colapso. O exemplo mais comum é a microfonia, quando um microfone capta
o som de seu próprio alto-falante, o amplifica, e o ciclo se repete cada vez mais alto.
- Fernando Flores
- O ministro do governo de Salvador Allende que foi o principal idealizador político do
Projeto Cybersyn.
- Fetiche da Mercadoria
- A condição objetiva de uma sociedade onde as relações sociais entre as pessoas aparecem como
relações entre coisas (mercadorias), que parecem ter vida própria.
- Fetichismo da Mercadoria
- O fenômeno social no capitalismo onde as relações entre pessoas assumem a aparência de
relações entre coisas (mercadorias). O valor, que é social, parece uma propriedade natural
dos produtos.
- Financeirização
- Transformação do capitalismo contemporâneo marcada pelo crescimento do setor financeiro e
pela subordinação da produção à lógica financeira. Empresas priorizam valor acionário sobre
produção. No capitalismo digital: plataformas atuam como intermediárias financeiras, dados
se tornam ativos especulativos, criptomoedas e NFTs expandem fronteiras da financeirização
para todos os aspectos da vida.
- Fomento ao Cooperativismo de Plataforma
- Uma das alternativas mais promissoras ao modelo extrativista é o cooperativismo de
plataforma. Em uma cooperativa, os trabalhadores são os donos da plataforma. Os lucros são
distribuídos entre eles, e as decisões são tomadas democraticamente. É preciso criar
políticas públicas para apoiar o surgimento e o crescimento dessas cooperativas: linhas de
crédito, incubadoras tecnológicas, e preferência em compras governamentais.
- FOMO (Fear of Missing Out)
- O "medo de ficar de fora", uma ansiedade social caracterizada pelo desejo de estar
continuamente conectado com o que os outros estão fazendo. É frequentemente explorado por
jogos como serviço.
- Fordismo
- Modelo de produção em massa baseado na linha de montagem, trabalho padronizado e um pacto
social entre capital e trabalho organizado que garantia estabilidade e consumo.
- Forças Produtivas
- São o conjunto de ferramentas, tecnologias, conhecimentos, habilidades e recursos que uma
sociedade possui para transformar a natureza. Incluem desde um simples machado de pedra até
os algoritmos de inteligência artificial de hoje.
- Fábrica Social
- Conceito que descreve a extensão da produção de valor para além dos muros da fábrica,
abrangendo toda a sociedade (comunicação, cultura, lazer).
G
- Gamificação
- O uso de elementos de design de jogos (pontos, competição, recompensas) em contextos não
lúdicos para aumentar o engajamento e modular o comportamento.
- Gerenciamento Algorítmico
- O uso de algoritmos e sistemas automatizados para gerenciar trabalhadores, distribuindo
tarefas, definindo preços e avaliando o desempenho.
- Gig Economy
- Economia de "bicos" ou trabalhos temporários mediados por plataformas digitais. Motoristas
de aplicativo, entregadores, freelancers de design são tratados como "parceiros" ou
"empreendedores", não como empregados — eliminando direitos trabalhistas. Representa a
uberização da economia: fragmentação do trabalho, responsabilização individual, precarização
estrutural. Modelo glorificado como "flexibilidade" que na prática transfere riscos ao
trabalhador.
- Gosplan
- A agência de planejamento central da União Soviética, responsável pela elaboração dos planos
quinquenais que governavam a economia.
- Governança Algorítmica
- O uso de algoritmos e análise de dados para gerenciar e controlar populações e processos
sociais.
- Gozo
- Conceito da psicanálise lacaniana que se refere a um tipo de prazer excessivo, que vai além
do simples princípio do prazer e que está ligado à repetição e à pulsão de morte.
- Glitch Feminism
- Conceito de Legacy Russell que vê o erro, a falha e o glitch nos sistemas digitais como
espaços de resistência para corpos e identidades queer. O glitch revela as normas ocultas do
sistema: quando algo "não funciona", é porque o sistema foi projetado para excluir. Celebrar
o glitch é celebrar a não-conformidade.
- Geologia dos Media
- Abordagem de Jussi Parikka que analisa como a história dos aparelhos digitais é inseparável
da história da mineração e da transformação geológica do planeta. Cada dispositivo carrega
em si camadas geológicas: minerais extraídos, energia fóssil consumida, resíduos
depositados. Media não é apenas cultura — é também geologia.
- Green New Deal Digital
- Proposta de articular justiça social, ambiental e tecnológica. Pilares: direito à reparação
(right to repair), servidores comunitários com energia renovável, decrescimento digital
seletivo, economia circular de eletrônicos, transparência de pegada de carbono. Inspirado no
Green New Deal climático, mas focado em infraestrutura digital.
H
- Homem Unidimensional
- Conceito de Marcuse para descrever o indivíduo na sociedade capitalista avançada, cuja
capacidade de pensamento crítico é suprimida pela satisfação de falsas necessidades criadas
pelo sistema.
- Homeostase
- A tendência de um sistema de manter seu ambiente interno estável e relativamente constante,
geralmente através de loops de feedback negativo.
I
- Igreja Digital
- O modelo de organização religiosa que utiliza intensivamente as plataformas digitais
(streaming, redes sociais, aplicativos) para expandir seu alcance e engajar os fiéis.
- Indústria Cultural
- Conceito de Adorno e Horkheimer para descrever a produção em massa de bens culturais
padronizados (filmes, música) que servem para pacificar e controlar as massas.
- Influenciador da Fé
- Uma autoridade religiosa que constrói sua legitimidade e alcance através da produção de
conteúdo e do gerenciamento de sua marca pessoal em redes sociais.
- Inteligência Artificial (IA)
- Um campo da ciência da computação focado na criação de sistemas capazes de realizar tarefas
que normalmente exigiriam inteligência humana, como reconhecimento de padrões, aprendizado e
tomada de decisão.
- Interoperabilidade
- A capacidade de diferentes sistemas ou redes de se comunicarem e trocarem informações entre
si.
- Interoperabilidade e Protocolos Abertos
- O poder das grandes redes sociais vem do "efeito de rede": todos estão lá porque todos estão
lá. Para quebrar esse ciclo, é preciso exigir por lei a interoperabilidade entre as
plataformas. Um usuário do Instagram deveria poder se comunicar com um do TikTok, assim como
um usuário do Gmail pode enviar um e-mail para um do Outlook. A interoperabilidade, baseada
em protocolos abertos, permitiria que novas e menores redes surgissem e competissem em pé de
igualdade, quebrando o poder dos monopólios.
- Interseccionalidade
- Um conceito que descreve como diferentes eixos de opressão (como raça, gênero, classe, etc.)
se cruzam e interagem, criando experiências únicas de dominação e discriminação.
- Investimento em
Infraestrutura Pública e Comunitária
- O acesso à internet em si é controlado por poucas e grandes empresas de telecomunicações. É
fundamental investir em infraestrutura pública, como redes de fibra ótica municipais, e em
redes comunitárias sem fio, especialmente em áreas rurais e periferias, para garantir que o
acesso à rede seja um direito universal, e não uma mercadoria controlada por um cartel.
J
- Jogos como Serviço (GaaS - Games
as a Service)
- Modelo de negócio na indústria de videogames que busca monetizar os jogos de forma contínua
após o lançamento inicial, em vez de através de uma única compra.
K
- Karma
- Conceito indiano (hinduísmo, budismo, jainismo) de causalidade ética: ações têm
consequências que retornam ao agente. Na tecnologia: cada inovação gera efeitos
(intencionais e não-intencionais) que retroalimentam o sistema. Diferente de "feedback"
cibernético (neutro), karma implica responsabilidade ética. Tecnologia não é neutra —
carrega intenções e gera consequências morais.
L
- Lei da Variedade Requisita
- Princípio de Ashby que afirma que um sistema regulador, para ser eficaz, precisa ter uma
variedade de ações no mínimo igual à variedade de perturbações do sistema que ele controla.
- Lixo Eletrônico (E-waste)
- Resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos que são descartados, muitas vezes contendo
materiais tóxicos.
- Loot Box (Caixa de Recompensa)
- Um item virtual em um videogame que pode ser resgatado para receber uma seleção aleatória de
outros itens virtuais, cuja compra é frequentemente comparada a um jogo de azar.
M
- Mais-Valia
- O valor criado pelo trabalhador para além do valor de sua própria força de trabalho
(salário). É a fonte do lucro capitalista.
- Machine Learning
- Aprendizado de máquina: sistemas computacionais que melhoram desempenho através de exposição
a dados, sem programação explícita de regras. Base da IA contemporânea. Crítica
materialista: requer enormes volumes de dados (extraídos de usuários), poder computacional
(data centers com alta pegada de carbono) e trabalho humano invisível (rotulação de dados
por clickworkers). Não é "inteligência" autônoma, mas automação estatística baseada em
exploração.
- Maquiladora Digital
- Uma analogia às fábricas mexicanas (maquiladoras), usada para descrever a força de trabalho
digital precarizada que realiza tarefas simples e repetitivas para plataformas globais.
- Marxismo Cibernético
- Uma corrente de pensamento que busca sintetizar a análise de classes marxista com as
ferramentas teóricas da cibernética e da teoria da informação.
- Marxismo do Movimento Operário
- Termo pejorativo usado pela Wertkritik para descrever o marxismo tradicional, que, segundo
eles, afirmava o trabalho e a classe operária em vez de criticá-los radicalmente.
- Memes como Arma
- A estética do fascismo de tela é baseada na ironia, no humor e na transgressão. Os memes são
a sua principal arma. Eles permitem que ideias de extrema-direita sejam introduzidas de
forma disfarçada, como uma "piada". Quem critica é acusado de "não ter senso de humor". Essa
ambiguidade permite normalizar o discurso de ódio e recrutar jovens que são atraídos pela
estética da rebeldia e da provocação.
- Mercadoria
- Um produto do trabalho humano destinado não ao uso próprio, mas à troca no mercado.
- Milícias Digitais
- Redes organizadas de pessoas e bots que atuam de forma coordenada para manipular a opinião
pública, disseminar desinformação e atacar oponentes políticos online.
- Modelo do Sistema Viável (VSM)
- O modelo de organização criado por Stafford Beer, baseado no sistema nervoso humano, que
busca equilibrar a autonomia das partes com a coesão do todo.
- Multidão
- Conceito central do pós-operaísmo (Hardt, Negri, Virno): sujeito político pós-fordista
composto por multiplicidade de singularidades que cooperam sem se unificar em identidade
única. Diferente de "povo" (que é uno e representável pelo Estado), multidão permanece
plural e irredutível. É a forma social do general intellect: programadores, cuidadores,
entregadores, estudantes produzindo valor através de comunicação, afeto e conhecimento.
Desafia a soberania estatal por ser irrepresentável.
- Máquina Universal
- Um modelo teórico (como a Máquina de Turing Universal) capaz de simular qualquer outro
computador ou máquina de computação.
- Materialidade Digital
- Reconhecimento de que tecnologias digitais não são "virtuais" ou "imateriais", mas dependem
de infraestrutura física pesada: data centers, cabos submarinos, torres de celular,
dispositivos. Cada busca, cada vídeo, cada transação tem pegada de carbono, consumo de água
e extração de minerais. Crítica à ideologia da "nuvem" como etérea.
- Ma (間)
- Conceito japonês que significa "intervalo", "espaço entre", "pausa". Não é vazio passivo,
mas espaço ativo que dá forma e significado ao que está ao redor. Na música: o silêncio
entre notas. Na arquitetura: o espaço entre paredes. Na tecnologia: crítica à aceleração
digital que elimina intervalos. Ma propõe valorizar pausas, lentidão, espaços de
não-produtividade.
N
- Necropolítica
- Um conceito de Achille Mbembe que descreve o uso do poder social e político para ditar como
algumas pessoas podem viver e como algumas devem morrer.
- Neoliberalismo
- Doutrina político-econômica hegemônica desde os anos 1980 que propõe mercados livres,
privatização, desregulamentação e Estado mínimo. Mais que política econômica, é
racionalidade governamental (Foucault) que transforma todos em empresários de si mesmos. No
digital: plataformas são neoliberalismo encarnado — mercantilizam tudo (atenção, afeto,
mobilidade), precarizam trabalho sob retórica de "empreendedorismo", privatizam
infraestrutura pública. Crítica cibernética: neoliberalismo é sistema de feedback que produz
desigualdade crescente.
- Necro-Ecologia
- Conceito que articula necropolítica (Mbembe) com ecologia política. Pergunta: quem morre
literalmente para que infraestrutura digital funcione? Crianças em minas de cobalto no
Congo, comunidades envenenadas por e-waste em Gana, populações expulsas para dar lugar a
data centers. Certos corpos e territórios são tornados sacrificáveis para acumulação
digital.
- Neurodivergência
- Termo guarda-chuva para variações naturais da cognição humana que diferem do padrão
neurotípico: autismo, TDAH, dislexia, dispraxia, etc. Não são patologias a serem curadas,
mas formas diferentes de processar informação. Paradigma da neurodiversidade (Nick Walker)
rejeita modelo médico que trata diferença como déficit.
- Nuvem
- Metáfora enganosa para infraestrutura de computação distribuída (servidores remotos
acessados via internet). Ideologia da nuvem sugere leveza, imaterialidade, ausência de
fricção. Realidade: data centers gigantes consumindo energia equivalente a países inteiros,
dependência de cabos submarinos, concentração de poder em poucas Big Tech (AWS, Azure,
Google Cloud). "Nuvem" é geologia, não meteorologia — é terra, água, carbono.
O
- O Algoritmo da Morte
- O modelo de negócios das redes sociais é baseado em maximizar o "engajamento". E o conteúdo
que mais gera engajamento (curtidas, comentários, compartilhamentos) é, invariavelmente, o
mais chocante, controverso e emocional. Os algoritmos de recomendação, ao otimizarem para
essa métrica, inevitavelmente criam um funil que leva os usuários a conteúdos cada vez mais
extremistas. O discurso de ódio, a desinformação e a desumanização não são "falhas" do
sistema, mas características emergentes de sua própria lógica econômica. O algoritmo, em sua
busca incessante por engajamento, se torna um promotor da morte.
- O Caso Brasileiro
- A pandemia de COVID-19 no Brasil foi talvez o exemplo mais claro de necropolítica digital em
ação. Enquanto o governo federal minimizava a doença, as redes sociais e os aplicativos de
mensagens foram inundados com desinformação, curas falsas e ataques à ciência e à imprensa.
A decisão de "deixar morrer" para não parar a economia foi justificada e celebrada em um
ecossistema digital que transformou a morte em um espetáculo e a empatia em um sinal de
fraqueza. As plataformas não foram apenas o palco, mas a arma do crime.
- O CIPS Chinês
- A iniciativa mais avançada é o Cross-Border Interbank Payment System (CIPS) da China. É
importante entender que o CIPS não é, ainda, um substituto direto do SWIFT. Ele é
primariamente um sistema de liquidação para transações em yuan, enquanto o SWIFT é um
sistema de mensagens. Na prática, muitas transações do CIPS ainda usam o SWIFT para a
comunicação. No entanto, o CIPS é a semente de uma infraestrutura paralela, que, se
combinada com a expansão do yuan digital, pode eventualmente oferecer um ecossistema
completo e independente do dólar.
- O Colapso do Espaço Público
- O resultado final é a destruição do espaço público como um lugar de debate entre diferentes
visões de mundo. Se não há acordo sobre os fatos mais básicos, não há como debater soluções
para os problemas do país. A política deixa de ser um processo de negociação e se torna uma
guerra de extermínio contra o inimigo. A violência se torna a única saída.
- O Projeto BRICS Pay
- A proposta mais ambiciosa, no entanto, é o BRICS Pay. Anunciado pelo bloco composto por
Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul (e agora expandido), o projeto não visa criar
um único sistema, mas uma plataforma que integre os sistemas de pagamento digital já
existentes em cada país (como o Pix no Brasil, o UPI na Índia, etc.). A ideia é permitir que
os países membros realizem transações comerciais e financeiras diretamente em suas moedas
locais, contornando completamente o dólar e o SWIFT. A estratégia da desdolarização é, em
sua essência, uma busca por resiliência cibernética: a criação de redundância no sistema
global para se proteger de ataques (sanções) provenientes do nó central.
- O SPFS Russo
- Após a anexação da Crimeia em 2014 e as primeiras ameaças de exclusão do SWIFT, a Rússia
desenvolveu seu próprio sistema de mensagens, o System for Transfer of Financial Messages
(SPFS). Inicialmente um sistema doméstico, o SPFS tem se expandido lentamente, conectando-se
a bancos em outros países da esfera de influência russa. Ele é menos sofisticado que o
SWIFT, mas funcional como uma alternativa de emergência.
- O Sujeito Automático e a Crítica do
Valor
- Esta rede global de plataformas, que parece operar de forma autônoma, é a encarnação
material do "sujeito automático" que a Wertkritik (Capítulo 10) identificou como o
verdadeiro soberano do capitalismo. É o Valor se valorizando, um sistema que ninguém
controla diretamente, mas que controla a todos. A cibernética, nesta face, se torna a
linguagem de programação desse sujeito automático, a lógica que permite que o capital se
reproduza em uma escala planetária e em uma velocidade quase instantânea.
- Obsolescência Programada
- A prática de projetar produtos com uma vida útil artificialmente limitada para forçar os
consumidores a comprar novos.
- O Comum
- Conceito do pós-operaísmo (Hardt, Negri): riqueza produzida coletivamente que não é nem
propriedade privada nem estatal, mas compartilhada. No capitalismo cognitivo: conhecimento,
linguagem, afetos, códigos, cultura são comuns apropriados privativamente. Software livre,
Wikipedia, sementes tradicionais são exemplos de comuns. Projeto político: reapropriar
comuns capturados pelo capital, criar novas instituições do comum fora de Estado e mercado.
- OGAS (Sistema
Automatizado de Gestão da Economia Nacional)
- O projeto soviético para criar uma rede de computadores em escala nacional para gerenciar a
economia em tempo real. Foi proposto por Viktor Glushkov na década de 1960.
- Operaísmo
- Corrente do marxismo italiano (Tronti, Panzieri) que inverte a análise tradicional,
colocando a luta da classe trabalhadora como o motor do desenvolvimento capitalista.
P
- Período Especial
- A profunda crise econômica enfrentada por Cuba após o colapso da União Soviética em 1991.
- Planejamento Cibernético
- Um modelo de organização social que utiliza a tecnologia da informação e os princípios da
cibernética (feedback, controle da variedade) para alocar recursos e tomar decisões
econômicas, como uma alternativa tanto ao mercado quanto ao planejamento central
burocrático.
- Plataformas Públicas
- A alternativa mais poderosa ao monopólio privado é a criação de plataformas públicas. Se a
comunicação, a logística e a informação são serviços essenciais, eles não podem estar nas
mãos de empresas que visam o lucro. Precisamos de um "iFood público" para garantir a
segurança alimentar, de um "YouTube público" para a cultura e a educação, de um "Twitter
público" para o debate democrático. Essas plataformas seriam financiadas publicamente,
governadas democraticamente e operariam com base no interesse público, não no engajamento a
qualquer custo.
- Plataformização
- O processo pelo qual cada vez mais setores da vida social e econômica são reestruturados em
torno das plataformas digitais e de sua lógica de extração de dados.
- Precarização
- Processo de deterioração das condições de trabalho: perda de direitos, estabilidade,
proteção social, salários dignos. No digital: uberização elimina vínculo empregatício,
transfere riscos ao trabalhador, fragmenta organização coletiva. Não é anomalia, mas
estratégia: precarização disciplina força de trabalho, aumenta mais-valia, fragiliza
resistência. Gig economy é laboratório da precarização generalizada.
- Privatização
- Transferência de controle de bens, serviços ou infraestrutura do setor público para
propriedade/gestão privada. Pilar do neoliberalismo. No digital: privatização de dados
públicos (entregues a plataformas), de infraestrutura de comunicação (telecoms), de
conhecimento (paywalls acadêmicos). Crítica: bens comuns essenciais (água, saúde, educação,
informação) não podem estar subordinados à lógica do lucro.
- Pro-gamer (Professional Gamer)
- Um jogador de videogame profissional que compete em esports por um salário ou prêmios em
dinheiro.
- Prosumidor
- Portmanteau de "produtor + consumidor": usuário que simultaneamente consome e produz
conteúdo/valor. Conceito de Alvin Toffler (1980) ganha centralidade na era das plataformas.
Usuários do YouTube, Instagram, TikTok são prosumidores: geram conteúdo (produção) enquanto
consomem. Crítica: trabalho gratuito capturado por plataformas. Cada post, like, comentário
é trabalho não-pago que alimenta algoritmos e gera lucro publicitário.
- Protocolos Abertos
- Padrões técnicos que são públicos e não-proprietários, permitindo que qualquer pessoa crie
tecnologias que sejam compatíveis com eles.
- Prévia-ideação
- A capacidade humana de conceber um plano ou ideia na mente antes de realizá-lo materialmente
através do trabalho.
- Pânico Moral
- Uma onda de medo e hostilidade intensa e desproporcional direcionada a um grupo ou a uma
prática cultural que é percebida como uma ameaça aos valores da sociedade.
- Pós-Fordismo (ou Acumulação Flexível)
- Modelo de produção que sucede o fordismo, caracterizado pela flexibilização, terceirização,
produção just-in-time e a centralidade do trabalho imaterial.
- Pegada de Carbono Digital
- Emissões de CO₂ geradas por atividades digitais. Exemplos: 1 hora de streaming Netflix =
~0,5 kg CO₂; 1 busca Google = ~0,2g CO₂; data centers globais = 1-2% das emissões globais. A
economia da atenção é também economia política da energia: cada segundo de atenção capturada
tem custo ambiental externalizado.
R
- Razão Instrumental
- Conceito da Escola de Frankfurt para descrever uma forma de razão focada apenas nos meios
mais eficientes para atingir um fim (cálculo, controle), sem questionar a racionalidade dos
próprios fins.
- Recompensa Variável Intermitente
- Um cronograma de reforço em que uma recompensa é dada após um número imprevisível de
respostas, o que cria um comportamento de repetição forte e persistente.
- Recusa do Trabalho
- Estratégia política associada ao Operaísmo que consiste na luta dos trabalhadores para
reduzir a centralidade do trabalho em suas vidas, lutando por menos horas, mais salário e
mais autonomia.
- Regulação Algorítmica e Auditoria
Pública
- Os algoritmos que têm grande impacto na vida das pessoas (como os que definem scores de
crédito, os que recomendam conteúdo ou os que são usados em processos seletivos) não podem
ser "caixas-pretas". É preciso exigir por lei a transparência sobre seu funcionamento e
criar agências públicas, com participação da sociedade civil, com o poder de auditar esses
algoritmos e proibir aqueles que se mostrem discriminatórios ou socialmente prejudiciais.
- Regulação Antimonopólio Radical
- O poder das Big Techs é, antes de tudo, um poder de monopólio. É preciso ir além da retórica
da "competição" e usar as leis antimonopólio de forma radical para quebrar essas empresas. O
Facebook não deveria ser dono do Instagram e do WhatsApp. A Google não deveria ser dona do
YouTube e do Android. A quebra dos monopólios é o primeiro passo para reduzir seu poder
estrutural sobre a sociedade.
- Relações de Produção
- São as relações sociais que as pessoas estabelecem entre si para produzir. Quem é dono das
ferramentas? Quem controla o processo de trabalho? Quem tem direito ao produto final? Essas
relações podem ser de cooperação, de servidão, de escravidão ou, como no capitalismo, de
trabalho assalariado.
- Revenge Porn (Pornografia de Vingança)
- Divulgação não-consensual de imagens ou vídeos íntimos como forma de controle, humilhação e
violência contra mulheres. Criminalizado no Brasil pela Lei 13.718/2018, mas aplicação é
precária. É arma patriarcal digitalizada: usa tecnologia para perpetuar controle sobre
corpos e sexualidade feminina.
S
- Shadowbanning
- A prática, por parte de uma plataforma de rede social, de bloquear ou reduzir a visibilidade
de um usuário ou de seu conteúdo sem notificação, tornando-o invisível para a maioria da
comunidade.
- Sistema de Crédito Social
- Um conjunto de sistemas em desenvolvimento na China para avaliar a "confiabilidade" de
cidadãos e empresas com base em uma variedade de dados.
- Soberania de Dados
- Os dados de uma nação são um recurso estratégico. Devemos tratá-los como tal, com leis de
soberania de dados que exijam o armazenamento local de informações sensíveis e que deem ao
Estado e aos cidadãos o controle sobre como esses dados são usados. Os dados produzidos no
Brasil devem servir para o desenvolvimento do Brasil, não para o lucro de empresas
estrangeiras.
- Soberania de Rede
- A capacidade de um Estado ou bloco de controlar sua própria infraestrutura de informação e
comunicação, garantindo sua autonomia no cenário global.
- Soberania de Rede Limitada
- Como vimos no capítulo anterior, a soberania no século XXI é soberania de rede. Embora o
Brasil tenha tido sucesso com iniciativas como o Pix e esteja desenvolvendo o Drex, nossa
soberania é limitada. Estamos construindo "estradas vicinais" digitais, enquanto as
"rodovias" principais da economia digital global — os sistemas operacionais, as lojas de
aplicativos, os serviços de nuvem, os modelos de IA — continuam sob controle estrangeiro.
- SPFS (System for Transfer of
Financial Messages)
- O sistema de mensagens financeiras da Rússia, desenvolvido como uma alternativa ao SWIFT.
- Streaming
- Transmissão contínua de conteúdo audiovisual via internet sem necessidade de download
completo. Netflix, Spotify, YouTube, Twitch. Modelo de negócio baseado em assinaturas e
publicidade. Impacto material: streaming de vídeo representa 60% do tráfego global de
internet e ~1% das emissões globais de CO₂. Cada hora de streaming HD consome energia
equivalente a dirigir carro elétrico por 1km. Ideologia da "conveniência" oculta pegada
ecológica.
- Stafford Beer (1926-2002)
- Um ciberneticista britânico e consultor de gestão que foi o principal arquiteto teórico e
filosófico do Projeto Cybersyn.
- Subdesenvolvimento
- Não é uma ausência de desenvolvimento, mas uma estrutura econômica e social específica,
produto da forma como a periferia foi integrada ao capitalismo mundial.
- Subsunção Formal
- A primeira fase de controle capitalista, onde o capital subordina processos de trabalho
existentes sem alterá-los tecnologicamente.
- Subsunção Real
- A fase madura, onde o capital revoluciona o processo de trabalho através da tecnologia,
incorporando o conhecimento na máquina e retirando-o do trabalhador.
- Sujeito Automático
- Conceito de Marx para descrever o Valor como uma força motriz quase consciente, cujo único
objetivo é sua própria expansão infinita (D-M-D").
- Superexploração do Trabalho
- A intensificação da exploração da força de trabalho nos países dependentes para compensar a
transferência de valor para o centro. Envolve jornadas mais longas, ritmos mais intensos e
salários abaixo do necessário para a subsistência.
- SWIFT
(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)
- A principal rede global de mensagens financeiras, que conecta milhares de bancos em todo o
mundo.
- Síntese Informacional
- O nome que propomos para a abordagem deste capítulo, que busca usar a teoria da informação e
a cibernética para mediar e sintetizar as perspectivas do Pós-Operaísmo e da Crítica do
Valor.
T
- Taxa de Lucro
- A razão entre a mais-valia e o capital total investido (m / (c+v)). Segundo Marx, possui uma
tendência de longo prazo à queda.
- Teoria da Dependência
- Corrente de pensamento (especialmente marxista) que explica o subdesenvolvimento como um
resultado necessário da expansão do capitalismo global e da relação entre países centrais e
periféricos.
- Teoria da Dissociação (Abspaltung)
- Teoria de Roswitha Scholz que afirma que a lógica do Valor se baseia na dissociação e
desvalorização de uma esfera de atividades e qualidades associadas ao feminino (cuidado,
afeto, reprodução).
- Trabalho Abstrato
- No capitalismo, o mercado não se importa com o tipo específico de trabalho. Ele o reduz a
uma única coisa: um dispêndio de energia humana, de tempo. O trabalho abstrato é o trabalho
humano em geral, despojado de suas qualidades específicas.
- Trabalho Afetivo
- Trabalho que produz ou manipula afetos e experiências emocionais, como o cuidado, o
entretenimento e os serviços de atendimento.
- Trabalho Cognitivo
- Trabalho baseado na manipulação de conhecimento, informação e símbolos, como programação,
design e análise de dados.
- Trabalho Concreto
- É a atividade específica que cria um valor de uso particular. O trabalho do alfaiate, do
padeiro, do engenheiro de software. Cada um é diferente em seus métodos e resultados.
- Trabalho Imaterial
- Categoria que engloba o trabalho cognitivo e o afetivo, cujo produto principal não é um bem
material, mas sim informacional ou relacional.
- Trebor Scholz
- Um pesquisador e ativista alemão-americano, considerado o principal proponente e teórico do
cooperativismo de plataforma.
- Tributação e Fim dos Paraísos Fiscais
- As gigantes da tecnologia são mestras na elisão fiscal, usando paraísos fiscais e uma
complexa engenharia contábil para pagar uma quantidade irrisória de impostos. É urgente
criar uma tributação global sobre os lucros das empresas digitais e fechar as brechas que
lhes permitem não contribuir para as sociedades onde operam.
- Trabalho Reprodutivo
- Trabalho não remunerado de cuidado, manutenção doméstica e reprodução da força de trabalho
(gestação, criação de filhos, cuidado de idosos, trabalho emocional). Silvia Federici
demonstra que a acumulação capitalista depende da invisibilização e exploração desse
trabalho, historicamente atribuído a mulheres. No capitalismo digital, plataformas como
TaskRabbit e Care.com extrativizam trabalho reprodutivo mantendo-o precarizado.
- Terras Raras
- Grupo de 17 elementos químicos (cobalto, lítio, nióbio, etc.) essenciais para fabricação de
eletrônicos, baterias e servidores. Mineração é altamente poluente e concentrada em poucos
países (China 70%, Congo 60% do cobalto). Extração frequentemente envolve trabalho infantil,
condições letais e destruição ambiental.
-
TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade) — Redefinição Não-Patologizante
- Sob paradigma da neurodiversidade, TDAH não é "déficit" mas processamento de atenção
não-linear: hiperfoco intenso em temas de interesse, dificuldade com tarefas monótonas,
sensibilidade a estímulos múltiplos. O problema não é o cérebro TDAH, mas sistemas
projetados para atenção neurotípica. Solução não é apenas medicação, mas redesign de
sistemas (Universal Design).
U
- Uberização
- O processo de transformação das relações de trabalho, caracterizado pela informalidade, pela
transferência de riscos para o trabalhador e pelo controle via gerenciamento algorítmico,
tendo a Uber como modelo.
- Unidade Popular
- A coalizão de partidos de esquerda que elegeu Salvador Allende como presidente do Chile em
1970.
- Ubuntu
- Filosofia sul-africana traduzida como "sou porque somos" ou "uma pessoa é uma pessoa através
de outras pessoas". Epistemologia relacional que contrasta com individualismo ocidental.
Ubuntu afirma interdependência radical: humanidade é construída através de comunidade, não
apesar dela. Na tecnologia: crítica ao mito do "gênio solitário" e ao proprietarismo
intelectual; valorização de tecnologias colaborativas, comunitárias e orientadas ao bem
comum. Nome do sistema operacional Linux Ubuntu homenageia essa filosofia.
- Universal Design for Learning (UDL)
- Abordagem pedagógica que oferece múltiplas formas de representação (visual, auditiva,
tátil), múltiplas formas de ação/expressão (escrever, falar, desenhar), e múltiplas formas
de engajamento (individual, colaborativo, autônomo). Beneficia não apenas pessoas com
deficiência, mas todos os estudantes. Crítica a plataformas de EAD que assumem aprendizagem
normativa.
V
- Valor de Troca
- O valor quantitativo de uma mercadoria, que permite que ela seja trocada por outras
mercadorias em certas proporções.
- Valor de Uso
- A utilidade de um objeto, sua capacidade de satisfazer uma necessidade humana.
- Variedade
- Uma medida da complexidade de um sistema, correspondente ao número de estados ou
comportamentos distintos que ele pode assumir.
- Viés Algorítmico
- Discriminação sistemática embutida em sistemas algorítmicos, refletindo e amplificando
preconceitos sociais presentes nos dados de treinamento, nas escolhas de design ou nas
métricas de otimização. Exemplos: sistemas de reconhecimento facial que falham mais para
pessoas negras, algoritmos de crédito que discriminam por CEP/raça, IA de recrutamento que
privilegia homens. Não é bug, mas característica: algoritmos aprendem padrões do mundo real
desigual. Crítica materialista: viés algorítmico naturaliza e automatiza opressões
estruturais.
- Viktor Glushkov (1923-1982)
- Um dos pais fundadores da ciência da computação e da cibernética na União Soviética. Foi o
principal arquiteto e proponente do projeto OGAS.
W
- Wabi-Sabi
- Estética japonesa que celebra imperfeição, impermanência e incompletude. Wabi = simplicidade
rústica; Sabi = beleza da idade e desgaste. Na tecnologia: crítica à obsessão por
atualização constante, obsolescência programada, perfeição algorítmica. Wabi-sabi propõe
abraçar tecnologias imperfeitas, duradouras, reparáveis. Conexão com direito à reparação e
decrescimento digital.
X
- Xenofeminismo
- Corrente feminista desenvolvida por Helen Hester e o coletivo Laboria Cuboniks que propõe
apropriar a tecnologia para abolir o gênero como categoria opressiva. Rejeita tanto o
tecnofobismo quanto o determinismo tecnológico, defendendo uso estratégico da tecnologia
para emancipação universal. Manifesto: "Se a natureza é injusta, mude a natureza."
Apêndice B
Biografias
Este apêndice reúne biografias dos principais pensadores, teóricos e figuras
históricas citados ao longo do livro. O objetivo é contextualizar suas contribuições e situar
suas ideias no tempo e no espaço, facilitando a compreensão das correntes teóricas e dos debates
apresentados.
👤
O Loop Humaniza: Teoria
Nasceu de Vidas Concretas
Teoria não cai do céu. Ela nasce de pessoas reais, em
contextos históricos específicos, com dilemas pessoais concretos.
Ao ler os capítulos, você encontrou conceitos
abstratos — "mais-valia", "cibernética de 2ª ordem", "sujeito automático".
Aqui, você descobre que:
- Marx (Cap 1) não era filósofo de torre de marfim —
era exilado político pobre, dependia da amizade de Engels para sobreviver, viu filhos
morrerem de doenças evitáveis. Sua teoria da exploração nasceu de testemunhar
exploração.
- Wiener (Cap 2) criou cibernética durante 2ª Guerra
— projetava sistemas antiaéreos para derrubar aviões nazistas. Mas depois ficou
horrorizado com bombas atômicas e passou décadas alertando sobre perigos da automação
militar. Sua ética nasceu de remorso.
- Allende (Cap 18) não era tecnocrata frio que
implantou Cybersyn — era médico que atendia pobres de graça, poeta, socialista
democrático que tentou revolução sem violência. Seu experimento nasceu de
compaixão.
- Zuboff (Cap 3) criou "capitalismo de vigilância"
não como acadêmica distante, mas após investigar Google/Facebook como insider-outsider.
Sua denúncia nasceu de indignação ética.
🔄 Loop Backward: Releia qualquer capítulo após ler biografias.
Exemplo: Relea Cap 6 (cibernética 2ª ordem) sabendo que Heinz von
Foerster era refugiado que fugiu do nazismo. Sua insistência em "ética do observador" não
era jogo acadêmico — era lição de quem viu o que acontece quando sociedade abdica de
responsabilidade ("só seguia ordens"). Biografia ilumina teoria
retrospectivamente.
Meta-função deste apêndice:
- Humaniza o conhecimento: Conceitos abstratos se tornam trajetórias
humanas
- Revela contradições produtivas: Engels era burguês que financiou Marx.
Wiener trabalhou para militar que depois criticou. Contradição ≠ hipocrisia — é
dialética vivida
- Contextualiza historicamente: Entender quando e por
que pensador X escreveu Y muda como você interpreta Y
- Convida à empatia crítica: Você pode discordar de Marx/Wiener/Zuboff,
mas agora discorda de pessoas reais com dilemas reais, não de abstrações
💡
Aviso anti-hagiografia: Este apêndice não transforma pensadores em santos.
Marx era machista, Wiener arrogante, muitos aqui foram eurocêntricos. Biografias não
justificam falhas — revelam que conhecimento é sempre situado, produzido por
pessoas falíveis em contextos limitados. Sua responsabilidade: ler criticamente, separar
contribuições válidas de limitações históricas.
Pensadores Clássicos
Karl Marx (1818-1883)
Filósofo, economista e revolucionário alemão, Karl Marx é o fundador do materialismo histórico e
da crítica da economia política. Nascido em Tréveris, na Prússia, estudou direito e filosofia,
mas dedicou sua vida ao estudo do capitalismo e à organização do movimento operário. Sua obra
principal, O Capital (1867), é uma análise monumental do modo de produção capitalista,
revelando os mecanismos de exploração do trabalho e a lógica de acumulação do capital. Marx
viveu grande parte de sua vida no exílio em Londres, onde trabalhou em estreita colaboração com
Friedrich Engels. Sua obra influenciou profundamente não apenas a teoria social, mas também os
movimentos revolucionários do século XX.
Friedrich Engels (1820-1895)
Filósofo, sociólogo e revolucionário alemão, Friedrich Engels foi o principal colaborador de Karl
Marx. Filho de um industrial têxtil, Engels testemunhou em primeira mão as condições miseráveis
da classe trabalhadora inglesa, experiência que documentou em A Situação da Classe
Trabalhadora na Inglaterra (1845). Além de apoiar financeiramente Marx durante anos,
Engels contribuiu decisivamente para o desenvolvimento do materialismo histórico e dialético.
Após a morte de Marx, foi responsável por editar e publicar os volumes II e III de O
Capital.
Norbert Wiener (1894-1964)
Matemático e filósofo norte-americano, Norbert Wiener é o fundador da cibernética. Filho de um
professor de Harvard, foi uma criança prodígio que se formou em matemática aos 14 anos. Durante
a Segunda Guerra Mundial, trabalhou no desenvolvimento de sistemas de controle de fogo
antiaéreo, experiência que o levou a formular os princípios da cibernética. Em 1948, publicou
Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine, obra que
estabeleceu as bases teóricas para a ciência da computação, a inteligência artificial e a teoria
dos sistemas. Wiener foi um dos primeiros cientistas a alertar sobre os perigos sociais da
automação e do uso militar da tecnologia.
Alan Turing (1912-1954)
Matemático, lógico e criptógrafo britânico, Alan Turing é considerado o pai da ciência da
computação. Sua Máquina de Turing (1936) estabeleceu os fundamentos teóricos da computação
moderna. Durante a Segunda Guerra Mundial, liderou a equipe que decifrou o código Enigma nazista
em Bletchley Park, contribuindo decisivamente para a vitória dos Aliados. Após a guerra,
trabalhou no desenvolvimento dos primeiros computadores e propôs o famoso Teste de Turing para
avaliar a inteligência artificial. Perseguido por sua homossexualidade, foi submetido a
castração química e morreu aos 41 anos, provavelmente por suicídio. Sua história é um lembrete
trágico da violência do Estado contra pessoas LGBTQIA+.
Escola de Frankfurt
Theodor Adorno (1903-1969)
Filósofo, sociólogo e musicólogo alemão, Theodor Adorno foi uma das figuras centrais da Escola de
Frankfurt. Junto com Max Horkheimer, desenvolveu a teoria crítica da sociedade, com ênfase na
crítica à razão instrumental e à indústria cultural. Sua obra Dialética do
Esclarecimento (1947), escrita em coautoria com Horkheimer, é uma das análises mais
penetrantes sobre como o projeto iluminista de emancipação se transformou em um novo tipo de
dominação. Adorno também foi um crítico feroz da cultura de massa, que via como um instrumento
de controle social e de padronização do pensamento.
Herbert Marcuse (1898-1979)
Filósofo e sociólogo alemão-americano, Herbert Marcuse foi membro da Escola de Frankfurt e uma
das principais influências intelectuais dos movimentos de contracultura dos anos 1960. Sua obra
O Homem Unidimensional (1964) argumenta que a sociedade industrial avançada cria falsas
necessidades que integram os indivíduos ao sistema de produção e consumo, suprimindo o
pensamento crítico. Marcuse foi um dos poucos marxistas de sua geração a manter a esperança na
possibilidade de uma revolução social, identificando nos movimentos estudantis, nas lutas
anti-imperialistas e nas minorias oprimidas os novos sujeitos revolucionários.
Operaísmo e Pós-Operaísmo
Mario Tronti (1931-2023)
Filósofo e político italiano, Mario Tronti foi o fundador do Operaísmo italiano nos anos 1960.
Sua obra Operai e Capitale (Operários e Capital, 1966) propôs uma inversão radical da
análise marxista tradicional: não é o capital que desenvolve as forças produtivas e depois a
classe trabalhadora reage, mas é a luta da classe trabalhadora que força o capital a se
reestruturar. Tronti argumentava que a classe operária é o verdadeiro motor do desenvolvimento
capitalista. Seu conceito de "recusa do trabalho" influenciou profundamente os movimentos
autonomistas. Mais tarde, tornou-se mais próximo do Partido Comunista Italiano e desenvolveu
reflexões sobre política e democracia que se distanciaram do autonomismo radical de sua
juventude.
Raniero Panzieri (1921-1964)
Político e teórico marxista italiano, Raniero Panzieri foi cofundador do Operaísmo junto com
Mario Tronti. Editor da revista Quaderni Rossi (Cadernos Vermelhos), onde o operaísmo
se desenvolveu teoricamente. Panzieri foi um dos primeiros marxistas a reconhecer a centralidade
da tecnologia e da organização do trabalho na dominação capitalista, antecipando análises sobre
automação e controle. Sua morte prematura em 1964 privou o movimento de uma de suas principais
lideranças intelectuais. Panzieri insistia que a tecnologia não é neutra, mas incorpora relações
de poder capitalistas, tema que seria desenvolvido por seus sucessores.
Paolo Virno (1952-)
Filósofo italiano e figura central do pós-operaísmo, Paolo Virno desenvolveu análises profundas
sobre trabalho imaterial, linguagem e biopolítica. Sua obra Gramática da Multidão
(2001) é fundamental para compreender o conceito de multidão como alternativa ao "povo" da
filosofia política moderna. Virno argumenta que, no capitalismo contemporâneo, as faculdades
humanas mais genéricas (linguagem, pensamento, capacidade de cooperação) são diretamente postas
a trabalhar. Militante da esquerda radical italiana nos anos 1970, foi preso em 1979 acusado de
envolvimento com o terrorismo, acusações das quais foi absolvido. Seu trabalho conecta Marx com
filosofia da linguagem (Wittgenstein, Austin) e antropologia filosófica.
Antonio Negri (1933-)
Filósofo e ativista político italiano, Antonio Negri é uma das principais figuras do
Pós-Operaísmo. Militante da esquerda radical italiana nos anos 1960 e 1970, foi preso em 1979
sob acusação de envolvimento com as Brigadas Vermelhas, acusações que sempre negou. Passou 14
anos na prisão e no exílio na França. Sua obra, desenvolvida em colaboração com Michael Hardt,
reinterpreta o marxismo para a era do trabalho imaterial e da globalização. Império
(2000) e Multidão (2004) são suas obras mais influentes, propondo novos conceitos como
a multidão, o comum e o império como forma de soberania global.
Michael Hardt (1960-)
Teórico político norte-americano e professor de literatura na Duke University, Michael Hardt é
conhecido por sua colaboração com Antonio Negri. Juntos, desenvolveram uma análise do
capitalismo contemporâneo que combina marxismo, pós-estruturalismo e teoria política. Suas obras
exploram as transformações do trabalho na era digital, o surgimento de novas formas de
resistência e a possibilidade de construir um "comum" que escape à lógica da propriedade privada
e do Estado.
Cibernética Socialista
W. Ross Ashby (1903-1972)
Psiquiatra e ciberneticista britânico, William Ross Ashby foi pioneiro no estudo de sistemas
adaptativos e autorreguladores. Sua obra An Introduction to Cybernetics (1956)
tornou-se texto fundamental do campo. Ashby desenvolveu a Lei da Variedade Requerida (Law of
Requisite Variety), que estabelece que para controlar um sistema, o controlador deve ter
variedade (complexidade) pelo menos igual à do sistema controlado. Este princípio é essencial
para entender tanto limitações do planejamento central burocrático quanto desafios da gestão
algorítmica. Ashby também construiu o Homeostat, uma das primeiras máquinas cibernéticas capazes
de adaptação, demonstrando fisicamente os princípios da homeostase.
Claude Shannon (1916-2001)
Matemático e engenheiro elétrico estadunidense, Claude Elwood Shannon é o fundador da teoria
matemática da informação. Seu artigo "A Mathematical Theory of Communication" (1948)
revolucionou as telecomunicações ao formalizar matematicamente o conceito de informação como
medida de incerteza reduzida, quantificável em bits. Shannon demonstrou que informação pode ser
separada de significado e transmitida com confiabilidade mesmo através de canais ruidosos, desde
que haja redundância adequada. Trabalhando nos Bell Labs, suas ideias tornaram possível desde
comunicações digitais até compressão de dados. Shannon também foi inventor excêntrico,
construindo máquinas de xadrez, malabaristas mecânicos e o primeiro mouse de computador. Sua
teoria da informação é base tanto da internet quanto da crítica ao trabalho imaterial no
capitalismo digital.
Heinz von Foerster (1911-2002)
Físico e filósofo austríaco-americano, Heinz von Foerster foi figura central na transição da
cibernética de primeira para segunda ordem. Refugiado que fugiu do nazismo, von Foerster
organizou as famosas Conferências Macy que consolidaram a cibernética como campo. Como diretor
do Biological Computer Laboratory na Universidade de Illinois (1958-1976), desenvolveu o
conceito de sistemas observadores que se incluem na observação. Sua "cibernética de segunda
ordem" não pergunta apenas "como sistemas são controlados?" mas "como observadores observam
sistemas?". Von Foerster insistia em uma ética da responsabilidade: se realidade é construída
por observador, observador é responsável por suas construções. Seu imperativo ético: "Aja sempre
de modo a aumentar o número de escolhas possíveis".
Gregory Bateson (1904-1980)
Antropólogo, biólogo e ciberneticista britânico-americano, Gregory Bateson foi pensador
profundamente interdisciplinar que conectou cibernética, antropologia, psiquiatria e ecologia.
Participante das Conferências Macy, desenvolveu teoria da comunicação que enfatiza contexto,
meta-comunicação e padrões recursivos. Sua obra Steps to an Ecology of Mind (1972)
propõe que mente não está "dentro" de indivíduos, mas emerge de sistemas relacionais (indivíduo
+ ambiente). Bateson cunhou o conceito de "double bind" (duplo vínculo) para explicar padrões
patológicos de comunicação. Influenciou terapia familiar sistêmica, epistemologia ecológica e
estudos sobre alcoolismo. Casado com Margaret Mead, trabalhou na síntese Macy entre ciências
naturais e humanas.
Humberto Maturana (1928-2021) e Francisco Varela (1946-2001)
Biólogos e filósofos chilenos que desenvolveram a teoria da autopoiese, conceito que revolucionou
a compreensão de sistemas vivos. Maturana, neurobiólogo, e Varela, biólogo e filósofo,
propuseram que seres vivos são sistemas autopoiéticos: redes de processos que produzem
continuamente os componentes que os constituem, mantendo sua organização circular mesmo quando
matéria flui através deles. Em A Árvore do Conhecimento (1984), argumentaram que
conhecimento não é representação de realidade externa, mas ação efetiva que permite a um ser
vivo continuar sua autopoiese em seu meio. Esta epistemologia construtivista radical influenciou
cibernética de segunda ordem, teorias de sistemas, ciências cognitivas e filosofia da biologia.
Varela também foi pioneiro em neurociência contemplativa, conectando budismo com ciência
cognitiva.
Viktor Glushkov (1923-1982)
Matemático e ciberneticista soviético, Viktor Glushkov foi o principal arquiteto do projeto OGAS
(Sistema Automatizado de Gestão da Economia Nacional). Pioneiro da ciência da computação na
URSS, Glushkov propôs na década de 1960 a criação de uma rede nacional de computadores para
gerenciar a economia soviética em tempo real. Sua visão era revolucionária: usar a cibernética
para superar as limitações do planejamento central burocrático. Embora o projeto OGAS nunca
tenha sido totalmente implementado devido à resistência da burocracia, as ideias de Glushkov
anteciparam a internet e continuam a inspirar debates sobre planejamento econômico democrático.
Stafford Beer (1926-2002)
Ciberneticista britânico e consultor de gestão, Stafford Beer é conhecido por desenvolver o
Modelo do Sistema Viável (VSM) e por seu trabalho no Projeto Cybersyn no Chile de Salvador
Allende. Beer acreditava que a cibernética poderia ser usada para criar organizações mais
democráticas e eficientes. Sua filosofia enfatizava a autonomia das partes dentro de um sistema,
equilibrada com a necessidade de coordenação do todo. O Cybersyn foi uma tentativa audaciosa de
aplicar esses princípios à gestão de uma economia nacional, criando um sistema de feedback em
tempo real entre as fábricas e o governo central.
Salvador Allende (1908-1973)
Médico e político chileno, Salvador Allende foi o primeiro presidente marxista eleito
democraticamente na América Latina. Assumiu o poder em 1970 à frente da coalizão Unidade
Popular, com um programa de nacionalizações, reforma agrária e expansão dos direitos sociais.
Durante seu governo, apoiou o Projeto Cybersyn como uma ferramenta para democratizar a gestão
econômica. Seu governo foi derrubado pelo golpe militar de 11 de setembro de 1973, liderado pelo
general Augusto Pinochet e apoiado pela CIA. Allende morreu defendendo o Palácio de La Moneda,
tornando-se um símbolo da resistência contra o imperialismo e o fascismo.
Crítica do Valor (Wertkritik)
Robert Kurz (1943-2012)
Teórico social alemão e principal expoente da Crítica do Valor (Wertkritik), Robert Kurz
desenvolveu uma crítica radical ao capitalismo que vai além da tradicional luta de classes. Para
Kurz, o problema fundamental não é a exploração do trabalho, mas a própria forma-valor, a lógica
abstrata que domina toda a sociedade capitalista. Sua obra O Colapso da Modernização
(1991) argumenta que o capitalismo está em crise terminal, incapaz de integrar a maioria da
humanidade ao processo de valorização. Kurz foi um crítico feroz tanto do capitalismo quanto do
marxismo tradicional, que via como cúmplice da lógica do valor.
Roswitha Scholz (1959-)
Teórica social alemã e membro do grupo Krisis, Roswitha Scholz desenvolveu a teoria da
dissociação (Abspaltung) como complemento à Crítica do Valor. Scholz argumenta que a forma-valor
não pode ser compreendida sem analisar como ela se baseia na dissociação e desvalorização de uma
esfera de atividades e qualidades associadas ao feminino (cuidado, afeto, reprodução). A
dominação patriarcal não é um resíduo pré-capitalista, mas uma estrutura constitutiva do próprio
capitalismo. Sua obra é fundamental para uma crítica feminista do valor.
Ciberfeminismo e Estudos de Gênero
Donna Haraway (1944-)
Bióloga, filósofa e feminista norte-americana, Donna Haraway é conhecida por seu "Manifesto
Ciborgue" (1985), um texto fundador do ciberfeminismo. Haraway propõe a figura do ciborgue — um
híbrido de organismo e máquina — como um mito político para uma política feminista que rejeita
as dicotomias tradicionais (natureza/cultura, humano/animal, masculino/feminino). Sua obra
desafia as fronteiras entre o natural e o artificial, argumentando que a tecnologia pode ser uma
ferramenta de libertação se for apropriada de forma crítica e criativa.
Filosofia da Tecnologia e Cosmotécnica
Yuk Hui (1976-)
Filósofo sino-alemão da tecnologia, Yuk Hui é professor na City University of Hong Kong e autor
de obras fundamentais sobre cosmotécnica e pluralidade tecnológica. Em The Question
Concerning Technology in China: An Essay in Cosmotechnics (2016), Hui desafia a noção
heideggeriana de que a tecnologia moderna é universal e necessariamente europeia. Propõe o
conceito de cosmotécnica: a unificação entre ordem cósmica (cosmologia) e atividade moral
(ética) através da fabricação técnica. Cada cultura desenvolve sua própria cosmotécnica,
articulando de formas distintas relações entre humano, natureza e tecnologia. A cosmotécnica
chinesa, enraizada no Taoísmo, difere radicalmente da ocidental moderna que separa natureza e
cultura, sujeito e objeto. Hui argumenta que crise ecológica global decorre da imposição
universal da cosmotécnica ocidental. Solução não é rejeitar tecnologia, mas pluralizar
cosmotécnicas, permitindo que diferentes culturas desenvolvam relações tecnológicas próprias com
natureza. Seu trabalho é essencial para descolonizar filosofia da tecnologia e pensar futuros
tecnológicos não-ocidentais.
Pensadores Brasileiros
Celso Furtado (1920-2004)
Economista brasileiro e um dos principais teóricos do desenvolvimentismo na América Latina.
Furtado foi membro da CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe) e ministro do
Planejamento no governo João Goulart. Sua obra Formação Econômica do Brasil (1959) é um
clássico da interpretação histórica da economia brasileira, analisando como a estrutura colonial
e a dependência externa moldaram o subdesenvolvimento do país. Furtado defendia a necessidade de
um projeto nacional de industrialização e diversificação econômica para superar a condição
periférica.
Ruy Mauro Marini (1932-1997)
Sociólogo e economista brasileiro, Ruy Mauro Marini foi um dos principais teóricos da Teoria
Marxista da Dependência. Exilado durante a ditadura militar, desenvolveu sua obra no México e no
Chile. Marini argumentava que a dependência não é apenas uma relação externa, mas uma estrutura
interna que molda toda a formação social dos países periféricos. Seu conceito de superexploração
do trabalho — a intensificação da exploração para compensar a transferência de valor para o
centro — é fundamental para entender o capitalismo na América Latina.
Pensadores Latino-Americanos
Raúl Prebisch (1901-1986)
Economista argentino e principal arquiteto intelectual da CEPAL (Comissão Econômica para a
América Latina e o Caribe). Prebisch desenvolveu a tese centro-periferia, argumentando que
sistema econômico mundial é estruturalmente desigual: países centrais (industrializados)
capturam crescentemente mais valor através da deterioração dos termos de troca, enquanto
periferia (exportadores de matérias-primas) enfrenta estagnação relativa. Esta análise
estrutural desafiou teoria neoclássica das vantagens comparativas e fundamentou políticas de
industrialização por substituição de importações em toda América Latina. Prebisch foi primeiro
secretário-executivo da CEPAL (1950-1963) e secretário-geral da UNCTAD (1964-1969). Seu
pensamento estruturalista influenciou gerações de economistas latino-americanos, incluindo Celso
Furtado e Fernando Henrique Cardoso.
Silvia Rivera Cusicanqui (1949-)
Socióloga, historiadora e ativista aymara boliviana, Silvia Rivera Cusicanqui é uma das
principais vozes do pensamento decolonial andino. Sua obra articula crítica ao colonialismo
interno, epistemologia indígena e prática política libertadora. Desenvolve conceito de
ch'ixi (palavra aymara que designa algo mesclado, jaspeado, manchado - não síntese
dialética, mas coexistência tensa de diferenças). Rivera Cusicanqui critica colonialidade
acadêmica que teoriza sobre indígenas sem envolvê-los como sujeitos de conhecimento. Fundou
Taller de Historia Oral Andina (1983), recuperando memórias de lutas indígenas invisibilizadas.
Sua obra Ch'ixinakax utxiwa: On Decolonising Practices and Discourses (2010/2012)
propõe descolonização não como discurso acadêmico, mas como prática vivida que reconhece
coexistência conflitiva de cosmologias. Influenciou movimentos indígenas bolivianos e debates
sobre plurinacionalidade. Crítica tanto do neoliberalismo quanto de governos "progressistas" que
instrumentalizam identidade indígena.
Pensadores Africanos
Achille Mbembe (1957-)
Filósofo e teórico político camaronês, Achille Mbembe é conhecido por seu conceito de
necropolítica, que estende a análise foucaultiana do biopoder para pensar o poder de "fazer
morrer e deixar viver". Mbembe argumenta que a soberania moderna se expressa fundamentalmente no
poder de ditar quem pode viver e quem deve morrer. Sua obra é essencial para compreender a
violência racial, o colonialismo e as formas contemporâneas de dominação que operam através da
gestão da morte. Nascido em Camarões, Mbembe estudou história e ciência política na França e
lecionou em diversas universidades africanas e europeias. Atualmente é professor na Universidade
de Witwatersrand, em Joanesburgo, África do Sul. Sua obra é amplamente lida e discutida no
contexto brasileiro, especialmente em relação à violência policial e ao genocídio da população
negra.
Organizações e Instituições
Gosplan
A Gosplan (Comissão Estatal de Planejamento) foi a agência central de planejamento econômico da
União Soviética, criada em 1921. Era responsável pela elaboração dos planos quinquenais que
governavam toda a economia soviética, definindo metas de produção para cada setor e cada
fábrica. A Gosplan operava através de um sistema hierárquico e burocrático, com milhares de
funcionários coletando dados e elaborando planos. Embora tenha sido eficaz na industrialização
rápida da URSS nas décadas de 1930 e 1940, o sistema se tornou cada vez mais rígido e
ineficiente, incapaz de lidar com a complexidade crescente da economia. A resistência da Gosplan
ao projeto OGAS de Viktor Glushkov é um exemplo clássico de como a burocracia pode bloquear a
inovação tecnológica que ameaça seu poder.
Fairwork Foundation
A Fairwork Foundation é uma organização internacional de pesquisa sediada na Universidade de
Oxford que avalia e classifica as condições de trabalho em plataformas digitais em todo o mundo.
Fundada em 2017, a Fairwork desenvolve princípios de trabalho justo (salário justo, condições
justas, contratos justos, gestão justa e representação justa) e publica relatórios anuais
avaliando plataformas como Uber, iFood, Rappi e outras. Seu trabalho é fundamental para
documentar a precarização do trabalho na economia de plataforma e pressionar empresas e governos
por melhores condições. A Fairwork tem equipes de pesquisa em diversos países, incluindo o
Brasil.
Helen Hester (1983-)
Professora de Media and Communication na University of West London. Membro do coletivo
Laboria Cuboniks, autora de *Xenofeminism* (2018). Desenvolve feminismo tecnomaterialista
que rejeita tanto tecnofobia quanto determinismo tecnológico, propondo apropriação
estratégica da tecnologia para abolição do gênero como categoria opressiva. Influenciada por
Haraway e ciberfeminismo dos anos 1990.
Legacy Russell (1989-)
Curadora, escritora e artista estadunidense. Autora de *Glitch Feminism: A Manifesto* (2020).
Propõe o glitch — erro, falha, não-funcionamento — como espaço de resistência para corpos e
identidades queer e negras no digital. Curadora do The Kitchen (Nova York). Trabalho
articula arte digital, teoria queer e estudos de raça.
Sadie Plant (1964-)
Filósofa e teórica cultural britânica. Autora de *Zeros + Ones: Digital Women and the New
Technoculture* (1997). Escreveu história alternativa da computação mostrando raízes na
tecelagem (tear de Jacquard) e no trabalho feminino. Recupera figuras como Ada Lovelace não
como exceções, mas como parte de genealogia oculta da tecnologia. Associada ao
ciberfeminismo e ao CCRU (Cybernetic Culture Research Unit).
Silvia Federici (1942-)
Filósofa e ativista feminista ítalo-americana. Autora de *Calibã e a Bruxa* (2004) e *O Ponto
Zero da Revolução* (2012). Demonstra como acumulação primitiva dependeu da subordinação das
mulheres, caça às bruxas e transformação de corpos femininos em máquinas de reprodução.
Trabalho é essencial para entender como capitalismo digital perpetua invisibilização do
trabalho reprodutivo.
Kate Crawford (1977-)
Pesquisadora australiana, professora na USC Annenberg e pesquisadora sênior na Microsoft
Research. Autora de *Atlas of AI* (2021), que documenta meticulosamente as cadeias de
suprimento da inteligência artificial: minas de lítio no Chile, trabalhadores precarizados
rotulando dados no Quênia, data centers consumindo água em regiões com escassez. Crítica
fundamental à ideologia da desmaterialização.
Jussi Parikka (1976-)
Teórico de media finlandês, professor na Aarhus University (Dinamarca). Autor de *A Geology
of Media* (2015). Desenvolve abordagem que analisa como história dos aparelhos digitais é
inseparável da história da mineração e transformação geológica do planeta. Cada dispositivo
carrega camadas geológicas: minerais extraídos, energia fóssil, resíduos depositados. Media
não é apenas cultura — é também geologia.
Mel Baggs (1980-2020)
Ativista autista estadunidense. Produziu o vídeo seminal "In My Language" (2007), criticando
como sociedade só reconhece como comunicação válida formas neurotípicas. Demonstrou que sua
interação com o mundo — balançar, tocar texturas, ouvir sons repetitivos — é forma válida de
comunicação e processamento sensorial, não déficit. Trabalho foi fundamental para movimento
da neurodiversidade.
Lydia X.Z. Brown (1993-)
Ativista, advogado e acadêmico estadunidense. Autista, não-binário, asiático-americano.
Conecta neurodiversidade com abolicionismo psiquiátrico e interseccionalidade, mostrando
como opressões de raça, classe, gênero e capacidade se entrelaçam. Editor de *All the Weight
of Our Dreams: On Living Racialized Autism* (2017). Trabalho é essencial para entender
neurodiversidade além de perspectiva branca e de classe média.
Capitalismo de Vigilância e Teoria Contemporânea
Shoshana Zuboff (1951-)
Socióloga e professora emérita da Harvard Business School, Shoshana Zuboff é autora de A
Era do Capitalismo de Vigilância (2019), obra que cunhou e popularizou o conceito
de "capitalismo de vigilância". Anteriormente conhecida por seus estudos sobre automação e
trabalho (In the Age of the Smart Machine, 1988), Zuboff dedicou-se a investigar
como empresas como Google e Facebook transformaram a extração de dados comportamentais em um
novo regime de acumulação capitalista. Sua análise combina rigor empírico com denúncia
ética, mostrando como a vigilância digital não é acidente ou abuso, mas lógica econômica
fundamental do capitalismo contemporâneo. O conceito de "excedente comportamental" que
desenvolveu é central para compreender a economia da atenção.
Marxismo Cibernético e Planejamento Socialista
Paul Cockshott (1952-)
Cientista da computação e economista marxista escocês, Paul Cockshott é coautor com Allin
Cottrell de Towards a New Socialism (1993), obra fundamental do marxismo
cibernético contemporâneo. Formado em ciências da computação e economia, Cockshott combina
expertise técnica com rigorosa análise marxista para demonstrar a viabilidade computacional
do planejamento econômico socialista. Argumenta que as tecnologias de computação e
comunicação atuais tornam obsoletos os argumentos de Hayek e Mises sobre impossibilidade do
cálculo socialista. Seu trabalho abrange teoria do valor-trabalho computacional,
planejamento democrático via votação eletrônica, e críticas técnicas detalhadas ao mercado
como mecanismo de alocação. Continua ativo produzindo vídeos e textos sobre economia
política computacional.
Allin Cottrell (1951-)
Economista estadunidense e professor na Wake Forest University, Allin Cottrell é coautor com
Paul Cockshott de Towards a New Socialism. Especialista em econometria e história
do pensamento econômico, Cottrell contribuiu decisivamente para a formalização matemática e
computacional do planejamento socialista. Desenvolveu software de simulação econômica e
trabalhou em modelos de balanço material e alocação de recursos que demonstram a
superioridade técnica do planejamento sobre o mercado em termos de eficiência alocativa e
estabilidade macroeconômica. Sua abordagem combina Marx com teoria da informação e
otimização computacional, mostrando que objeções neoclássicas ao socialismo eram válidas
apenas para limitações computacionais da década de 1930, não para capacidades atuais.
Nick Dyer-Witheford (1951-2023)
Teórico canadense de mídia e comunicação, Nick Dyer-Witheford foi professor na University of
Western Ontario e uma das vozes mais importantes do marxismo digital. Sua obra
Cyber-Marx: Cycles and Circuits of Struggle in High-Technology Capitalism (1999)
foi pioneira em aplicar categorias marxistas à análise do capitalismo digital, antecipando
debates sobre trabalho imaterial, comum digital e autonomia operária nas redes. Em
Cyber-Proletariat (2015), mapeou a cadeia global de exploração que sustenta a
indústria tecnológica, desde mineração de coltan até trabalho cognitivo precário. Com Atle
Mikkola Kjøsen e James Steinhoff, coautorou Inhuman Power: Artificial Intelligence and
the Future of Capitalism (2019), análise crítica sobre IA, automação e luta de
classes. Seu trabalho é essencial para compreender as formas contemporâneas de exploração
digital e as possibilidades de resistência tecnopolítica.
Apêndice C
Cronologias Entrelaçadas
Esta cronologia entrelaça três dimensões fundamentais para a compreensão do
livro: os eventos históricos e políticos, o desenvolvimento teórico do marxismo e da
cibernética, e os marcos tecnológicos que moldaram o capitalismo digital. O objetivo é mostrar
como essas três linhas se cruzam e se influenciam mutuamente ao longo do tempo.
📅
O Loop Sincroniza:
Causalidades e Simultaneidades Ocultas
Leitura linear dos capítulos mascara sincronicidades
históricas cruciais. Cronologia as revela.
Descobertas que emergem ao ler cronologia:
- 1936: Turing publica "Máquina Universal" (Cap 2)
no mesmo ano que Stalin lança Grandes Expurgos na URSS. Simultaneidade não é
acidente — são duas faces da modernidade: computação universal (sonho
de razão total) e terror totalitário (pesadelo de controle total).
- 1948: Wiener publica Cybernetics (Cap 2)
meses antes de Shannon publicar teoria da informação. Mas ambos trabalharam em
sistema antiaéreo durante guerra — cibernética e informação nasceram juntas, da
lógica militar. Cap 6 menciona isso de passagem; cronologia torna
explícito.
- 1971: Cybersyn implementado no Chile (Cap 18)
enquanto Ray Tomlinson inventa e-mail nos EUA. Dois futuros digitais
simultâneos: um socialista (planificação democrática), outro capitalista (comunicação
mercantilizada). Sabemos qual venceu. Mas cronologia mostra que alternativa não
era utopia — era contemporânea.
- 1989: Queda do Muro de Berlim no mesmo ano que Tim Berners-Lee
inventa World Wide Web. Fim do "socialismo real" sincronizado com nascimento da internet
comercial. Causalidade? Coincidência? Cronologia coloca questão; você responde.
- 2008: Crise financeira + Bitcoin criado (Cap 20).
Cronologia revela: criptomoedas não nasceram de ideologia libertária abstrata — nasceram
de desconfiança concreta após bancos destruírem economia global e serem
resgatados com dinheiro público.
🔄 Loop Backward: Releia Cap 17 (OGAS) e Cap 18 (Cybersyn) após estudar cronologia. Você perceberá:
esses projetos não "falharam" isoladamente — foram derrotados por forças
históricas (burocracias, CIA, Guerra Fria). Cronologia mostra que fracasso não
foi técnico — foi político. Isso muda tudo. De "experimentos curiosos" para "futuros
roubados".
Meta-função desta cronologia:
- Deslineariza a narrativa: Livro tem ordem pedagógica (Cap 1→31), não
cronológica. Cronologia reordena por tempo real, revelando relações causais diferentes
- Expõe simultaneidades: Coisas que parecem sequenciais (ler Cap 2 antes
de Cap 18) eram contemporâneas (Wiener 1948, Glushkov início 1960s, Cybersyn
1971 — todos trabalhando em cibernética socialista quase simultaneamente)
- Revela caminhos não tomados: História não é linha reta. Cronologia
mostra bifurcações — momentos em que futuro poderia ter sido diferente (e.g., se OGAS
tivesse sido implementado em 1960s, internet poderia ter nascido socialista)
- Conecta teoria↔ação: Marx escreve O Capital 1867 → I
Internacional 1864 → Comuna de Paris 1871. Teoria não precede prática — são
co-constitutivas. Cronologia mostra isso
💡 Use
esta cronologia como ferramenta ativa: Pegue dois eventos de colunas diferentes
(e.g., "Revolução Cubana 1959" + "ARPANET 1969"). Pergunte: há relação? Cuba cortada de
tecnologia ocidental desenvolve cibernética própria. ARPANET nasce de paranoia sobre ataque
soviético. Guerra Fria moldou arquitetura da internet. Cronologia não dá
respostas — oferece perguntas produtivas.
| Ano |
Eventos Históricos e Políticos |
Desenvolvimento Teórico |
Marcos Tecnológicos |
| 1848 |
Primavera dos Povos — Revoluções liberais e democráticas na Europa |
Marx e Engels publicam o Manifesto Comunista |
— |
| 1867 |
— |
Marx publica o Livro I de O Capital |
— |
| 1917 |
Revolução Russa — Bolcheviques tomam o poder |
Lenin: O Estado e a Revolução |
— |
| 1921 |
Criação da Gosplan na URSS |
— |
— |
| 1923 |
— |
Fundação do Instituto de Pesquisa Social (Escola de Frankfurt) em Frankfurt |
— |
| 1928 |
— |
Antônio Gramsci inicia os Cadernos do Cárcere na prisão fascista |
— |
| 1936 |
— |
— |
Alan Turing publica o conceito da Máquina de Turing |
| 1943-45 |
Segunda Guerra Mundial — Conferências de Macy sobre Cibernética |
— |
Turing decifra o código Enigma em Bletchley Park |
| 1947 |
— |
— |
Invenção do transistor (Bell Labs) — Fundação tecnológica da era digital |
| 1948 |
— |
Norbert Wiener publica Cybernetics |
Claude Shannon publica A Mathematical Theory of Communication |
| 1950 |
— |
Wiener publica The Human Use of Human Beings |
Alan Turing propõe o Teste de Turing |
| 1954 |
— |
— |
Alan Turing morre (envenenamento por cianeto) após perseguição por
homossexualidade |
| 1956 |
— |
Ross Ashby publica An Introduction to Cybernetics |
Conferência de Dartmouth — Nascimento da Inteligência Artificial |
| 1958 |
— |
— |
Invenção do circuito integrado (Jack Kilby, Texas Instruments) |
| 1959 |
Revolução Cubana |
Celso Furtado publica Formação Econômica do Brasil |
— |
| 1960-70 |
Movimentos de descolonização na África e Ásia |
Surgimento do Operaísmo italiano (Tronti, Panzieri) |
— |
| 1961 |
— |
Frantz Fanon publica Os Condenados da Terra |
— |
| 1962 |
Crise dos Mísseis em Cuba |
— |
Viktor Glushkov propõe o projeto OGAS na URSS |
| 1964 |
Golpe militar no Brasil |
Herbert Marcuse publica O Homem Unidimensional |
— |
| 1968 |
Maio de 68 — Movimentos estudantis na França, EUA, México, Brasil e globalmente
|
Publicação da Quaderni Rossi (revista operaísta italiana) |
— |
| 1969 |
— |
Cardoso e Faletto publicam Dependência e Desenvolvimento na América
Latina |
ARPANET — Primeira rede de computadores (precursora da internet) |
| 1970 |
Salvador Allende eleito presidente do Chile |
— |
— |
| 1971 |
— |
— |
Intel lança o primeiro microprocessador comercial (Intel 4004) |
| 1971-73 |
Governo Allende no Chile — Nacionalizações e reforma agrária |
— |
Projeto Cybersyn implementado no Chile por Stafford Beer |
| 1972 |
— |
Stafford Beer publica Brain of the Firm |
— |
| 1973 |
Golpe de Pinochet no Chile — Allende assassinado |
Ruy Mauro Marini publica Dialética da Dependência |
Projeto Cybersyn destruído pelo golpe |
| 1973 |
Crise do petróleo — Fim do boom pós-guerra |
— |
— |
| 1974 |
Revolução dos Cravos em Portugal — Fim do salazarismo |
— |
— |
| 1975 |
— |
— |
Fundação da Microsoft |
| 1976 |
— |
— |
Fundação da Apple |
| 1979 |
Revolução Iraniana — Margaret Thatcher eleita no Reino Unido |
— |
— |
| 1980 |
Ronald Reagan eleito nos EUA — Início da era neoliberal |
— |
— |
| 1981 |
— |
— |
IBM lança o PC (Personal Computer) — Popularização da computação pessoal |
| 1983 |
— |
— |
ARPANET adota TCP/IP — Nasce a arquitetura da internet moderna |
| 1984 |
— |
— |
Lançamento do Macintosh (Apple) |
| 1985 |
— |
Donna Haraway publica o "Manifesto Ciborgue" |
Lançamento do Windows 1.0 |
| 1987 |
Black Monday — Crash da bolsa de valores (19 de outubro) |
— |
— |
| 1989 |
Queda do Muro de Berlim |
— |
Tim Berners-Lee propõe a World Wide Web |
| 1991 |
Colapso da União Soviética — Início do "Período Especial" em Cuba |
Robert Kurz publica O Colapso da Modernização |
Lançamento público da World Wide Web |
| 1992 |
— |
— |
Primeira mensagem SMS enviada |
| 1993 |
— |
Paul Cockshott e Allin Cottrell publicam Towards a New Socialism |
— |
| 1994 |
Levante Zapatista no México |
— |
Fundação da Amazon |
| 1995 |
— |
— |
Lançamento do Windows 95 — Popularização da internet |
| 1996 |
— |
John Perry Barlow publica "Declaração de Independência do Ciberespaço" |
— |
| 1997 |
Crise financeira asiática — Colapso do "milagre asiático" |
Sadie Plant publica Zeros + Ones: Digital Women and the New
Technoculture |
Deep Blue (IBM) vence Kasparov no xadrez |
| 1998 |
— |
— |
Fundação do Google |
| 1999 |
Protestos de Seattle contra a OMC — Movimento antiglobalização |
— |
Lançamento do Napster — Início da pirataria digital em massa |
| 2000 |
— |
Hardt e Negri publicam Império |
Estouro da bolha das "ponto com" |
| 2001 |
Ataques de 11 de setembro — Início da "Guerra ao Terror" |
— |
Lançamento da Wikipédia |
| 2002 |
Lula eleito presidente do Brasil (primeira vez) |
— |
— |
| 2003 |
Lula toma posse como presidente do Brasil |
— |
Lançamento do MySpace |
| 2004 |
— |
Hardt e Negri publicam Multidão |
Lançamento do Facebook (inicialmente para universidades) |
| 2005 |
— |
— |
Lançamento do YouTube |
| 2006 |
— |
— |
Lançamento do Twitter |
| 2007 |
Início da crise financeira global |
— |
Lançamento do iPhone — Início da era dos smartphones |
| 2008 |
Crise financeira global — Colapso do Lehman Brothers |
— |
Lançamento do Bitcoin — Primeira criptomoeda |
| 2009 |
— |
— |
Lançamento do Uber |
| 2010 |
Primavera Árabe — Protestos no Oriente Médio e Norte da África |
— |
Lançamento do Instagram |
| 2011 |
Movimento Occupy Wall Street |
— |
Lançamento do Snapchat — Silk Road (mercado da dark web) |
| 2012 |
Julian Assange refugia-se na embaixada do Equador em Londres |
— |
— |
| 2013 |
Revelações de Edward Snowden sobre vigilância da NSA |
— |
— |
| 2014 |
Anexação da Crimeia pela Rússia — Primeiras sanções e ameaças ao SWIFT |
— |
Rússia lança o SPFS (alternativa ao SWIFT) |
| 2015 |
— |
— |
China lança o CIPS (sistema de pagamento em yuan) |
| 2016 |
Brexit — Eleição de Donald Trump nos EUA |
Trebor Scholz publica Platform Cooperativism |
Escândalo Cambridge Analytica |
| 2018 |
Eleição de Jair Bolsonaro no Brasil |
Achille Mbembe publica Necropolítica (tradução) |
Implementação da LGPD no Brasil |
| 2019 |
Protestos globais (Chile, Hong Kong, Líbano, etc.) |
Shoshana Zuboff publica The Age of Surveillance Capitalism |
— |
| 2020 |
Pandemia de COVID-19 — Aceleração da digitalização |
— |
Explosão do trabalho remoto e das plataformas |
| 2020 |
Protestos Black Lives Matter nos EUA |
— |
— |
| 2021 |
Invasão do Capitólio nos EUA |
— |
— |
| 2022 |
Guerra na Ucrânia — Rússia excluída do SWIFT |
— |
Expansão do Pix no Brasil |
| 2022 |
Eleição de Lula (3º mandato) no Brasil |
— |
Popularização do ChatGPT — Boom da IA generativa |
| 2023 |
Tentativa de golpe de Estado no Brasil (8 de janeiro) |
— |
Avanço dos modelos de IA (GPT-4, Gemini, etc.) |
| 2024 |
Discussões sobre regulação de IA na UE e no Brasil |
— |
Desenvolvimento do Drex (real digital brasileiro) |
| 2025 |
Expansão dos BRICS — Discussões sobre BRICS Pay |
— |
Consolidação da infraestrutura de pagamentos alternativos |
Notas sobre a Cronologia
Esta cronologia não é exaustiva, mas busca destacar os momentos-chave que permitem compreender a
trajetória histórica analisada no livro. Alguns pontos merecem destaque:
1. A Convergência Teórica (1948-1970): O período pós-Segunda Guerra Mundial viu
o desenvolvimento simultâneo da cibernética (Wiener, Ashby, Beer) e das críticas marxistas ao
capitalismo avançado (Escola de Frankfurt, Operaísmo). Embora essas correntes raramente
dialogassem diretamente, ambas estavam respondendo às mesmas transformações: a automação, a
expansão do Estado e a integração da ciência ao capital.
2. Os Experimentos Socialistas (1962-1973): A proposta do OGAS na URSS (1962) e
o Projeto Cybersyn no Chile (1971-73) representam as tentativas mais ambiciosas de usar a
cibernética para o planejamento socialista. Ambos foram bloqueados — o OGAS pela burocracia, o
Cybersyn pelo golpe militar. Esses fracassos marcam o fim de uma era de otimismo sobre a
possibilidade de uma tecnologia emancipatória.
3. A Virada Neoliberal (1973-1991): A crise do petróleo de 1973 marca o fim do
boom pós-guerra e o início da ofensiva neoliberal. A eleição de Thatcher (1979) e Reagan (1980),
o colapso da URSS (1991) e a globalização financeira criam as condições para o surgimento do
capitalismo digital. A tecnologia, que poderia ter sido usada para o planejamento democrático, é
capturada pelo capital.
4. A Ascensão das Plataformas (1994-2010): A fundação da Amazon (1994), Google
(1998), Facebook (2004) e YouTube (2005) marca o surgimento do capitalismo de plataforma. O
lançamento do iPhone (2007) e a crise financeira de 2008 aceleram a digitalização de todos os
aspectos da vida. A década de 2010 vê a consolidação dos monopólios digitais e o surgimento de
novas formas de trabalho precarizado (Uber, 2009).
5. A Crise da Democracia Digital (2013-2025): As revelações de Snowden (2013), a
eleição de Trump (2016) e Bolsonaro (2018), a pandemia de COVID-19 (2020) e a invasão da Ucrânia
(2022) expõem as contradições do capitalismo digital: vigilância em massa, desinformação,
necropolítica e guerra cibernética. Ao mesmo tempo, surgem alternativas: o cooperativismo de
plataforma, os sistemas de pagamento alternativos (Pix, BRICS Pay) e a luta pela regulação
democrática da tecnologia.
Apêndice D
Bibliografia Comentada
Esta bibliografia comentada reúne as principais obras citadas ao longo do
livro, organizadas por tema. Cada entrada inclui uma breve descrição da obra e sua relevância
para os debates apresentados. As obras estão classificadas por nível de dificuldade:
Iniciante, Intermediário e Avançado.
📚
O Loop se Abre:
Intertextualidade e o Livro como Portal
Este livro não é ilha — é nó em rede intertextual
gigantesca. Bibliografia mostra de onde viemos e para onde você pode ir.
Cada capítulo citou dezenas de obras — Marx, Wiener,
Zuboff, Mbembe, muitos outros. Mas citações nos capítulos foram fragmentadas: "como
disse X em Y", menção rápida, seguir em frente. Aqui, obras inteiras são
apresentadas. Você pode mergulhar.
🔄 Loop que se Abre (não fecha): Leia bibliografia → Escolha 3 obras que
parecem interessantes → Leia-as → Descubra que elas citam outras 30 obras → Siga pistas →
Daqui a 5 anos, você terá lido 100+ livros e este livro se tornará apenas seu ponto
de partida. Isso não é "não terminar" — é começar de verdade.
Bibliografia é anti-fechamento intencional.
Meta-função desta bibliografia:
- Aprofundamento direcionado: Cap 1 introduz Marx — Bibliografia D
oferece 10 obras marxistas (iniciante → avançado). Você escolhe profundidade
- Correção de vieses: Este livro tem lacunas (Ap. G §G.7). Bibliografia
inclui obras sobre gênero, ecologia, neurodiversidade não cobertas. Você completa o
que falta
- Construção de comunidade epistêmica: Ao ler obras sugeridas, você entra
em conversação com comunidade global de pensadores. Não está mais "só lendo um livro" —
está participando de diálogo secular
- Escape do autor-deus: Bibliografia lembra: autor deste livro não
inventou nada. Tudo aqui vem de outros livros, que vieram de outros livros,
que... Conhecimento é coletivo, não individual
Estratégia de uso (progressão do leitor):
- Primeira leitura deste livro: Ignore bibliografia — foque em absorver
argumentos principais
- Segunda leitura: Consulte bibliografia por capítulo — identifique 5-10
obras que parecem cruciais
- Após este livro: Leia essas 5-10 obras. Cada uma abrirá 10 novos
caminhos
- Anos depois: Retorne a este livro. Você lerá diferente — perceberá que
era superficial em X, brilhante em Y, problemático em Z. Sua crítica informada é
sinal de que bibliografia funcionou.
💡
Paradoxo produtivo: Bibliografia deveria fechar loop (consolidar
fontes) mas abre loop (convida a leituras infinitas). Este é design intencional.
Sistemas cibernéticos abertos não fecham — se abrem para ambientes maiores. Bibliografia é a
membrana permeável deste livro — fronteira que não isola, mas conecta.
Marxismo Clássico e Teoria do Valor
Nível Iniciante
Huberman, L. (1936). História da Riqueza do Homem.
Um clássico absoluto e surpreendentemente acessível. Huberman conta a história do capitalismo
desde o feudalismo até o século XX de forma narrativa e envolvente. Ideal para quem nunca
estudou economia política e quer entender como chegamos até aqui.
Nível Intermediário
Marx, K. (1867). O Capital, Livro I (Capítulo 1: A Mercadoria).
A fonte original. O primeiro capítulo de O Capital é denso, mas fundamental. Marx
apresenta os conceitos de mercadoria, valor de uso, valor de troca, trabalho abstrato e
fetichismo da mercadoria. Recomenda-se ler com calma e, se possível, em grupo.
Nível Avançado
Rubin, I. I. (1928). Ensaios sobre a Teoria do Valor de Marx.
Uma das mais importantes e rigorosas interpretações da teoria do valor de Marx. Rubin enfatiza o
conceito de trabalho abstrato como uma categoria social específica do capitalismo, não uma
propriedade natural do trabalho. Leitura essencial para quem quer aprofundar a compreensão da
crítica da economia política.
Cibernética e Teoria da Informação
Nível Iniciante
Gleick, J. (2011). The Information: A History, a Theory, a Flood.
Uma história narrativa brilhante sobre a teoria da informação e seus protagonistas (Shannon,
Turing, Wiener). Gleick torna conceitos complexos acessíveis através de histórias fascinantes.
Ideal para entender o contexto histórico do surgimento da cibernética.
Nível Intermediário
Wiener, N. (1950). The Human Use of Human Beings: Cybernetics and
Society.
A própria introdução de Wiener às implicações sociais da cibernética, mais acessível que sua
obra técnica de 1948. Wiener discute os perigos da automação, a importância do feedback e a
necessidade de uma ética para a era das máquinas.
Nível Avançado
Ashby, W. R. (1956). An Introduction to Cybernetics.
O texto técnico original sobre a Lei da Variedade Requisita e outros conceitos fundamentais.
Apesar do título "introdução", é uma obra rigorosa e matemática. Os primeiros capítulos, no
entanto, são de uma clareza impressionante e acessíveis a quem tem paciência.
Capitalismo de Plataforma e Vigilância
Nível Iniciante
Srnicek, N. (2016). Platform Capitalism.
Uma introdução curta (menos de 150 páginas) e muito clara ao modelo de negócio das plataformas.
Srnicek explica como empresas como Google, Facebook, Uber e Amazon extraem valor dos dados e das
interações dos usuários. Leitura essencial e rápida.
Nível Intermediário
Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future
at the New Frontier of Power.
A obra fundamental sobre o capitalismo de vigilância. Zuboff cunha o termo "excedente
comportamental" e analisa como a Google e o Facebook criaram um novo tipo de capitalismo baseado
na extração e mercantilização da experiência humana. É longa (mais de 700 páginas), mas os
primeiros capítulos são essenciais.
Nível Avançado
O'Neil, C. (2016). Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality
and Threatens Democracy.
Uma análise crítica de como algoritmos opacos perpetuam desigualdades em educação, justiça,
crédito e emprego. O'Neil mostra como modelos matemáticos aparentemente neutros incorporam e
amplificam vieses sociais existentes.
Noble, S. U. (2018). Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce
Racism.
Uma investigação fundamental sobre como os algoritmos de busca reforçam estereótipos raciais e
sexuais. Noble demonstra que a tecnologia não é neutra — ela reflete e amplifica os preconceitos
de seus criadores e da sociedade.
Pasquale, F. (2015). The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money
and Information.
Uma análise jurídica e social de como algoritmos opacos governam aspectos críticos de nossas
vidas (crédito, emprego, saúde) sem transparência ou accountability. Pasquale argumenta pela
necessidade de regulação e abertura.
Crawford, K. (2021). Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of
Artificial Intelligence.
Uma análise materialista da IA que revela seus custos ocultos: mineração de terras raras,
exploração de trabalho precário, pegada de carbono de data centers. Crawford desmonta o mito da
IA como "inteligência artificial" e mostra que é infraestrutura material e social.
Teoria Crítica da Tecnologia
Nível Intermediário
Morozov, E. (2013). To Save Everything, Click Here: The Folly of Technological
Solutionism.
Uma crítica devastadora ao "solucionismo tecnológico" — a crença de que toda problema social tem
uma solução tecnológica. Morozov argumenta que essa mentalidade despolitiza questões complexas e
fortalece corporações de tecnologia. Essencial para entender os limites da tecnologia como
ferramenta de mudança social.
Fisher, M. (2009). Capitalist Realism: Is There No Alternative?.
Um pequeno livro poderoso que analisa como o capitalismo se naturalizou a ponto de se tornar
impossível imaginar alternativas. Fisher conecta neoliberalismo, cultura popular, saúde mental e
a crise de imaginação política. Influente para entender a captura cultural do capitalismo
digital.
Nível Avançado
Bratton, B. H. (2015). The Stack: On Software and Sovereignty.
Uma teoria ambiciosa e complexa da infraestrutura computacional como uma nova forma de soberania
geopolítica. Bratton propõe o conceito do "stack" (pilha) — camadas de infraestrutura digital
(da terra aos aplicativos) que constituem uma nova ordem política global. Denso, mas
fundamental.
Tiqqun. (2001). The Cybernetic Hypothesis.
Um ensaio filosófico radical que interpreta a cibernética como um projeto político de governo
total da sociedade. Tiqqun argumenta que a cibernética não é apenas uma ciência, mas uma forma
de poder que busca eliminar qualquer excesso, imprevisibilidade ou resistência. Influente no
pensamento pós-situacionista.
Pós-Capitalismo e Futuros Alternativos
Nível Intermediário
Mason, P. (2015). PostCapitalism: A Guide to Our Future.
Uma visão otimista sobre como a tecnologia digital — especialmente a informação como bem não
rival — está corroendo as bases do capitalismo. Mason argumenta que redes colaborativas, commons
digitais e produção peer-to-peer estão criando as condições para uma transição pós-capitalista.
Polêmico, mas estimulante.
Nível Avançado
Wark, M. (2019). Capital is Dead: Is This Something Worse?.
Wark argumenta provocativamente que o capitalismo como conhecíamos já morreu, substituído por
algo pior: o "vetorialismo" — um modo de produção onde quem controla os vetores de informação
(plataformas, algoritmos, dados) domina economicamente. Uma atualização radical da crítica
marxista para a era digital.
Dean, J. (2009). Democracy and Other Neoliberal Fantasies: Communicative Capitalism
and Left Politics.
Dean analisa como o "capitalismo comunicativo" — a proliferação de comunicação digital —
paradoxalmente enfraquece a política democrática. Quanto mais falamos online, menos efetiva é a
ação política. Uma crítica importante à utopia digital.
Teoria da Dependência e Economia Política
Nível Iniciante
Furtado, C. (1959). Formação Econômica do Brasil.
Um clássico absoluto e surpreendentemente acessível para entender a história da dependência
brasileira. Furtado analisa como a estrutura colonial, a escravidão e a inserção subordinada no
mercado mundial moldaram o subdesenvolvimento brasileiro.
Nível Intermediário
Cardoso, F. H., & Faletto, E. (1969). Dependência e Desenvolvimento na América
Latina.
Uma das obras fundadoras da Teoria da Dependência. Cardoso e Faletto argumentam que o
subdesenvolvimento não é uma etapa, mas uma condição estrutural produzida pela forma como a
América Latina foi integrada ao capitalismo mundial.
Marxismo e Tecnologia
Nível Intermediário
Marcuse, H. (1964). One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced
Industrial Society.
O clássico de Marcuse sobre a sociedade tecnológica. Ele argumenta que a sociedade industrial
avançada cria "falsas necessidades" que integram os indivíduos ao sistema, suprimindo o
pensamento crítico e a capacidade de imaginar alternativas.
Marx, K. (1867). O Capital, Livro I, Capítulo VI (Inédito).
Este capítulo, não publicado na edição original, é a fonte principal para o conceito de
subsunção formal e real. Marx analisa como o capital primeiro subordina processos de trabalho
existentes (subsunção formal) e depois os revoluciona através da tecnologia (subsunção real).
Nível Avançado
Marx, K. (1857). Grundrisse (Manuscritos Econômicos de 1857-1858).
Especificamente o "Fragmento sobre as Máquinas", para uma leitura direta sobre o general
intellect. Marx especula sobre um futuro onde o conhecimento social se torna a
principal força produtiva, tornando a medida do valor pelo tempo de trabalho obsoleta.
Horkheimer, M., & Adorno, T. W. (1947). Dialectic of Enlightenment.
Uma obra difícil, mas fundamental para entender a crítica à razão instrumental. Horkheimer e
Adorno argumentam que o projeto iluminista de emancipação pela razão se transformou em um novo
tipo de dominação, onde a razão se torna um mero instrumento de controle.
Pós-Operaísmo e Trabalho Imaterial
Nível Intermediário
Lazzarato, M. (2006). As Revoluções do Capitalismo.
Uma excelente introdução às ideias de Lazzarato sobre trabalho imaterial e pós-fordismo. Ele
analisa como o trabalho cognitivo e afetivo se tornam centrais no capitalismo contemporâneo e
como isso transforma as formas de exploração e resistência.
Hardt, M., & Negri, A. (2004). Multitude: War and Democracy in the Age of
Empire.
A sequência de Império, onde os autores desenvolvem o conceito de multidão como sujeito
político. A multidão é uma multiplicidade de singularidades que cooperam sem se fundir em uma
unidade, como o "povo".
Nível Avançado
Hardt, M., & Negri, A. (2000). Empire.
A obra que define o diagnóstico da nova soberania global. Hardt e Negri argumentam que o poder
não é mais centrado em Estados-nação, mas em uma rede descentralizada que chamam de "Império". É
densa, mas a introdução e o primeiro capítulo são essenciais.
Crítica do Valor (Wertkritik)
Nível Intermediário
Kurz, R. (2004). O Colapso da Modernização: Da derrocada do socialismo de caserna à
crise da economia mundial.
Coletânea de artigos que apresenta as teses centrais de Kurz de forma relativamente acessível.
Ele argumenta que o capitalismo está em crise terminal, incapaz de integrar a maioria da
humanidade ao processo de valorização.
Nível Avançado
Postone, M. (1993). Time, Labor, and Social Domination: A Reinterpretation of Marx's
Critical Theory.
Uma obra monumental e difícil, que refunda a teoria crítica de Marx a partir da categoria do
tempo. Postone argumenta que a dominação no capitalismo não é primariamente a exploração de uma
classe por outra, mas a dominação abstrata do tempo de trabalho socialmente necessário sobre
todos.
Planejamento Cibernético e Socialismo
Nível Intermediário
Cockshott, P., & Cottrell, A. (1993). Towards a New Socialism.
O trabalho clássico que revive a ideia de planejamento socialista na era dos computadores.
Cockshott e Cottrell usam argumentos da teoria da complexidade computacional para mostrar que o
cálculo econômico em uma economia planejada é tecnicamente viável.
Peters, B. (2016). How Not to Network a Nation: The Uneasy History of the Soviet
Internet.
O livro mais completo e acessível sobre a história do OGAS e de outras tentativas soviéticas de
criar redes de computadores. Peters mostra como a burocracia bloqueou a inovação tecnológica que
ameaçava seu poder.
Medina, E. (2011). Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's
Chile.
A obra definitiva e essencial sobre o Projeto Cybersyn. Medina combina história da tecnologia
com análise política para contar a fascinante história da tentativa de usar a cibernética para
democratizar a gestão econômica no Chile de Allende.
Nível Avançado
Beer, S. (1972). Brain of the Firm.
O livro que inspirou Fernando Flores e o Projeto Cybersyn. Beer apresenta o Modelo do Sistema
Viável (VSM), baseado no sistema nervoso humano, como uma alternativa ao modelo hierárquico
tradicional de gestão. É uma leitura densa, mas fundamental para entender a teoria por trás do
Cybersyn.
Ciberfeminismo e Estudos de Gênero
Nível Intermediário
Haraway, D. (1991). "A Cyborg Manifesto" em Simians, Cyborgs, and Women: The
Reinvention of Nature.
O texto fundador do ciberfeminismo. Haraway propõe a figura do ciborgue como um mito político
para uma política feminista que rejeita as dicotomias tradicionais e abraça a hibridez.
Nível Avançado
Wajcman, J. (2004). TechnoFeminism.
Uma atualização e, por vezes, uma crítica às primeiras vertentes do ciberfeminismo. Wajcman
analisa como o gênero molda a tecnologia e como a tecnologia molda as relações de gênero.
Necropolítica e Fascismo Digital
Nível Intermediário
Mbembe, A. (2018). Necropolítica.
O livro fundamental que introduz o conceito de necropolítica: o poder de ditar quem pode viver e
quem deve morrer. Mbembe estende a análise foucaultiana do biopoder para pensar o colonialismo,
a escravidão e a violência racial.
Alexander, M. (2010). The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of
Colorblindness.
Um livro fundamental que argumenta que a Guerra às Drogas criou um novo sistema de casta racial
nos EUA, com o encarceramento em massa funcionando como uma forma de controle social da
população negra.
Nível Avançado
Nagle, A. (2017). Kill All Normies: Online Culture Wars from 4chan and Tumblr to
Trump and the Alt-Right.
Um livro essencial para entender a estética e a cultura da extrema-direita online. Nagle analisa
como memes, ironia e transgressão se tornaram armas políticas.
Eubanks, V. (2018). Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and
Punish the Poor.
Uma análise crítica de como os algoritmos e a análise de dados estão sendo usados para gerenciar
e punir os pobres, criando um sistema de vigilância e controle que Eubanks chama de "casa de
trabalho digital".
Dyer-Witheford, N. (1999). Cyber-Marx: Cycles and Circuits of Struggle in
High-Technology Capitalism.
Uma das primeiras e mais importantes sínteses entre marxismo e análise do capitalismo digital.
Dyer-Witheford aplica categorias marxistas (composição de classe, luta, subsunção) à era das
redes, antecipando debates sobre trabalho imaterial e comum digital. Essencial para qualquer
marxismo digital sério.
Dyer-Witheford, N., Kjøsen, A. M., & Steinhoff, J. (2019). Inhuman Power: Artificial
Intelligence and the Future of Capitalism.
Uma análise marxista da inteligência artificial que mapeia três cenários possíveis: o capital
triunfante usando IA para intensificar exploração, o colapso ecológico e social, ou um
comunismo pós-escassez. Dyer-Witheford et al. conectam IA com crise climática, guerra e
automação do trabalho.
Cooperativismo de Plataforma e Alternativas
Nível Intermediário
Scholz, T. (2016). Platform Cooperativism: Challenging the Corporate Sharing
Economy.
O manifesto que lançou o movimento do cooperativismo de plataforma. Scholz propõe que as
plataformas digitais sejam propriedade e geridas democraticamente por seus trabalhadores e
usuários, em vez de serem controladas por capitalistas de risco.
Nível Avançado
Vários Autores. (2022). The ABC of Digital Socialist Planning.
Uma coletânea de ensaios que exploram em detalhes como um planejamento econômico socialista
poderia funcionar na era digital, usando ferramentas como inteligência artificial, blockchain e
sistemas de feedback em tempo real.
Trabalho e Precarização no Brasil
Nível Intermediário
Abílio, L. (2020). Uberização: A nova onda de precarização do
trabalho.
Um livro curto e acessível sobre o impacto das plataformas no trabalho no Brasil. Abílio analisa
como a "uberização" transforma trabalhadores em "empreendedores de si mesmos", transferindo
todos os riscos para eles.
Nível Avançado
Souza, J., Avelino, R., & Silveira, S. A. da. (2023). "Artificial intelligence:
dependency, coloniality and technological subordination in Brazil." In: Handbook of
Research on Regulating AI and Big Data in the Global South.
O artigo acadêmico que serve de base para a análise do Capítulo 21. Os autores argumentam que o
Brasil está inserido de forma subordinada na economia digital global, funcionando como
fornecedor de dados brutos e mão de obra precarizada.
Geopolítica Digital
Nível Intermediário
Farrell, H., & Newman, A. L. (2019). Of Privacy and Power: The Transatlantic Struggle
over Freedom and Security.
Um livro excelente sobre como a infraestrutura de rede se tornou uma fonte de poder geopolítico.
Farrell e Newman analisam como os EUA usam o controle sobre sistemas como o SWIFT e os cabos
submarinos para exercer poder sobre outros países.
Nível Avançado
De Goede, M., & Westermeier, C. (2022). "Infrastructural geopolitics." International
Studies Quarterly.
O artigo acadêmico que ajuda a fundamentar a análise da geopolítica infraestrutural. Os autores
argumentam que o poder no século XXI não se baseia apenas em territórios, mas no controle de
infraestruturas críticas como redes de pagamento e cabos de internet.
Outros Temas
Engenharia do Vício e Jogos
Schüll, N. D. (2012). Addiction by Design: Machine Gambling in Las
Vegas.
Uma etnografia fascinante que mostra como as máquinas caça-níqueis são projetadas para manter os
jogadores em um estado de transe compulsivo. As lições se aplicam diretamente aos jogos digitais
e às redes sociais.
Esportes e Datificação
Lewis, M. (2003). Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game.
O livro clássico que popularizou a revolução da análise de dados no esporte. Lewis conta a
história de como o Oakland Athletics usou estatísticas para competir com times muito mais ricos.
D.9 Feminismos Cibernéticos
Obras Fundamentais
- Federici, Silvia. *Calibã e a Bruxa: Mulheres, Corpo e Acumulação Primitiva*. São Paulo:
Elefante, 2017 [2004].
- Federici, Silvia. *O Ponto Zero da Revolução: Trabalho Doméstico, Reprodução e Luta
Feminista*. São Paulo: Elefante, 2019 [2012].
- Haraway, Donna. *Manifesto Ciborgue: Ciência, Tecnologia e Feminismo-Socialista no Final do
Século XX*. In: *Antropologia do Ciborgue*. Belo Horizonte: Autêntica, 2009 [1985].
- Plant, Sadie. *Zeros + Ones: Digital Women and the New Technoculture*. London: Fourth
Estate, 1997.
- Hester, Helen. *Xenofeminism*. Cambridge: Polity, 2018.
- Russell, Legacy. *Glitch Feminism: A Manifesto*. London: Verso, 2020.
Obras Complementares
- Arruza, Cinzia; Bhattacharya, Tithi; Fraser, Nancy. *Feminismo para os 99%: Um Manifesto*.
São Paulo: Boitempo, 2019.
- Weeks, Kathi. *The Problem with Work: Feminism, Marxism, Antiwork Politics, and Postwork
Imaginaries*. Durham: Duke University Press, 2011.
- Lewis, Sophie. *Full Surrogacy Now: Feminism Against Family*. London: Verso, 2019.
- Firestone, Shulamith. *A Dialética do Sexo*. Rio de Janeiro: Editorial Labor do Brasil, 1976
[1970].
Contexto Brasileiro
- Gonzalez, Lélia. *Por um Feminismo Afro-Latino-Americano*. Rio de Janeiro: Zahar, 2020.
- Carneiro, Sueli. *Escritos de uma Vida*. São Paulo: Pólen, 2019.
D.10 Ecologia Digital
Obras Fundamentais
- Crawford, Kate. *Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial
Intelligence*. New Haven: Yale University Press, 2021.
- Parikka, Jussi. *A Geology of Media*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2015.
- Mattern, Shannon. *A City Is Not a Computer: Other Urban Intelligences*. Princeton:
Princeton University Press, 2021.
- Gabrys, Jennifer. *Program Earth: Environmental Sensing Technology and the Making of a
Computational Planet*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2016.
Obras Complementares
- Cubitt, Sean. *Finite Media: Environmental Implications of Digital Technologies*. Durham:
Duke University Press, 2017.
- Starosielski, Nicole. *The Undersea Network*. Durham: Duke University Press, 2015.
- Parks, Lisa; Starosielski, Nicole (eds.). *Signal Traffic: Critical Studies of Media
Infrastructures*. Urbana: University of Illinois Press, 2015.
- Hogan, Mél. *"Data Flows and Water Woes: The Utah Data Center"*. Big Data & Society, 2015.
Relatórios e Dados
- Anistia Internacional. *"This Is What We Die For": Human Rights Abuses in the Democratic
Republic of the Congo Power the Global Trade in Cobalt*. 2016.
- Greenpeace. *Clicking Clean: Who Is Winning the Race to Build a Green Internet?* 2017.
D.11 Neurodiversidade e Deficiência
Obras Fundamentais
- Walker, Nick. *Neurodiversity: Some Basic Terms & Definitions*. Neurocosmopolitanism, 2014.
[Ensaio disponível online]
- Kafer, Alison. *Feminist, Queer, Crip*. Bloomington: Indiana University Press, 2013.
- Hamraie, Aimi. *Building Access: Universal Design and the Politics of Disability*.
Minneapolis: University of Minnesota Press, 2017.
- Brown, Lydia X.Z.; Ashkenazy, E.; Morénike Giwa Onaiwu (eds.). *All the Weight of Our
Dreams: On Living Racialized Autism*. Lincoln: DragonBee Press, 2017.
Obras Complementares
- Sinclair, Jim. *"Don't Mourn for Us"*. Autism Network International Newsletter, 1993.
[Ensaio seminal]
- Yergeau, Melanie. *Authoring Autism: On Rhetoric and Neurological Queerness*. Durham: Duke
University Press, 2018.
- Mingus, Mia. *"Access Intimacy: The Missing Link"*. Leaving Evidence (blog), 2011.
- Schalk, Sami. *Bodyminds Reimagined: (Dis)ability, Race, and Gender in Black Women's
Speculative Fiction*. Durham: Duke University Press, 2018.
Recursos Brasileiros
- Lei Brasileira de Inclusão (LBI) - Lei 13.146/2015.
- W3C Brasil. *Cartilha de Acessibilidade na Web*. Disponível online.
D.12 Cosmotécnicas Não-Chinesas
Índia
- Vatsyayan, Kapila. *"Ecology and Indian Myth"*. In: *India International Centre Quarterly*,
1992.
- Shiva, Vandana. *Monoculturas da Mente: Perspectivas da Biodiversidade e da Biotecnologia*.
São Paulo: Gaia, 2003.
Japão
- Nishida, Kitarō. *An Inquiry into the Good*. New Haven: Yale University Press, 1990 [1911].
- Koren, Leonard. *Wabi-Sabi: for Artists, Designers, Poets & Philosophers*. Berkeley: Stone
Bridge Press, 1994.
Coreia
- Kim, Yung Sik. *The Natural Philosophy of Chu Hsi (1130-1200)*. Philadelphia: American
Philosophical Society, 2000.
Sudeste Asiático
- Heryanto, Ariel. *Identity and Pleasure: The Politics of Indonesian Screen Culture*.
Singapore: NUS Press, 2014.
Apêndice E
Recursos para Ação
Este apêndice oferece um guia prático de organizações, ferramentas,
plataformas e movimentos sociais que trabalham por uma tecnologia mais justa, democrática e
emancipatória. Os recursos estão organizados por tema e incluem links, descrições e formas de
engajamento.
⚡
O Loop se Fecha na
Prática: Teoria → Ação
33 capítulos de teoria. Agora, o momento da práxis. Este
apêndice é onde pensamento se torna ação.
Você leu sobre capitalismo de vigilância (Cap 3), uberização (Cap 8),
cooperativismo de plataforma (Cap 23). Mas ler ≠
agir. Este apêndice oferece URLs, organizações, ferramentas — coisas que você pode
usar HOJE.
🔄 Loop Praxeológico (teoria↔prática): Leia Cap 24 (Políticas para
Antropoceno Digital) → Consulte Ap. E → Descubra que CoopCycle, Fairbnb, Mastodon já existem
→ Use-os → Relate experiência em comunidades → Teoria deixa de ser abstração, vira vivência
→ Próxima leitura de Cap 24 será diferente (não mais "utopia", mas "realidade parcial em
expansão").
Como este apêndice fecha o loop do livro inteiro:
- Cap 1 (Marx): Crítica ao capital → Ap. E: Cooperativas
que eliminam proprietários = operacionalização de "abolição da propriedade privada dos
meios de produção"
- Cap 2 (Cibernética): Feedback homeostático → Ap. E:
Mastodon/Fediverse = redes descentralizadas com feedback horizontal, não vertical
- Cap 6 (2ª ordem): Observador incluso no sistema → Ap.
E: Software livre (você vê código = observa) ≠ Big Tech (caixa-preta =
observador excluído)
- Cap 18 (Cybersyn): Sonho de planejamento democrático → Ap.
E: Decidim, Loomio = ferramentas de decisão coletiva HOJE disponíveis
- Cap 26-28 (Cosmotécnicas): Ubuntu, Nhandereko → Ap. E:
Recursos sobre tecnologias indígenas, comunidades de prática decolonial
Níveis de engajamento (escolha o seu):
- Consumo consciente (fácil): Troque Uber→CoopCycle, Airbnb→Fairbnb,
Twitter→Mastodon. Ação individual, impacto limitado, mas começo
- Ativismo digital (médio): Doe para EFF, participe de campanhas por
regulação, assine manifestos
- Organização coletiva (difícil): Ajude a criar cooperativa na sua
cidade, contribua com software livre, organize sindicato de trabalhadores de plataforma
- Pesquisa-ação (avançado): Use conhecimento deste livro para
pesquisar/documentar alternativas digitais na sua região, publique resultados,
compartilhe aprendizados
💡
Aviso sobre purismo: Não espere condições perfeitas para agir. CoopCycle
ainda usa smartphones capitalistas. Mastodon roda em servidores da AWS. Contradição ≠
fracasso — é realidade da transição. Vivemos em capitalismo; alternativas crescem
dentro/contra/além dele. Purismo paralisa. Práxis imperfeita transforma.
🌐 Cooperativas de Plataforma e Alternativas Digitais
Decidim
Website: decidim.org
O que é: Plataforma de democracia participativa de código aberto, desenvolvida
originalmente em Barcelona. Permite assembleias digitais, propostas colaborativas, orçamento
participativo e tomada de decisão coletiva. Inspirada pelos princípios do Cybersyn chileno —
distribuir informação para descentralizar poder. Usada por governos (Barcelona, Cidade do
México,
Helsinki), movimentos sociais e organizações.
Como se envolver: Se você faz parte de uma organização ou movimento social,
pode
instalar e adaptar Decidim para suas necessidades. É software livre, então não depende de
empresas. Há comunidade ativa no Brasil implementando instâncias para conselhos populares e
orçamentos participativos.
Loomio
Website: loomio.org
O que é: Cooperativa neozelandesa que oferece plataforma para tomada de
decisões
em grupo. Funciona como "democracia líquida" — membros propõem, debatem e votam sobre questões.
Usada por sindicatos, cooperativas, partidos políticos e ONGs para coordenação horizontal sem
estruturas verticais. Inspirada pela cibernética de 2ª ordem: observadores participam do sistema
que observam.
Como se envolver: Crie um grupo gratuito para sua organização. Loomio oferece
planos gratuitos para movimentos sociais e organizações sem fins lucrativos. É também software
livre — você pode hospedar sua própria instância.
CoopCycle
Website: coopcycle.org
O que é: Uma federação de cooperativas de entrega de alimentos que usa software
livre e de código aberto. Ao contrário do Uber Eats ou iFood, os entregadores são donos da
plataforma e tomam decisões democraticamente.
Como se envolver: Se você está em uma cidade onde há uma cooperativa CoopCycle,
use o serviço. Se não há, você pode ajudar a criar uma usando o software livre disponível no
site.
Fairbnb
Website: fairbnb.coop
O que é: Uma alternativa cooperativa ao Airbnb. Metade das taxas cobradas é
destinada a projetos sociais nas comunidades locais. A plataforma é gerida democraticamente por
seus membros.
Como se envolver: Use a plataforma para hospedagem quando viajar. Se você tem
um espaço para alugar, considere listar na Fairbnb em vez do Airbnb.
Platform Cooperativism Consortium
Website: platform.coop
O que é: Uma rede internacional de pesquisadores, ativistas e cooperativistas
trabalhando para promover o cooperativismo de plataforma. Oferece recursos educacionais, estudos
de caso e conexões com cooperativas ao redor do mundo.
Como se envolver: Explore o site para aprender sobre cooperativas existentes.
Participe de conferências e webinars. Se você está pensando em criar uma cooperativa, há guias
práticos disponíveis.
Mastodon
Website: joinmastodon.org
O que é: Uma rede social descentralizada e de código aberto, sem algoritmos de
recomendação, sem anúncios e sem um dono corporativo. Funciona como uma federação de servidores
independentes que se comunicam entre si.
Como se envolver: Crie uma conta em uma instância (servidor) que se alinhe com
seus valores. Experimente uma forma diferente de rede social, sem a vigilância e a manipulação
das Big Techs.
📊 Pesquisa e Transparência sobre Trabalho em Plataformas
Fairwork Foundation
Website: fair.work
O que é: Organização internacional de pesquisa sediada em Oxford que avalia e
classifica as condições de trabalho em plataformas digitais. Publica relatórios anuais sobre
Uber, iFood, Rappi e outras.
Como se envolver: Leia os relatórios para entender as condições de trabalho nas
plataformas que você usa. Compartilhe as informações. Se você é trabalhador de plataforma, pode
contribuir com sua experiência para as pesquisas.
Observatório da Uberização do Trabalho (Brasil)
Website: Busque em redes acadêmicas e sociais
O que é: Grupo de pesquisa brasileiro que estuda a precarização do trabalho na
economia de plataforma, com foco no contexto brasileiro.
Como se envolver: Acompanhe as publicações e eventos. Se você é pesquisador ou
estudante, considere colaborar.
🛡️ Privacidade, Segurança Digital e Direitos Digitais
Electronic Frontier Foundation (EFF)
Website: eff.org
O que é: Organização sem fins lucrativos que defende as liberdades civis no
mundo digital. Luta contra a vigilância em massa, pela privacidade e pela liberdade de expressão
online.
Como se envolver: Use as ferramentas e guias de segurança digital disponíveis
no site. Apoie financeiramente. Participe de campanhas por legislação que proteja direitos
digitais.
Tor Project
Website: torproject.org
O que é: Projeto que desenvolve o navegador Tor, que permite navegar na
internet de forma anônima, protegendo contra vigilância e censura.
Como se envolver: Use o navegador Tor para proteger sua privacidade. Se você
tem conhecimento técnico, pode contribuir rodando um nó da rede Tor.
InternetLab (Brasil)
Website: internetlab.org.br
O que é: Centro de pesquisa brasileiro que estuda direito e tecnologia, com
foco em privacidade, liberdade de expressão, governança da internet e regulação de
plataformas.
Como se envolver: Leia as pesquisas e relatórios. Participe de eventos e
debates públicos. Apoie o trabalho da organização.
Coding Rights (Brasil)
Website: codingrights.org
O que é: Organização feminista brasileira que trabalha na intersecção entre
tecnologia, direitos humanos e justiça social. Desenvolve pesquisas, ferramentas e campanhas
sobre vigilância, gênero e tecnologia.
Como se envolver: Acompanhe as campanhas e projetos. Use as ferramentas
educacionais. Participe de oficinas e eventos.
🌱 Ecossocialismo Digital e Tecnologia Sustentável
Fairphone
Website: fairphone.com
O que é: Empresa social que produz smartphones éticos e sustentáveis, com foco
em mineração responsável, condições justas de trabalho e design modular que facilita o
reparo.
Como se envolver: Considere comprar um Fairphone quando for trocar de celular.
Pressione outras empresas a adotarem práticas similares.
Right to Repair Movement
Website: repair.org
O que é: Movimento global que luta pelo direito de consertar nossos próprios
dispositivos eletrônicos, contra a obsolescência programada e pelo acesso a peças e manuais de
reparo.
Como se envolver: Apoie legislação que garanta o direito ao reparo. Conserte
seus dispositivos em vez de descartá-los. Aprenda sobre reparo em comunidades como iFixit.
Extinction Rebellion (XR)
Website: rebellion.global
O que é: Movimento internacional de desobediência civil não-violenta que exige
ação urgente contra a crise climática e ecológica.
Como se envolver: Participe de ações locais. Conecte a luta climática com a
crítica ao capitalismo digital e ao consumismo tecnológico.
💪 Organização de Trabalhadores de Plataforma
Associação de Entregadores Antifascistas (AEDA - Brasil)
Redes Sociais: Busque no Instagram e Twitter
O que é: Coletivo de entregadores de aplicativo que se organiza para lutar por
melhores condições de trabalho e contra o fascismo.
Como se envolver: Se você é entregador, participe das assembleias e ações. Se
não é, apoie as greves e manifestações. Dê gorjeta em dinheiro diretamente ao entregador.
Gig Workers Rising (EUA)
Website: gigworkersrising.org
O que é: Organização de trabalhadores de plataforma na Califórnia que luta por
direitos trabalhistas, salários justos e fim da classificação como "contratantes
independentes".
Como se envolver: Aprenda com suas táticas e estratégias. Compartilhe suas
vitórias e derrotas para inspirar a organização no Brasil.
International Alliance of App-based Transport Workers (IAATW)
Website: Busque em redes sindicais internacionais
O que é: Aliança internacional de motoristas de aplicativo que coordena ações
globais contra empresas como Uber e Bolt.
Como se envolver: Conecte trabalhadores locais com a rede internacional.
Organize ações coordenadas globalmente.
📚 Educação Popular e Formação Política
Escola Nacional Florestan Fernandes (MST - Brasil)
Website: enfmst.org.br
O que é: Escola de formação política do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST), que oferece cursos sobre marxismo, agroecologia, comunicação e organização
popular.
Como se envolver: Participe de cursos abertos. Apoie financeiramente. Conecte a
luta pela reforma agrária com a luta por soberania tecnológica.
Instituto Tricontinental de Pesquisa Social
Website: thetricontinental.org
O que é: Instituto de pesquisa marxista com foco no Sul Global. Publica
dossiês, análises e cadernos sobre imperialismo, dependência, movimentos sociais e alternativas
ao capitalismo.
Como se envolver: Leia as publicações. Use os materiais em processos de
formação política. Contribua com pesquisas e análises.
🎨 Arte, Cultura e Afrofuturismo
Afrofuturism Resources
Website: Busque em plataformas culturais e acadêmicas
O que é: Coletivos, artistas e pesquisadores que trabalham com afrofuturismo,
explorando a intersecção entre diáspora africana, tecnologia e ficção científica.
Como se envolver: Consuma e apoie arte afrofuturista (música, literatura,
cinema). Participe de eventos e festivais. Use a estética afrofuturista para imaginar futuros de
libertação.
Mídia NINJA (Brasil)
Website: midianinja.org
O que é: Coletivo de mídia independente que cobre manifestações, movimentos
sociais e política brasileira de uma perspectiva de esquerda, usando ferramentas digitais de
forma criativa.
Como se envolver: Acompanhe a cobertura. Compartilhe conteúdos. Se você tem
habilidades em comunicação, considere se voluntariar.
� Commons Digitais e Conhecimento Livre
Wikipedia / Wikimedia
Website: wikipedia.org | wikimedia.org
O que é: A maior enciclopédia da história humana, construída colaborativamente
por milhões de voluntários sem planejamento central ou incentivos monetários. Demonstração
prática
de que produção social peer-to-peer pode superar produção capitalista quando estruturas
institucionais corretas (licença livre CC-BY-SA, governança participativa) estão presentes.
Representa tentativa de manter o General Intellect como bem comum, não mercadoria.
Como se envolver: Contribua editando artigos, criando conteúdo ou doando para a
Wikimedia Foundation. Se você tem conhecimento especializado, pode melhorar artigos na sua área.
Participe da comunidade lusófona para expandir conhecimento livre em português.
OpenStreetMap
Website: openstreetmap.org
O que é: Mapa colaborativo do mundo inteiro, construído por comunidade global
de
mapeadores. Alternativa aos mapas proprietários do Google. Crucial para soberania digital —
informação geográfica não pode ser monopolizada por corporações. Usado por ONGs, governos e
aplicativos de mobilidade cooperativos. Dados abertos permitem criar aplicações sem dependência
de
Big Tech.
Como se envolver: Mapeie sua vizinhança, comunidade ou região. Aplicativos como
StreetComplete tornam colaboração fácil. Organize mutirões de mapeamento com movimentos sociais
para visibilizar territórios periféricos que corporações ignoram.
Sci-Hub
Website: sci-hub.se (espelho,
URL muda frequentemente)
O que é: Biblioteca pirata de papers acadêmicos criada pela neurocientista
cazaque
Alexandra Elbakyan. Oferece acesso gratuito a mais de 85 milhões de artigos científicos,
quebrando o paywall das editoras que lucram com trabalho público. Representa desobediência civil
digital contra privatização do conhecimento. Aaron Swartz morreu lutando por esta causa.
Como se envolver: Use para acessar conhecimento que deveria ser público. Cite
em trabalhos acadêmicos para normalizar acesso aberto. Apoie iniciativas de publicação aberta
como
PLOS, arXiv e SciELO. Lute por acesso aberto obrigatório em pesquisas financiadas com dinheiro
público.
PLOS (Public Library of Science)
Website: plos.org
O que é: Editora acadêmica sem fins lucrativos que publica periódicos de acesso
aberto em ciências e medicina. Alternativa ao modelo predatório das editoras comerciais
(Elsevier,
Springer, Wiley) que cobram caríssimo para acessar pesquisas financiadas com dinheiro
público.
Como se envolver: Publique em periódicos de acesso aberto sempre que possível.
Pressione sua instituição para financiar assinaturas coletivas. Apoie políticas de acesso aberto
obrigatório.
Library Genesis (LibGen)
Website: libgen.is (espelho, URL
muda frequentemente)
O que é: Biblioteca pirata de livros acadêmicos e técnicos. Mais de 3 milhões
de
títulos disponíveis gratuitamente. Como o Sci-Hub, representa resistência contra a privatização
do
conhecimento. Essencial para pesquisadores do Sul Global que não têm acesso a bibliotecas ricas
do
Norte.
Como se envolver: Use quando precisar de livros caros. Compartilhe livros que
você possui. Apoie editoras universitárias que publicam com Creative Commons. Lute pela reforma
do
copyright para permitir acesso ao conhecimento.
�🔧 Ferramentas de Software Livre e Código Aberto
Linux e Distribuições Livres
Website: linux.org
O que é: Sistema operacional livre e de código aberto, alternativa ao Windows e
macOS. Existem diversas distribuições (Ubuntu, Fedora, Debian, etc.) para diferentes
necessidades.
Como se envolver: Experimente usar Linux no seu computador. Aprenda sobre
software livre e compartilhe conhecimento.
LibreOffice
Website: libreoffice.org
O que é: Suíte de escritório livre e gratuita, alternativa ao Microsoft
Office.
Como se envolver: Use no lugar do Office. Contribua com traduções ou
desenvolvimento se tiver habilidades técnicas.
Signal
Website: signal.org
O que é: Aplicativo de mensagens com criptografia de ponta a ponta, sem coleta
de metadados, sem anúncios e sem fins lucrativos.
Como se envolver: Use Signal em vez de WhatsApp para comunicações sensíveis.
Convença amigos e companheiros de militância a migrar.
🏛️ Advocacy e Regulação
Access Now
Website: accessnow.org
O que é: Organização internacional que defende e estende os direitos digitais
de usuários em risco ao redor do mundo.
Como se envolver: Apoie campanhas por legislação progressista. Participe de
consultas públicas sobre regulação de tecnologia.
Idec - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
Website: idec.org.br
O que é: Organização brasileira que defende os direitos dos consumidores,
incluindo questões de privacidade, proteção de dados e práticas abusivas de plataformas.
Como se envolver: Denuncie práticas abusivas. Participe de ações coletivas.
Apoie campanhas por regulação.
🌐 Infraestrutura e Redes Comunitárias
Guifi.net (Catalunha)
Website: guifi.net
O que é: A maior rede comunitária mesh do mundo, com mais de 37 mil nós na
Catalunha. Construída e gerida cooperativamente por cidadãos, sem depender de telecom privadas.
Demonstra viabilidade de infraestrutura de telecomunicações como bem comum. Modelo para
soberania
digital e autogestão tecnológica.
Como se envolver: Inspire-se no modelo para criar redes comunitárias no Brasil.
Use equipamentos de baixo custo (TP-Link, Ubiquiti) para conectar vizinhos. Organize workshops
sobre mesh networks em favelas, periferias e zonas rurais.
AlterMundi (Argentina)
Website: altermundi.net
O que é: Organização argentina que constrói redes comunitárias em regiões
rurais
abandonadas por telecom privadas. Usa tecnologia livre (LibreRouter) e governança horizontal.
Parte
do movimento global de redes comunitárias que trata internet como direito humano, não
mercadoria.
Como se envolver: Conecte-se com movimentos brasileiros de redes comunitárias.
Traga a experiência argentina para territórios periféricos no Brasil. Lute por regulação que
permita redes comunitárias operarem legalmente.
Rede Comum (Brasil - Rio de Janeiro)
Redes Sociais: Busque no Facebook e Instagram
O que é: Rede comunitária mesh que conecta favelas cariocas (Complexo da Maré)
usando equipamento de baixo custo e gestão horizontal. Alternativa ao oligopólio das telecom
(Claro, Vivo, Oi) que cobram caro e oferecem serviço precário. Internet como direito, não
privilégio.
Como se envolver: Se você mora em comunidade sem acesso à internet de
qualidade,
organize vizinhos para construir rede comunitária. Busque apoio técnico de coletivos de
tecnologia
livre. Lute por políticas públicas que financiem infraestrutura comunitária.
Community Networks (Recursos Gerais)
Website: apc.org/community-networks
O que é: Repositório de recursos sobre redes comunitárias mantido pela
Association for Progressive Communications (APC). Inclui guias técnicos, estudos de caso,
toolkit
legal e conexões com redes comunitárias globalmente.
Como se envolver: Aprenda sobre mesh networks, espectro livre, governança
comunitária. Use os recursos para construir sua própria rede. Conecte-se com rede global de
ativistas de infraestrutura comunitária.
Freifunk (Alemanha)
Website: freifunk.net
O que é: Iniciativa alemã de redes wifi livres e abertas, com centenas de
comunidades locais provendo acesso à internet gratuito e sem vigilância. Modelo descentralizado
e
auto-organizado de infraestrutura digital.
Como se envolver: Inspire-se no modelo alemão. Configure um roteador com
firmware
livre para compartilhar internet com vizinhos. Pressione prefeituras para criarem wifi público e
livre.
💡 Como Usar Este Apêndice
Este não é um catálogo exaustivo, mas um ponto de partida. A luta por uma tecnologia
emancipatória exige:
- Educação: Entender como a tecnologia funciona e quem ela serve.
- Organização: Conectar-se com outros que compartilham os mesmos valores.
- Ação: Usar ferramentas alternativas, apoiar cooperativas, pressionar por
regulação, participar de movimentos sociais.
- Imaginação: Não apenas resistir ao presente, mas construir o futuro que
queremos.
Lembre-se: A tecnologia não é neutra. Ela é um campo de batalha. Cada escolha
que fazemos — que aplicativo usar, que plataforma apoiar, que legislação defender — é um ato
político.
E.6 Feminismos e Tecnologia
Coletivos e Organizações
- Think Olga (Brasil): Coletivo feminista que combate violência digital de gênero. Projetos:
"Chega de Fiu Fiu", "Mapa do Acolhimento". Site: thinkolga.com
- Coding Rights (Brasil): Organização que defende direitos humanos na era digital, com foco em
gênero e raça. Projetos: "Chupadados", "InternetLab". Site: codingrights.org
- Mapa do Acolhimento (Brasil): Rede que conecta mulheres vítimas de violência com psicólogas
e advogadas voluntárias. Site: mapadoacolhimento.org
- Geek Girls LatAm: Rede latino-americana de mulheres em tecnologia. Promove inclusão e
combate machismo no setor tech.
Plataformas Alternativas
- Fairbnb: Alternativa cooperativa ao Airbnb, com parte da receita revertida para comunidades
locais
- Loconomics: Cooperativa de trabalho freelance (similar ao TaskRabbit mas cooperativa)
- Up & Go: Cooperativa de limpeza doméstica em Nova York, propriedade das trabalhadoras
Recursos Legais (Brasil)
- Lei 13.718/2018: Criminaliza divulgação de cenas de sexo/nudez sem consentimento
- Lei Maria da Penha Digital (em tramitação): Amplia proteção contra violência digital
- SaferNet: Canal de denúncia de crimes digitais. Site: new.safernet.org.br
E.7 Tecnologia Sustentável
Projetos de Green Computing
- Green Web Foundation: Mapeia data centers alimentados por energia renovável. Site:
thegreenwebfoundation.org
- Fairphone: Smartphone modular e reparável, com minerais de fontes éticas. Site:
fairphone.com
- Framework Laptop: Laptop totalmente reparável e atualizável. Site: frame.work
- Low-Tech Magazine: Revista sobre tecnologias sustentáveis e de baixo consumo energético.
Site hospedado em servidor solar. Site: lowtechmagazine.com
Direito à Reparação
- iFixit: Plataforma com manuais gratuitos de reparação de eletrônicos. Site: ifixit.com
- Repair Café: Movimento global de cafés comunitários de reparação. Site: repaircafe.org
- Right to Repair Brasil: Movimento brasileiro pelo direito à reparação (em formação)
Servidores Comunitários
- Autistici/Inventati: Coletivo italiano que oferece serviços digitais autônomos e
sustentáveis
- Riseup: Coletivo que oferece email e VPN seguros para ativistas, com servidores alimentados
por energia renovável
Organizações Ambientais
- Greenpeace - Clicking Clean: Relatórios sobre pegada de carbono de empresas tech
- Electronics Watch: Monitora condições de trabalho na cadeia de suprimento de eletrônicos
E.8 Acessibilidade e Inclusão
Ferramentas de Acessibilidade
- NVDA (NonVisual Desktop Access): Leitor de tela gratuito e open source para Windows
- JAWS: Leitor de tela comercial (pago) para Windows
- VoiceOver: Leitor de tela nativo do macOS e iOS
- TalkBack: Leitor de tela nativo do Android
- WAVE: Ferramenta de avaliação de acessibilidade web. Site: wave.webaim.org
Comunidades Neurodivergentes
- Autistic Self Advocacy Network (ASAN): Organização liderada por autistas. Site:
autisticadvocacy.org
- CHADD (Children and Adults with ADHD): Recursos sobre TDAH
- Movimento Orgulho Autista Brasil: Coletivo brasileiro de autistas
Recursos de Universal Design
- W3C Web Accessibility Initiative (WAI): Padrões de acessibilidade web (WCAG). Site:
w3.org/WAI
- A11Y Project: Recursos comunitários sobre acessibilidade. Site: a11yproject.com
- Inclusive Design Principles: Princípios de design inclusivo. Site:
inclusivedesignprinciples.org
Organizações Brasileiras
- Movimento Down: Organização de pessoas com Síndrome de Down
- Instituto Mara Gabrilli: Trabalha por inclusão de pessoas com deficiência
- Talento Incluir: Consultoria em acessibilidade e inclusão
Legislação (Brasil)
- Lei Brasileira de Inclusão (LBI) - Lei 13.146/2015
- Decreto 5.296/2004: Acessibilidade em sites e portais públicos
- WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines): Padrão internacional de acessibilidade web
E.9 Povos Indígenas, Cosmotécnicas e Soberania Territorial
COIAB - Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira
Website: coiab.org.br
O que é: A maior organização indígena da Amazônia brasileira, representando
mais
de 460 mil indígenas de 161 povos em 9 estados. Luta por demarcação de terras, proteção
ambiental
e autodeterminação. Denuncia impactos do extrativismo digital (mineração de terras raras, lítio,
cobalto em territórios indígenas) que alimenta produção de smartphones e data centers.
Como se envolver: Apoie as campanhas de demarcação de terras. Leia os
relatórios
sobre impactos da mineração para tecnologia. Conecte a luta por soberania digital com soberania
territorial indígena — não há tecnologia "verde" sem justiça para povos originários.
ISA - Instituto Socioambiental
Website: socioambiental.org
O que é: Organização brasileira que trabalha com povos indígenas e comunidades
tradicionais na defesa de direitos socioambientais. Produz pesquisas e relatórios sobre
extrativismo mineral (incluindo mineração para produção de eletrônicos), desmatamento e
violações
de direitos indígenas. Documenta custos ocultos da economia digital.
Como se envolver: Leia os relatórios sobre mineração e tecnologia. Apoie
campanhas contra garimpo ilegal. Pressione empresas de tecnologia para transparência sobre
origem
de minerais (lítio, cobalto, terras raras). Exija rastreabilidade ética nas cadeias produtivas.
Rede Povos da Floresta
Redes Sociais: Busque nas principais plataformas
O que é: Articulação de povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas e
extrativistas
que defendem a floresta amazônica. Usam tecnologia (redes sociais, mapas colaborativos, drones)
para documentar desmatamento e defender territórios, mas mantêm epistemologias próprias —
cosmotécnicas que não separam natureza/cultura, humano/não-humano.
Como se envolver: Apoie suas campanhas. Aprenda sobre cosmotécnicas indígenas
(ler Yuk Hui, Ailton Krenak, Davi Kopenawa). Reconheça que tecnologia emancipatória não pode ser
ocidental-universal — deve incluir pluriverso de cosmotécnicas.
Hutukara Associação Yanomami
Website: hutukara.org
O que é: Organização do povo Yanomami que luta contra invasão garimpeira e pela
demarcação da Terra Indígena Yanomami. Davi Kopenawa, líder Yanomami, é autor de "A Queda do
Céu"
— obra fundamental sobre cosmovisão indígena e crítica à civilização industrial (incluindo
tecnologia).
Como se envolver: Apoie a luta contra garimpo ilegal que contamina rios com
mercúrio. Leia "A Queda do Céu" para entender crítica indígena à "mercadoria-fetiche" da
tecnologia. Reconheça que smartphones têm custo humano e ecológico — terras Yanomami são
invadidas
para minerar ouro e minerais que vão para eletrônicos.
Mídia Índia (Brasil)
Website: midiaindia.com
O que é: Plataforma de comunicação indígena que produz conteúdo em línguas
originárias e português, documentando lutas, cultura e cosmovisões indígenas. Exemplo de
apropriação de tecnologia digital mantendo autonomia epistemológica — usam ferramentas do "mundo
dos brancos" mas com lógicas próprias.
Como se envolver: Acompanhe o conteúdo. Apoie financeiramente. Reconheça que
soberania digital inclui direito dos povos indígenas controlarem suas próprias narrativas e
tecnologias de comunicação.
Tecnologias Indígenas (Recursos Gerais)
Leituras: Yuk Hui (*Tecnodiversidade*), Ailton Krenak (*Ideias para Adiar o Fim
do Mundo*), Davi Kopenawa & Bruce Albert (*A Queda do Céu*)
O que é: Reconhecimento de que existem múltiplas cosmotécnicas — formas de
relação com tecnologia — não apenas a ocidental-capitalista. Povos indígenas têm epistemologias
e
práticas tecnológicas próprias que não separam técnica/natureza, sujeito/objeto. Crítica à
"tecnologia universal" como colonialismo epistêmico.
Como se envolver: Leia as obras fundamentais. Questione a ideia de que há "uma"
tecnologia correta. Apoie autonomia tecnológica de povos indígenas. Lute contra extrativismo
mineral para eletrônicos que devasta territórios indígenas.
Apêndice F
Guia de Leituras Complementares por Capítulo
Este guia oferece sugestões de leituras complementares organizadas por
capítulo, permitindo que você aprofunde os temas que mais lhe interessam. As leituras estão
classificadas por nível de dificuldade e incluem uma breve justificativa para cada recomendação.
🔀
O Loop se Personaliza:
Hipertextualidade Operacionalizada
33 capítulos. 3 percursos sugeridos no Cap
0. Mas este guia revela: há infinitos percursos possíveis.
Hipertexto (conceito de Ted Nelson, 1960) = texto
não-linear com múltiplos caminhos de leitura. HTML é hipertexto. Este livro também é — mas
estrutura linear (Cap 1→31) esconde isso. Ap. F torna hipertextualidade
explícita: "Se você gostou de Cap X, leia Y e Z; depois volte para Cap W."
🔄 Loop de Navegação Personalizado: Leia Cap 1 (Marx) → Ap. F sugere Rubin,
Harvey, Postone → Escolha Rubin → Leia → Descubra que Rubin dialoga com Cap 10 (Wertkritik)
→ Releia Cap 10 com novos olhos → Ap. F sugere Kurz → Leia → Volta para Cap 5 (Marx
aprofundado) → Percebe conexões que eram invisíveis. Você não está mais "lendo
livro" — está navegando rede conceitual.
Como este apêndice operacionaliza
hipertextualidade:
- Transversal idade temática: Cap 12 (Ciberfeminismo) → Ap. F sugere
Haraway, Plant, Hester — você mergulha em gênero+tecnologia, depois volta para Cap 13
(Sexualidade) com framework teórico robusto
- Progressão de dificuldade: Cada capítulo tem sugestões
Iniciante/Intermediário/Avançado — você escolhe profundidade. Não é "ler tudo" — é
curadoria pessoal
- Conexões ocultas: Ap. F revela: Cap 2 (Cibernética) conecta com Cap 30
(Dialética) via leitura de Hegel → Bateson. Leitura linear não mostra isso. Guia sim
- Escape da linearidade: Cap 0 diz "leia linearmente
(acadêmico) ou tematicamente (temático)". Ap. F oferece terceira via:
rizomática — siga curiosidade, não estrutura predefinida
Exemplo concreto de percurso hipertextual (usando este
guia):
- Leitor brasileiro interessado em realidade local começa em Cap 21 (Brasil periférico)
- Ap. F sugere: para entender subordinação digital, leia Cap 4 (Dependência) primeiro
- Lê Cap 4 → Ap. F sugere: leia Furtado, Marini, Prebisch (CEPAL)
- Após Furtado, volta para Cap 21 — agora entende inserção subordinada como
continuidade histórica, não anomalia
- Ap. F de Cap 21 sugere: veja Cap 20 (Geopolítica) e Cap 22 (Necropolítica) para
completar quadro
- Lê Caps 20-22 → Ap. F sugere: para entender alternativas, vá para Cap 24 (Políticas)
- Cap 24 → Ap. F sugere: operacionalize com Ap. E (Recursos)
- Resultado: Leitor criou seu próprio percurso (4→21→20→22→24→Ap.E) — não
linear, mas coerente e focado em sua necessidade
💡
Meta-função: Este apêndice destrói ilusão de "uma leitura correta". Há
tantas leituras quanto leitores. Ap. F não prescreve — sugere. Você é curador da
sua própria experiência. Livro se torna jardim de caminhos que se bifurcam
(Borges). Cada escolha cria livro diferente. Isso é cibernética de 2ª ordem aplicada à
leitura: leitor observa-se lendo, ajusta percurso, itera.
Capítulo 0: Como Usar Este Livro
Nível Iniciante
Freire, P. (1970). Pedagogia do Oprimido.
Por quê? Freire oferece uma filosofia da educação libertadora que ressoa com a proposta
pedagógica deste livro: aprender não é acumular informações, mas desenvolver consciência crítica
para transformar o mundo.
Capítulo 1: Introdução ao Marxismo
Nível Iniciante
Huberman, L. (1936). História da Riqueza do Homem.
Por quê? Um clássico que explica a história do capitalismo de forma narrativa e
acessível, ideal para quem nunca estudou economia política.
Harvey, D. (2010). A Companion to Marx's Capital.
Por quê? Harvey, um dos maiores geógrafos marxistas vivos, oferece um guia de leitura
para O Capital que torna o texto de Marx mais acessível.
Nível Intermediário
Marx, K. (1867). O Capital, Livro I (Capítulo 1: A Mercadoria).
Por quê? A fonte original. Denso, mas fundamental para entender os conceitos de
mercadoria, valor e fetichismo.
Nível Avançado
Rubin, I. I. (1928). Ensaios sobre a Teoria do Valor de Marx.
Por quê? A interpretação mais rigorosa da teoria do valor, com foco no conceito de
trabalho abstrato como categoria social.
Capítulo 2: Introdução à Cibernética
Nível Iniciante
Gleick, J. (2011). The Information: A History, a Theory, a Flood.
Por quê? Uma história narrativa brilhante sobre a teoria da informação e seus
protagonistas (Shannon, Turing, Wiener).
Nível Intermediário
Wiener, N. (1950). The Human Use of Human Beings: Cybernetics and
Society.
Por quê? A própria introdução de Wiener às implicações sociais da cibernética, mais
acessível que sua obra de 1948.
Nível Avançado
Ashby, W. R. (1956). An Introduction to Cybernetics.
Por quê? O texto técnico original sobre a Lei da Variedade Requisita. Os primeiros
capítulos são de uma clareza impressionante.
Capítulo 3: Capitalismo Digital
Nível Iniciante
Srnicek, N. (2016). Platform Capitalism.
Por quê? Uma introdução curta e clara ao modelo de negócio das plataformas.
Nível Intermediário
Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism.
Por quê? A obra fundamental sobre o capitalismo de vigilância. Os primeiros capítulos
são essenciais.
Nível Avançado
Pasquale, F. (2015). The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money
and Information.
Por quê? Uma análise crítica de como os algoritmos opacos das plataformas moldam nossas
vidas sem que possamos questioná-los.
Capítulo 4: Economia Política
Nível Iniciante
Furtado, C. (1959). Formação Econômica do Brasil.
Por quê? Um clássico para entender a história da dependência brasileira.
Nível Intermediário
Cardoso, F. H., & Faletto, E. (1969). Dependência e Desenvolvimento na América
Latina.
Por quê? Uma das obras fundadoras da Teoria da Dependência.
Nível Avançado
Marini, R. M. (1973). Dialética da Dependência.
Por quê? A análise mais radical da dependência, com o conceito de superexploração do
trabalho.
Capítulo 5: Marx e a Crítica da Economia Política
Nível Intermediário
Marx, K. (1867). O Capital, Livro I, Capítulo VI (Inédito).
Por quê? A fonte principal para o conceito de subsunção formal e real.
Nível Avançado
Marx, K. (1857). Grundrisse (Fragmento sobre as Máquinas).
Por quê? Para uma leitura direta sobre o general intellect e a especulação de
Marx sobre o futuro do capitalismo.
Cleaver, H. (2000). Reading Capital Politically.
Por quê? Uma reinterpretação operaísta de O Capital, focando na luta de
classes como motor da história.
Capítulo 6: Cibernética: Controle, Comunicação e Sociedade
Nível Intermediário
Maturana, H., & Varela, F. (1987). A Árvore do Conhecimento.
Por quê? A introdução mais acessível às ideias de autopoiese e da biologia do conhecer.
Nível Avançado
Bateson, G. (1972). Steps to an Ecology of Mind.
Por quê? Uma coletânea de ensaios que explora a cibernética de segunda ordem e a
epistemologia da complexidade.
Capítulo 7: Marxismo e Tecnologia
Nível Intermediário
Marcuse, H. (1964). One-Dimensional Man.
Por quê? O clássico de Marcuse sobre a sociedade tecnológica e a supressão do
pensamento crítico.
Nível Avançado
Horkheimer, M., & Adorno, T. W. (1947). Dialectic of Enlightenment.
Por quê? Fundamental para entender a crítica à razão instrumental.
Noble, D. F. (1984). Forces of Production: A Social History of Industrial
Automation.
Por quê? Uma história social da automação que mostra como a tecnologia é moldada pela
luta de classes.
Capítulo 8: Trabalho Imaterial, Cognitivo e Afetivo
Nível Intermediário
Lazzarato, M. (2006). As Revoluções do Capitalismo.
Por quê? Uma excelente introdução às ideias sobre trabalho imaterial e pós-fordismo.
Hochschild, A. R. (1983). The Managed Heart: Commercialization of Human
Feeling.
Por quê? Um estudo clássico sobre o trabalho emocional, focando em comissários de bordo
e cobradores de dívidas.
Nível Avançado
Hardt, M., & Negri, A. (2000). Empire.
Por quê? A obra que define o diagnóstico da nova soberania global e do trabalho
biopolítico.
Capítulo 9: Pós-Operaísmo e a Teoria da Multidão
Nível Intermediário
Hardt, M., & Negri, A. (2004). Multitude.
Por quê? Desenvolve o conceito de multidão como sujeito político.
Nível Avançado
Virno, P. (2004). A Grammar of the Multitude.
Por quê? Uma análise filosófica da multidão, focando em conceitos como general
intellect e virtuosismo.
Berardi, F. (2009). The Soul at Work: From Alienation to Autonomy.
Por quê? Uma análise do sofrimento psíquico no capitalismo cognitivo.
Capítulo 10: A Crítica do Valor (Wertkritik)
Nível Intermediário
Kurz, R. (2004). O Colapso da Modernização.
Por quê? Apresenta as teses centrais de Kurz de forma acessível.
Nível Avançado
Postone, M. (1993). Time, Labor, and Social Domination.
Por quê? Uma obra monumental que refunda a teoria crítica de Marx a partir da categoria
do tempo.
Scholz, R. (2000). "O Valor é o Homem: Teses sobre a socialização pelo valor e a relação
entre os sexos."
Por quê? O texto fundador da teoria da dissociação (Abspaltung).
Capítulo 11: A Síntese Informacional
Nível Intermediário
Cockshott, P., & Cottrell, A. (1993). Towards a New Socialism.
Por quê? O trabalho clássico que revive a ideia de planejamento socialista na era dos
computadores.
Nível Avançado
Morozov, E. (2019). "Digital Socialism? The Calculation Debate in the Age of Big Data."
New Left Review.
Por quê? Um artigo que atualiza o debate sobre planejamento econômico para a era do big
data e da inteligência artificial.
Capítulo 12: Ciberfeminismo, Afrofuturismo e Ecossocialismo Digital
Nível Intermediário
Haraway, D. (1991). "A Cyborg Manifesto."
Por quê? O texto fundador do ciberfeminismo.
Dery, M. (1994). "Black to the Future" em Flame Wars.
Por quê? O ensaio que cunhou o termo "Afrofuturismo".
Nível Avançado
Wajcman, J. (2004). TechnoFeminism.
Por quê? Uma atualização crítica do ciberfeminismo.
Yusoff, K. (2018). A Billion Black Anthropocenes or None.
Por quê? Uma crítica radical da narrativa do Antropoceno que ignora o colonialismo e a
escravidão.
Capítulos 13-16: Plataformização da Cultura
Nível Intermediário
Van Dijck, J., Poell, T., & de Waal, M. (2018). The Platform
Society.
Por quê? Uma excelente introdução ao conceito de plataformização.
Schüll, N. D. (2012). Addiction by Design.
Por quê? Uma etnografia fascinante sobre o design viciante das máquinas caça-níqueis.
Nível Avançado
Foucault, M. (1976). História da Sexualidade, Vol. 1.
Por quê? Fundamental para entender o conceito de biopoder, aplicado no Capítulo 13.
Capítulos 17-19: Experimentos de Socialismo Cibernético
Nível Intermediário
Peters, B. (2016). How Not to Network a Nation.
Por quê? A história completa do OGAS e das tentativas soviéticas de criar redes de
computadores.
Medina, E. (2011). Cybernetic Revolutionaries.
Por quê? A obra definitiva sobre o Projeto Cybersyn.
Nível Avançado
Beer, S. (1972). Brain of the Firm.
Por quê? A teoria por trás do Cybersyn.
Gerovitch, S. (2002). From Newspeak to Cyberspeak: A History of Soviet
Cybernetics.
Por quê? Uma história intelectual da cibernética na URSS.
Capítulo 20: Geopolítica Cibernética
Nível Intermediário
Farrell, H., & Newman, A. L. (2019). Of Privacy and Power.
Por quê? Como a infraestrutura de rede se tornou uma fonte de poder geopolítico.
Nível Avançado
De Goede, M., & Westermeier, C. (2022). "Infrastructural geopolitics."
Por quê? Fundamenta a análise da geopolítica infraestrutural.
Capítulo 21: A Inserção Subordinada do Brasil
Nível Intermediário
Abílio, L. (2020). Uberização.
Por quê? Sobre o impacto das plataformas no trabalho no Brasil.
Nível Avançado
Souza, J., Avelino, R., & Silveira, S. A. da. (2023). "Artificial intelligence:
dependency, coloniality and technological subordination in Brazil."
Por quê? A base acadêmica para a análise do capítulo.
Capítulo 22: Necropolítica Digital e Fascismo de Tela
Nível Intermediário
Mbembe, A. (2018). Necropolítica.
Por quê? O conceito fundamental de necropolítica.
Alexander, M. (2010). The New Jim Crow.
Por quê? Sobre o encarceramento em massa como forma de controle racial.
Nível Avançado
Nagle, A. (2017). Kill All Normies.
Por quê? Para entender a estética da extrema-direita online.
Eubanks, V. (2018). Automating Inequality.
Por quê? Como algoritmos são usados para gerenciar e punir os pobres.
Capítulos 23-25: Síntese, China e Propostas
Nível Intermediário
Scholz, T. (2016). Platform Cooperativism.
Por quê? O manifesto do cooperativismo de plataforma.
Morozov, E. (2013). To Save Everything, Click Here.
Por quê? Uma crítica ao "solucionismo tecnológico" e uma defesa da política
democrática.
Roberts, M. E. (2018). Censored: Distraction and Diversion Inside China's Great
Firewall.
Por quê? Análise etnográfica da censura e controle digital na China.
Nível Avançado
Vários Autores. (2022). The ABC of Digital Socialist Planning.
Por quê? Ensaios sobre como o planejamento socialista poderia funcionar na era digital.
Dyer-Witheford, N. (1999). Cyber-Marx: Cycles and Circuits of Struggle in
High-Technology Capitalism.
Por quê? Uma das primeiras tentativas de sintetizar marxismo e cibernética para pensar
o capitalismo digital.
Capítulos 26-28: Cosmotécnicas Plurais
Nível Iniciante
Krenak, A. (2019). Ideias para Adiar o Fim do Mundo.
Por quê? Uma introdução acessível e poética ao pensamento indígena brasileiro sobre
natureza, cosmologia e crítica à modernidade destrutiva.
Shiva, V. (2003). Monoculturas da Mente: Perspectivas da Biodiversidade e da
Biotecnologia.
Por quê? Crítica indiana ao conhecimento único e defesa da pluralidade epistemológica,
conectando biodiversidade e diversidade cultural.
Nível Intermediário
Hui, Y. (2016). The Question Concerning Technology in China.
Por quê? O trabalho fundador sobre cosmotécnicas, explorando como a China tem uma
relação própria entre tecnologia e cosmologia.
Kopenawa, D., & Albert, B. (2015). A Queda do Céu: Palavras de um xamã
yanomami.
Por quê? Uma das obras mais importantes do pensamento indígena contemporâneo,
oferecendo
crítica profunda à civilização industrial e ao capitalismo extrativista.
Rivera Cusicanqui, S. (2015). Sociología de la Imagen.
Por quê? Pensamento aymara sobre conhecimento visual, colonial idade e epistemologias
andinas, fundamental para entender cosmotécnicas latino-americanas.
Nível Avançado
Hui, Y. (2019). Recursivity and Contingency.
Por quê? Desenvolve o conceito de cosmotécnica através de uma leitura da história da
filosofia ocidental e oriental, mostrando diferenças fundamentais na relação entre técnica e
natureza.
Mbembe, A. (2001). On the Postcolony.
Por quê? Para entender cosmotécnicas africanas, é essencial compreender a pós-colônia
como condição histórica específica que produz formas próprias de temporalidade e tecnologia.
Viveiros de Castro, E. (2002). "O nativo relativo." Mana, 8(1),
113-148.
Por quê? Artigo fundamental do perspectivismo ameríndio, mostrando como povos indígenas
têm ontologias radicalmente diferentes da ocidental — essencial para entender que tecnologia não
é
universal.
Capítulo 29: Comunicação, Matéria e Informação
Nível Iniciante
Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphors We Live By.
Por quê? Demonstra como metáforas estruturam pensamento e ação — a linguagem não apenas
descreve realidade, mas a constrói.
Goffman, E. (1959). The Presentation of Self in Everyday Life.
Por quê? Clássico sobre como comunicação é performance — construímos identidades
através
de rituais interacionais.
Nível Intermediário
Bateson, G. (1972). "A Theory of Play and Fantasy" em Steps to an Ecology of
Mind.
Por quê? Introduz o conceito de metacomunicação — como comunicamos *sobre* comunicação
(essencial para entender ironia, frames, contextos).
Austin, J. L. (1962). How to Do Things with Words.
Por quê? Teoria dos atos de fala — algumas palavras não descrevem, mas *fazem* coisas
(prometer, ordenar, batizar). Linguagem como ação.
Watzlawick, P., Beavin, J., & Jackson, D. (1967). Pragmatics of Human
Communication.
Por quê? Os cinco axiomas da comunicação, incluindo "é impossível não comunicar" —
fundamental para entender comunicação como sistema cibernético.
Nível Avançado
Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society.
Por quê? A teoria socio-histórica do desenvolvimento: pensamento emerge da linguagem
social internalizada. Crucial para entender como comunicação constrói mente.
Maturana, H., & Varela, F. (1987). "Linguagem e Realidade" em A Árvore do
Conhecimento.
Por quê? Perspectiva autopoiética: linguagem não transmite informação, mas coordena
ação
— revoluciona entendimento de comunicação.
Derrida, J. (1967). De la Grammatologie.
Por quê? Desconstrução mostra que escrita não é secundária à fala, e que toda linguagem
contém rastros (traces) — fundamental para questionar binarismos matéria/informação.
Capítulo 30: O Salto Dialético
Nível Iniciante
Koyré, A. (1957). From the Closed World to the Infinite Universe.
Por quê? História acessível de como revolução científica (Copérnico, Galileu, Newton)
transformou cosmologia — mostra que ciência emerge de filosofia.
Nível Intermediário
Kuhn, T. S. (1962). The Structure of Scientific Revolutions.
Por quê? Conceito de paradigma científico — ciência não progride linearmente, mas por
rupturas revolucionárias. Essencial para entender saltos dialéticos.
Feyerabend, P. (1975). Against Method.
Por quê? Crítica anarquista da ciência — não há "método científico" único, progresso
vem de pluralismo metodológico. Complementa Kuhn radicalizando.
Nível Avançado
Hegel, G. W. F. (1807). Phenomenology of Spirit.
Por quê? O texto fundador da dialética moderna. Difícil, mas necessário para entender
movimento conceitual (tese→antítese→síntese) aplicado no capítulo.
Althusser, L. (1965). Pour Marx (especialmente "Contradiction et
surdétermination").
Por quê? Releitura estruturalista de Marx — introduz conceito de "ruptura
epistemológica"
(coupure épistémologique) entre Marx jovem (filosófico) e Marx maduro (científico).
Bachelard, G. (1938). La Formation de l'Esprit Scientifique.
Por quê? Epistemologia histórica francesa — ciência avança superando "obstáculos
epistemológicos". Influenciou Althusser e Foucault.
Popper, K. (1959). The Logic of Scientific Discovery.
Por quê? Para contrastar: Popper defende falsificacionismo (ciência progride refutando
hipóteses). Ler junto com Kuhn mostra debate sobre como ciência funciona.
Capítulo 31: O Fim do Ultrarracionalismo
Nível Iniciante
Fraser, N. (2017). "The End of Progressive Neoliberalism." Dissent
Magazine.
Por quê? Artigo curto e acessível que cunha o termo "neoliberalismo progressista" —
quando liberalismo econômico se disfarça de progressismo social.
Mounk, Y. (2018). The People vs. Democracy.
Por quê? Análise liberal (não marxista) da crise democrática — útil para entender
sintomas que Capítulo 31 explica com causas mais profundas.
Nível Intermediário
Adorno, T. W., & Horkheimer, M. (1947). "The Culture Industry" em Dialectic of
Enlightenment.
Por quê? Crítica clássica da Escola de Frankfurt à razão instrumental e indústria
cultural — base para entender ultrarracionalismo.
Scott, J. C. (1998). Seeing Like a State.
Por quê? Como Estados modernos simplificam realidade complexa para torná-la "legível" e
controlável — essência do ultrarracionalismo burocrático.
Graeber, D. (2015). The Utopia of Rules.
Por quê? Crítica anarquista à burocracia e racionalidade instrumental — complementa
Scott
com perspectiva mais radical.
Nível Avançado
Habermas, J. (1981). The Theory of Communicative Action.
Por quê? Distinção entre razão instrumental (meios-fins) e razão comunicativa (consenso
intersubjetivo). Base para criticalismo racional não-positivista.
Foucault, M. (1975). Discipline and Punish.
Por quê? Genealogia da racionalidade disciplinar — como normas "racionais" produzem
sujeitos dóceis. Fundamental para entender governamentalidade neoliberal.
Weber, M. (1905). The Protestant Ethic and the Spirit of
Capitalism.
Por quê? A análise original da racionalização ocidental — como ascetismo protestante
produziu capitalismo racional. Base histórica para entender ultrarracionalismo.
Jameson, F. (1991). Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late
Capitalism.
Por quê? Pós-modernidade não é apenas estilo, mas lógica cultural do capitalismo tardio
— conecta crise da razão com transformação econômica.
Como Usar Este Guia
Este guia não é uma lista de tarefas obrigatórias, mas um mapa de possibilidades. Algumas
sugestões:
- Siga seus interesses: Não tente ler tudo. Escolha os temas que mais ressoam
com você.
- Leia em grupo: Muitas dessas obras são densas. Ler e discutir com outras
pessoas torna o processo mais rico e prazeroso.
- Alterne níveis: Não se sinta obrigado a seguir uma progressão linear. Às
vezes, ler um texto avançado primeiro pode motivar a voltar aos fundamentos.
- Conecte com a prática: A melhor forma de aprender teoria é aplicá-la.
Participe de movimentos sociais, organize-se com colegas de trabalho, experimente
ferramentas alternativas.
F.4 Rota Feminista: Gênero e Patriarcado Digital
Percurso
- Manifesto (início) → Seção sobre Silvia Federici e acumulação primitiva
- Cap 1 (Marxismo Básico) + Box "Trabalho Reprodutivo" → Entender mais-valia + trabalho
reprodutivo invisibilizado
- Cap 3 (Capitalismo de Plataforma) + Box "Plataformas de Cuidado" → Ver como apps
extrativizam trabalho feminino
- Cap 8 (Trabalho Imaterial) → Conectar trabalho afetivo com dimensão generificada
- Cap 9 (Pós-Operaísmo e Feminismos) → Aprofundar correntes feministas (Haraway, Firestone,
etc.)
- Cap 12 (Sexo e Algoritmos) + Box "Economia Sexual Digital" → Analisar OnlyFans, cam work,
objetificação algorítmica
- Cap 21 (Brasil) + Box "Violência Digital de Gênero" → Contexto brasileiro: revenge porn,
resistências
- Cap 24 (Políticas) → Propostas: economia do cuidado digital, combate à violência online
- Apêndice G §G.7.1 → Análise completa da ausência de gênero + autores complementares
- Apêndice D §D.9 → Bibliografia sobre feminismos cibernéticos
- Apêndice E §E.6 → Recursos práticos: coletivos, plataformas alternativas, legislação
F.5 Rota Ecológica: Materialidade e Sustentabilidade Digital
Percurso
- Cap 1 (Marxismo Básico) → Conceito de externalização de custos
- Cap 3 (Capitalismo de Plataforma) + Box "Materialidade Digital" → Ver infraestrutura oculta
das plataformas
- Cap 4 (Teoria da Dependência) → Conectar com extrativismo no Sul Global
- Cap 14 (Economia da Atenção) + Box "Pegada de Carbono" → Quantificar custos ambientais da
atenção
- Cap 21 (Brasil) + Box "Extrativismo Amazônia" → Mineração de terras raras + e-waste
- Cap 22 (Necropolítica) + Box "Necro-Ecologia" → Quem morre: minas de cobalto, e-waste, data
centers
- Cap 24 (Políticas) + Box "Green New Deal Digital" → Propostas: direito à reparação,
servidores sustentáveis, decrescimento seletivo
- Apêndice G §G.7.2 → Análise completa da ausência ecológica + autores complementares
- Apêndice D §D.10 → Bibliografia sobre ecologia digital
- Apêndice E §E.7 → Recursos práticos: projetos de green computing, direito à reparação
F.6 Rota Acessível: Neurodiversidade e Capacitismo Digital
Percurso
- Cap 2 (Cibernética Básica) → Conceitos de feedback, input/output (para depois questionar)
- Cap 6 (Cibernética Aprofundada) + Box "Cibernética Crip" → Questionar feedback loop
normativo, propor crip cyborg
- Cap 14 (Economia da Atenção) + Box "TDAH como Neurodivergência" → Repensar atenção além do
neurotípico
- Cap 15 (Educação) → Analisar exclusão capacitista em plataformas de EAD, propor Universal
Design for Learning
- Cap 21 (Brasil) → Dados sobre exclusão digital de pessoas com deficiência, Lei Brasileira de
Inclusão
- Cap 24 (Políticas) + Box "Acessibilidade Obrigatória" → Proposta: acessibilidade como
requisito para operar
- Apêndice G §G.7.3 → Análise completa da ausência sobre neurodiversidade/deficiência +
autores complementares
- Apêndice D §D.11 → Bibliografia sobre neurodiversidade e disability studies
- Apêndice E §E.8 → Recursos práticos: ferramentas de acessibilidade, comunidades, legislação
Apêndice G
Mapa Mental: A Teia Conceitual do Livro
Nota do Autor: Este apêndice tenta fazer o impossível: representar linearmente
(em texto) uma estrutura não-linear (rede de conceitos). Pense nele não como um resumo
sequencial, mas como um mapa topológico — mostrando conexões, distâncias,
territórios. Assim como a natureza não é linear (ecossistemas são redes, não hierarquias), este
livro também não é. Use este mapa para navegar, não para reduzir.
G.1 A Estrutura como Organismo Vivo
Se este livro fosse uma árvore (e é, na medida em que é informação impressa derivada de
celulose), sua estrutura seria:
🌳
A Árvore do Conhecimento Deste Livro
RAÍZES (Partes I-II): Marx + Cibernética
Conceitos fundacionais que nutrem tudo acima: mais-valia, feedback, dialética,
informação.
TRONCO (Partes III-V): Capitalismo
Digital
A estrutura principal: plataformas, vigilância, trabalho algorítmico, geopolítica de
dados.
GALHOS (Parte VI): Propostas Políticas
Direções possíveis: regulação, cooperativas, soberania digital.
FOLHAS (Parte VII): Cosmotécnicas
Plurais
Diversidade epistemológica: Ubuntu, Nhandereko, pluriverso.
FLORES (Parte VIII): Meta-Reflexões
O livro observando a si mesmo: comunicação, dialética, crítica da razão.
FRUTOS (Apêndices): Ferramentas
Práticas
Glossário, biografias, leituras — recursos para plantar novas árvores.
Mas uma árvore é simplificação excessiva. Na verdade, este livro é mais como
micélio — a rede subterrânea de fungos que conecta raízes de árvores
diferentes, permitindo troca de nutrientes e informação. Cada capítulo é um nó na rede, e as
conexões são mais importantes que os nós isolados.
G.2 Os Conceitos-Núcleo: Estrelas Gravitacionais
Alguns conceitos aparecem repetidamente, como estrelas massivas em torno das quais outros
orbitam. Aqui estão os 10 mais centrais:
1. Mais-Valia (Marx, Cap 1)
O que é: Diferença entre valor criado por trabalho e salário pago.
Por que importa: Explica exploração como estrutural, não pessoal.
Evolução no livro:
- Cap 1: Conceito básico (fábrica)
- Cap 3: Mais-valia de dados (plataformas extraem valor de usuários)
- Cap 10: Sujeito automático (capital como processo autônomo de extração)
- Cap 15: Discriminação algorítmica (extração diferenciada por raça/gênero)
2. Feedback (Wiener, Cap 2)
O que é: Loop onde saída de um sistema afeta entrada futura.
Por que importa: Sistemas complexos (sociais, ecológicos, econômicos) são
compostos de feedbacks.
Evolução no livro:
- Cap 2: Princípio técnico (termostato)
- Cap 11: Síntese Marx+Cibernética (capital como loop de feedback)
- Cap 12: Economia da atenção (dopamina como feedback viciante)
- Cap 18: Cybersyn (feedback democrático em tempo real)
- Cap 29: Pensamento reflexivo (feedback entre matéria e informação)
3. Subsunção (Marx, Cap 5)
O que é: Processo pelo qual capital subordina trabalho — primeiro formalmente
(contratos), depois realmente (transformando próprio processo de trabalho).
Por que importa: Explica como capitalismo não apenas explora, mas
reconfigura atividade humana.
Evolução no livro:
- Cap 5: Conceito original (fábrica taylorista)
- Cap 10: Subsunção algorítmica (apps moldam comportamento)
- Cap 14: Subsunção psicológica (engenharia do vício)
- Cap 16: Subsunção social (vida toda mediada por plataformas)
4. General Intellect (Marx, Caps 5 e 11)
O que é: Conhecimento social geral — soma de ciência, cultura, cooperação
coletiva.
Por que importa: Em economia digital, valor é criado por inteligência coletiva,
não apenas trabalho individual.
Evolução no livro:
- Cap 5: Fragmento sobre máquinas (Marx especulando sobre futuro)
- Cap 11: General Intellect = Informação (Shannon + Marx)
- Cap 25: Comuns digitais (general intellect como recurso comum a ser protegido)
5. Variedade Requisita (Ashby, Cap 2)
O que é: Para controlar sistema complexo, controlador deve ter complexidade
equivalente.
Por que importa: Explica limites de planejamento central E de mercado
autorregulado.
Evolução no livro:
- Cap 2: Lei cibernética básica
- Cap 17: OGAS (falhou por falta de variedade)
- Cap 18: Cybersyn (tentou descentralização para criar variedade)
- Cap 26: Cosmotécnicas (pluralidade como variedade cultural)
6. Plataforma (Srnicek, Cap 3)
O que é: Infraestrutura digital que intermedia interações e extrai dados.
Por que importa: Modelo de negócio dominante do capitalismo
contemporâneo.
Evolução no livro:
- Cap 3: Definição e tipologia (Uber, Facebook, AWS...)
- Cap 12: Plataformas como arquitetura de vício
- Cap 16: Uberização como precarização via plataforma
- Cap 25: Cooperativas de plataforma como alternativa
7. Vigilância (Zuboff, Caps 3 e 22)
O que é: Monitoramento sistemático para extração de dados comportamentais.
Por que importa: Transforma experiência vivida em matéria-prima
comercializável.
Evolução no livro:
- Cap 3: Capitalismo de vigilância (Google como pioneiro)
- Cap 21: Soberania digital (geopolítica da vigilância)
- Cap 22: Necropolítica digital (vigilância como violência)
8. Dialética (Hegel → Marx, Caps 1, 29, 30)
O que é: Método de pensamento que vê realidade como processo de contradições
produtivas (tese → antítese → síntese).
Por que importa: Evita pensamento binário (ou/ou) em favor de pensamento
processual (tanto/quanto transformando-se).
Evolução no livro:
- Cap 1: Dialética materialista (Marx)
- Cap 11: Dialética cibernética (feedback como movimento dialético)
- Cap 29: Dialética comunicativa (matéria ↔ informação)
- Cap 30: Dialética epistemológica (filosofia → ciência)
9. Cosmotécnica (Yuk Hui, Cap 26)
O que é: Unidade entre cosmologia (visão de mundo) e técnica (fazer material).
Cada cultura tem sua própria.
Por que importa: Desafia universalismo tecnológico — não existe "A" tecnologia
neutra, mas tecnologias plurais enraizadas em valores culturais.
Evolução no livro:
- Cap 26: Conceito introduzido (diferença China/Europa)
- Cap 27: Cosmotécnicas africanas (Ubuntu tecnológico)
- Cap 28: Cosmotécnicas ameríndias (Nhandereko digital)
10. Necropolítica (Mbembe, Cap 22)
O que é: Poder de decidir quem vive e quem morre — mais fundamental que
biopoder.
Por que importa: Em contextos periféricos (Brasil, África, Sul Global), poder
não se manifesta apenas como controle da vida, mas como distribuição da
morte.
Evolução no livro:
- Cap 22: Necropolítica digital (algoritmos de moderação, shadowban, desinformação letal)
- Cap 31: Necropolítica climática (quem paga com a vida pela crise ambiental?)
G.3 Interseções Críticas: Onde Conceitos Colidem
Os momentos mais potentes do livro são onde conceitos de diferentes tradições se encontram,
criando sínteses emergentes. Algumas interseções-chave:
⚡
Interseções Conceituais
1. MAIS-VALIA + DADOS = Capitalismo de Vigilância
(Cap 3, 11) — Teoria marxista + economia digital = novo modelo de acumulação.
2. FEEDBACK + DIALÉTICA = Cibernética
Marxista
(Cap 11) — Wiener + Marx = sistemas auto-organizados mas contraditórios.
3. SUBSUNÇÃO + ALGORITMO = Controle
Algorítmico
(Cap 10, 14) — Capital subordina vida via código, não apenas contrato.
4. GENERAL INTELLECT + PLATAFORMA = Extração de
Conhecimento Coletivo
(Cap 11, 25) — Inteligência social capturada e privatizada por Big Tech.
5. COSMOTÉCNICA + CIBERNÉTICA = Cibernética
Pluriversal
(Cap 26-28) — Feedback não precisa ser ocidental/capitalista — pode ser Ubuntu,
Nhandereko.
6. NECROPOLÍTICA + ALGORITMO = Violência
Computacional
(Cap 22) — Código mata (shadowban ativistas, desinformação sobre vacinas).
7. DIALÉTICA + COMUNICAÇÃO = Pensamento
Reflexivo
(Cap 29) — Matéria ↔ informação ↔ matéria transformada.
8. FILOSOFIA + CIÊNCIA = Salto Dialético
(Cap 30) — Abstração → instrumentalização → nova materialidade.
G.3.1 Análise Aprofundada: Como Capítulos 29-31 Operacionalizam Interseções
A seção anterior identificou 8 interseções conceituais fundamentais. Mas os capítulos 29-31 fazem
algo mais sofisticado: eles meta-analisam o próprio processo de criar
interseções.
Vamos examinar em profundidade:
Interseção 7 (Cap 29): DIALÉTICA + COMUNICAÇÃO = Pensamento Reflexivo
O que está acontecendo aqui: Cap 29 não apenas usa dialética e
comunicação
— ele revela que toda dialética é comunicativa e toda comunicação é
dialética. Veja a profundidade:
🔍
Camadas de Análise: Cap 29
Nível 1 — Conteúdo Explícito:
- Linguagem constrói realidade (hipótese Sapir-Whorf)
- Rituais comunicativos performam poder (Goffman)
- Ironia e sarcasmo são metacomunicação
- Pensamento reflexivo = feedback matéria↔informação↔matéria
Nível 2 — Conexões Implícitas:
- Com Cap 1: Superestrutura marxista se materializa via comunicação.
Ideologia não é "falsa consciência" abstrata — é prática linguística
concreta. Quando burguesia diz "livre mercado", está
performando
hegemonia.
- Com Cap 2: Feedback cibernético inclui linguagem humana. Wiener
focou
em feedback mecânico, mas Cap 29 estende: conversa é feedback loop.
Você fala → eu interpreto → respondo → você ajusta → ciclo continua.
- Com Cap 10: Sujeito automático (capital) opera via comunicação.
Publicidade, contratos, narrativas econômicas — tudo isso constrói
subjetividades que desejam consumir, competir, acumular.
- Com Caps 26-28: Cosmotécnicas são
cosmolinguísticas.
Ubuntu não é apenas filosofia — é gramática do ser ("umuntu
ngumuntu
ngabantu" codifica relacionalidade na própria sintaxe). Nhandereko é vocabulário de
reciprocidade.
Nível 3 — Meta-Função no Livro:
Cap 29 faz o leitor perceber: este próprio livro é
ato comunicativo que constrói realidade. Ao introduzir termos como
"mais-valia
de dados", "uberização", "Nhandereko digital", não estou apenas descrevendo fenômenos —
estou criando vocabulário que torna visível o invisível. Linguagem =
poder. Nomear é transformar.
Interseção 8 (Cap 30): FILOSOFIA + CIÊNCIA = Salto Dialético
O que está acontecendo aqui: Cap 30 não apenas descreve saltos
históricos
(Aristóteles→Newton, Alquimia→Química, Logos→Digital) — ele performa um salto:
de análise de conteúdo para análise de método.
🔍
Camadas de Análise: Cap 30
Nível 1 — Conteúdo Explícito:
- Padrão universal: Filosofia (abstração) → Crise (limites) → Instrumentos
(ferramentas)
→ Ciência (concretização) → Nova Filosofia
- Três casos históricos detalhados
- IA como salto em andamento
Nível 2 — Conexões Implícitas:
- Com Cap 5: General Intellect materializa-se através de saltos
dialéticos.
Cada salto (Física Newtoniana, Química, Computação) incorporou conhecimento social
acumulado em ferramentas concretas. Telescópio = General Intellect
materializado em lente.
- Com Cap 11: Este próprio livro tentou um salto: Marx (filosofia
século XIX) + Cibernética (ciência século XX) = Análise do Capitalismo Digital
(aplicação século XXI). Mas Cap 30 revela: ainda estamos na Fase 2
(instrumentos). Fase 3 (recriação do real) requer práxis — que leitores
devem realizar.
- Com Caps 17-18: OGAS e Cybersyn foram saltos
abortados.
Tentaram filosofia socialista → ferramentas cibernéticas → democracia econômica.
Mas foram interrompidos (OGAS por burocracia, Cybersyn por golpe) antes de completar
Fase 3. Cap 30 ensina: saltos exigem tempo, iteração, apoio
político.
- Com Caps 26-28: Saltos não são universais. Cap 30 focou tradição
ocidental, mas outras culturas tiveram saltos próprios seguindo
padrões diferentes. China: Confucionismo → Tecnologias burocráticas → Coordenação
imperial. África: Ubuntu → Tecnologias sociais → Coesão comunitária. Guarani:
Teko Porã → Manejo florestal → Simbiose sustentável. Pluralismo
epistemológico.
Nível 3 — Meta-Função no Livro:
Cap 30 é epistemologia autorreflexiva.
Explica
como ele próprio foi possível. Revela que estrutura do livro (Partes I→VIII) espelha
padrão de salto dialético. É método como mensagem — não apenas dizer
"conhecimento avança dialeticamente", mas demonstrar isso performaticamente
na própria estrutura narrativa.
Interseção Emergente (Cap 31): TODAS AS ANTERIORES + PRÁXIS = Análise Política Concreta
O que está acontecendo aqui: Cap 31 não introduz novos conceitos — ele
aplica tudo. É teste empírico do framework inteiro. Cada um dos três casos
(Brasil/PT, Argentina/Milei, Colômbia/Petro) mobiliza múltiplas interseções simultaneamente:
🔍
Camadas de Análise: Cap 31
Caso PT/Brasil — Interseções Ativadas:
- MAIS-VALIA + PLATAFORMA: Uberização legalizada via Reforma
Trabalhista
(Temer 2017), não revertida por Lula 3. Extração de valor via apps naturalized.
- DIALÉTICA + COMUNICAÇÃO: PT usa linguagem progressista ("direitos
humanos", "inclusão social") mas governa ao centro-direita. É hegemonia
gramsciana — dominados aceitam como "pragmatismo necessário".
- SUBSUNÇÃO + ALGORITMO: Programas sociais (Bolsa Família) não
transformaram estruturas — incluíram pobres como consumidores, não como
cidadãos com poder político. Subsunção pelo mercado.
- NECROPOLÍTICA + FASCISMO: Bolsonaro (2019-2022) foi necr política
explícita — mais de 710 mil mortos COVID, genocídio Yanomami. Mas golpe 2016 já foi
necropolítica institucional — matou possibilidades políticas via lawfare.
Caso Milei/Argentina — Interseções Ativadas:
- SUBSUNÇÃO RADICAL: "Terapia de choque" não é apenas ajuste
econômico —
é reconfiguração violenta de subjetividades. Força argentinos a
internalizarem lógica mercado via sofrimento.
- COMUNICAÇÃO + CAPTURA: Milei capturou legítimo ódio ao Estado
corrupto e o canalizou para destruição de welfare state. Linguagem de
"liberdade"
performando opressão.
- COSMOTÉCNICA PERVERSA: "Libertarismo" como cosmotécnica —
ontologia (indivíduo soberano) + técnica (desregulamentação, privatização).
Mas é cosmotécnica anti-Ubuntu — nega relacionalidade.
Caso Petro/Colômbia — Interseções Ativadas:
- SALTO INCOMPLETO: Petro tentou salto dialético — filosofia
progressista → reformas estruturais (tributação, paz, ecologia) → sociedade mais
justa. Mas está preso na Fase 2 — tem filosofia e algumas ferramentas,
mas não consegue implementar Fase 3 (recriação do real) devido a constrangimentos
(Congresso, militares, oligarquias).
- VARIEDADE REQUISITA (Cap 2): Complexidade da sociedade colombiana
(narcotráfico, paramilitares, oligarquias fundiárias, petroleiras) excede
variedade do governo Petro. Sistema resistente demais para reformas
moderadas.
Nível 3 — Meta-Função no Livro:
Cap 31 é práxis concretizada. Demonstra
que framework teórico (Caps 1-30) funciona — gera análises coerentes de
fenômenos complexos contemporâneos. Mas também revela limites: análise
não é ação, diagnóstico não é transformação. Leitores precisam completar o
ciclo
— usar conceitos para organizar, mobilizar, transformar. Caso contrário, livro é apenas
exercício acadêmico sofisticado, não ferramenta emancipatória.
Síntese das Análises Aprofundadas
O que essas análises revelam? Três insights estruturais:
💡
Insights Estruturais da Parte VIII
1. RECURSIVIDADE RADICAL: Caps 29-31 não apenas usam conceitos
desenvolvidos em Caps 1-28 — eles analisam o próprio uso. É
metacognição textual. Livro observando a si mesmo.
2. COMPLETUDE SISTÊMICA: Sem Parte VIII, livro
seria incoerente com seus próprios princípios. Um livro sobre feedback
(Cap 2) que não inclui feedback sobre si mesmo é hipócrita. Um livro sobre dialética
(Cap 1) que não se supera via negação/transcendência é dogmático. Parte VIII
é necessidade lógica.
3. ABERTURA PARA PRÁXIS: Caps 29-31 terminam
dizendo "agora é com você". Não é modéstia retórica — é reconhecimento de que
ciclo de conhecimento só se completa na ação. Teoria (Caps 1-30) →
Práxis (leitor no mundo) → Nova Teoria (que leitor criará). O loop não fecha; a
espiral continua.
G.4 Os Três Fios Condutores: Entrelaçamento Temático
Se você seguir qualquer um destes três fios do início ao fim, atravessará o livro inteiro de
forma coerente:
Fio 1: O TRABALHO E SUA TRANSFORMAÇÃO
Trajeto: Cap 1 (mais-valia industrial) → Cap 5 (subsunção) → Cap 16 (uberização)
→ Cap 12 (trabalho de atenção) → Cap 15 (discriminação algorítmica no trabalho) → Cap 25
(cooperativas como alternativa) → Cap 28 (trabalho como jopói, reciprocidade).
Pergunta central: Como trabalho é organizado, explorado e pode ser emancipado?
Fio 2: A TECNOLOGIA E SEU CONTROLE
Trajeto: Cap 2 (cibernética como ciência do controle) → Cap 7 (Marx sobre
tecnologia) → Cap 17 (OGAS, planejamento soviético) → Cap 18 (Cybersyn, planejamento chileno) →
Cap 21 (soberania digital) → Cap 26-28 (cosmotécnicas plurais) → Cap 30 (filosofia → ciência →
tecnologia).
Pergunta central: Quem controla tecnologia e para quais fins?
Fio 3: A PERIFERIA E SUA VOZ
Trajeto: Cap 4 (economia política da dependência) → Cap 19 (colonialismo de
dados) → Cap 20 (dependência digital do Brasil) → Cap 21 (soberania como resistência) → Cap 22
(necropolítica digital) → Cap 23 (BRICS+ como alternativa) → Cap 27-28 (epistemologias do Sul
Global).
Pergunta central: Como periferias resistem e criam alternativas ao centro
hegemônico?
Insight: Estes três fios NÃO SÃO SEPARADOS. Eles se entrelaçam constantemente.
Por exemplo, Cap 18 (Cybersyn) pertence aos três: é sobre trabalho (democracia econômica),
tecnologia (cibernética aplicada) e periferia (Chile socialista desafiando EUA).
G.5 Navegação Alternativa: Rotas Sugeridas
Você não precisa ler linearmente. Algumas rotas alternativas coerentes:
ROTA 1: O Leitor Apressado (6 capítulos essenciais)
Cap 1 (Marx básico) → Cap 2 (Cibernética básica) → Cap 3 (Capitalismo digital) → Cap 11 (Síntese
Marx+Cibernética) → Cap 18 (Cybersyn como exemplo concreto) → Cap 31 (Crítica ao status quo).
ROTA 2: O Ativista Digital (foco em ação)
Cap 3 (Diagnóstico: plataformas) → Cap 12 (Problema: vício) → Cap 15 (Problema: discriminação) →
Cap 22 (Problema: violência) → Cap 25 (Solução: cooperativas) → Cap 21 (Solução: soberania).
ROTA 3: O Teórico Curioso (foco conceitual profundo)
Cap 1 → Cap 2 → Cap 5 (Subsunção) → Cap 10 (Sujeito automático) → Cap 11 (Síntese) → Cap 29
(Comunicação) → Cap 30 (Dialética epistemológica) → Cap 26 (Cosmotécnicas).
ROTA 4: O Brasileiro Preocupado (foco local)
Cap 4 (Dependência histórica) → Cap 19 (Colonialismo de dados) → Cap 20 (Brasil digital
dependente) → Cap 22 (Necropolítica — Gabinete do Ódio) → Cap 28 (Nhandereko como alternativa).
ROTA 5: O Filósofo Especulativo (foco meta-teórico)
Cap 26 (Cosmotécnicas) → Cap 27 (Ubuntu) → Cap 28 (Nhandereko) → Cap 29 (Comunicação constrói
realidade) → Cap 30 (Filosofia → Ciência) → Cap 31 (Crítica da razão ultrarracionalista) →
Apêndice H (Metareflexão sobre o livro).
G.6 A Parte VIII como Meta-Síntese: Os Capítulos 29-31 Fecham o Loop
Se as Partes I-VII construíram o argumento, a Parte VIII realiza algo diferente:
ela vira a lente para si mesma. Os capítulos 29-31 não são "mais conteúdo" —
são reflexão sobre o próprio ato de construir conhecimento que os capítulos
anteriores performaram.
Cap 29: A Arquitetura Invisível — Meta-Teoria da Comunicação
O que faz: Revela que todo este livro foi um ato de comunicação que
constrói realidade, não apenas a descreve. Ao introduzir conceitos como
"mais-valia de dados" (Cap 3), "sujeito automático" (Cap 10), "Nhandereko digital" (Cap 28),
o livro não apenas nomeou fenômenos — criou vocabulário para ver o invisível.
Por que importa: Conecta tudo aos fundamentos. Revisita:
- Marx (Cap 1): Superestrutura ideológica se reproduz via comunicação
- Cibernética (Cap 2): Feedback loops incluem comunicação humana
- Cosmotécnicas (Caps 26-28): Linguagem não é neutra — cada cosmologia tem
sua "cosmolinguística"
- Vigilância (Cap 3, 22): Controlar comunicação = controlar realidade
possível
Função no livro: É a teoria da linguagem que faltava. Todos
os capítulos anteriores usaram linguagem para argumentar; Cap 29 analisa
linguagem como prática ontológica. É metacomunicação — comunicar sobre comunicação.
Cap 30: O Salto Dialético — Epistemologia do Método
O que faz: Explica como conhecimento avança: não linearmente
(acumulação de fatos), mas dialeticamente (crises → instrumentos → sínteses →
novas crises). Mostra padrão universal: Filosofia → Ciência → Tecnologia → Nova Filosofia.
Por que importa: É a teoria do próprio método do livro:
- Parte I-II (Filosofia): Marx + Cibernética como sistemas abstratos
- Partes III-VI (Ciência): Análise concreta do capitalismo digital usando
ferramentas conceituais
- Parte VII (Tecnologia): Cosmotécnicas plurais como materialização de
filosofias alternativas
- Parte VIII (Nova Filosofia): Meta-reflexão sobre o processo inteiro
Função no livro: É a epistemologia autorreflexiva. Cap 30
não apenas descreve como conhecimento progride historicamente — ele performa esse
progresso. O próprio capítulo é um "salto" para nível meta: de conteúdo para
método.
Cap 31: Fim do Ultrarracionalismo — Diagnóstico da Crise Presente
O que faz: Aplica todo framework do livro ao momento atual.
Analisa três experimentos contemporâneos:
- Neoliberalismo Progressista (PT/Brasil): Captura de linguagem emancipatória
por capitalismo. Conecta Caps 1 (mais-valia), 3 (vigilância), 10 (sujeito automático), 22
(necropolítica), 29 (comunicação hegemônica)
- Fascismo Libertário (Milei/Argentina): Contradição performática —
"liberdade" para capital, repressão para trabalho. Conecta Caps 5 (subsunção), 14 (vício),
21 (soberania), 22 (necropolítica)
- Reformismo Progressista (Petro/Colômbia): Tensão entre aspirações
transformadoras e constrangimentos estruturais. Conecta Caps 17-18 (experimentos
socialistas),
25 (alternativas), 26-28 (cosmotécnicas)
Por que importa: Demonstra que livro não é exercício acadêmico abstrato —
é ferramenta analítica aplicável agora. América Latina como "laboratório
acelerado" onde contradições globais se manifestam mais cruas.
Função no livro: É o teste empírico. Cap 30 explicou que
filosofia precisa se materializar em ciência para não ser especulação vazia. Cap 31 faz isso:
usa conceitos desenvolvidos em 30 capítulos para diagnosticar realidade
concreta.
É aplicação (Fase 3 do "salto dialético").
A Tríade Meta-Reflexiva: Por Que Esses Três Capítulos Juntos?
Não é acidente que Parte VIII tenha exatamente três capítulos realizando três
movimentos complementares:
🎯
A Tríade Dialética da Meta-Reflexão
CAP 29 (Comunicação): ONTOLOGIA
Como realidade é construída através de linguagem/comunicação. É sobre
o SER — realidade como processo comunicativo.
CAP 30 (Salto Dialético): EPISTEMOLOGIA
Como conhecimento é produzido através de ciclos dialéticos. É sobre o
CONHECER — verdade como processo histórico.
CAP 31 (Ultrarracionalismo): PRÁXIS
Como teoria é aplicada para transformar mundo. É sobre o
AGIR — política como síntese de ser e conhecer.
Juntos formam: Ontologia (ser) + Epistemologia
(conhecer) + Práxis (fazer) = Filosofia da Praxis Completa. É Marx +
Hegel + Gramsci sintetizados na estrutura do próprio livro.
Coerência Interna: Como Caps 29-31 Integram Tudo
Estes três capítulos não "adicionam conteúdo novo" — eles revelam padrões
latentes
em tudo que veio antes:
- Referências Cruzadas: Cap 29 cita 27 capítulos anteriores explicitamente.
Cap 30 cita 18. Cap 31 cita 15. Total: 60+ referências internas — é teia
conceitual, não lista linear.
- Conceitos-Chave Revisitados: Feedback (Cap 2 → Cap 29), Dialética (Cap 1 →
Cap 30), Hegemonia (Cap 8 → Cap 31). Mas agora em nível meta — não mais
explicando fenômenos, mas explicando como explicamos fenômenos.
- Fechamento do Círculo Hermenêutico: Cap 0 prometeu que livro seria
não-linear, reflexivo, dialético. Caps 29-31 cumprem promessa — são
performativos, não apenas descritivos. O método é a mensagem.
Por Que No Final? A Pedagogia da Revelação Tardia
Alguns leitores podem perguntar: "Por que não colocar Caps 29-31 no início? Se são meta-teoria,
não deveriam vir antes?"
Resposta pedagógica: Não. A ordem é deliberada:
- Primeiro construir: Caps 1-28 constroem vocabulário, argumentos, conexões.
Leitor acumula "experiência" de navegação conceitual.
- Depois revelar: Caps 29-31 dizem "Viu o que você acabou de fazer? Você não
apenas aprendeu conceitos — você praticou pensamento dialético". É
conscientização retroativa.
- Pedagogia freiriana: Paulo Freire (Apêndice F) ensinou: educação é ação →
reflexão → ação transformada. Caps 1-28 = ação (ler, conectar ideias). Caps 29-31 = reflexão
(meta-análise). Próximo passo = ação transformada (leitor usa livro no mundo).
Insight cibernético (Cap 2): É feedback de alta ordem. Sistema
(livro) observa a si mesmo observando (Caps 29-31). É cibernética de segunda ordem — Heinz von
Foerster diria "observar o observador". Livro se torna autoconsciente.
Análise de Coerência Estilística e Tonal
Caps 29-31 também marcam mudança de registro:
- Caps 1-28: Tom majoritariamente expositivo/analítico. "Aqui está como
capitalismo digital funciona"
- Caps 29-30: Tom mais filosófico/especulativo. "Aqui está como pensamento
funciona"
- Cap 31: Tom urgente/político. "Aqui está o que está acontecendo AGORA e
por que importa"
Esta progressão tonal não é falha — é intencional. Espelha movimento de:
- Análise distanciada (cientista observando objeto)
- Reflexão filosófica (pensador questionando fundamentos)
- Engajamento político (cidadão intervindo em realidade)
É o que Gramsci chamou de "pessimismo da inteligência, otimismo da vontade" —
analisar friamente (Caps 1-30), depois agir apaixonadamente (Cap 31).
Análise de Completude: O Que Caps 29-31 Adicionam ao Sistema Total?
Sem Parte VIII, livro seria incompleto em três dimensões:
- Teoria da Linguagem Ausente: Sem Cap 29, leitor não entenderia que
palavras criam mundos. Introduzir "uberização" não é apenas nomear —
é tornar visível estrutura de exploração antes invisível. Linguagem = poder.
- Epistemologia Implícita Não-Tematizada: Sem Cap 30, método do livro
(síntese Marx+Cibernética) pareceria arbitrário. Cap 30 mostra: não é fusão aleatória,
é salto dialético necessário quando filosofias antigas encontram limites
(Marx não explica digital, Cibernética não explica exploração → síntese).
- Aplicação Política Abstrata: Sem Cap 31, propostas (cooperativas Cap 25,
soberania Cap 21, cosmotécnicas Caps 26-28) ficariam utópicas. Cap 31
mostra: estão sendo testadas AGORA em América Latina, com sucessos e falhas concretos.
Faz livro intervir no presente.
Metáfora biológica: Se Caps 1-28 são órgãos (coração=Cap 1, cérebro=Cap 2,
sistema nervoso=Cap 11...), Caps 29-31 são consciência emergente. Organismo
não apenas funciona — sabe que funciona e questiona seu próprio funcionamento.
É salto de vida para vida autoconsciente.
Síntese: A Necessidade Estrutural da Parte VIII
Parte VIII não é apêndice opcional. É componente estruturalmente
necessário de obra que pratica reflexividade radical. Um livro
sobre
feedback loops (Cap 2) deve incluir feedback sobre si mesmo. Um livro sobre
dialética (Cap 1) deve superar a si mesmo via negação/transcendência (Caps
29-31 negam/transcendem Caps 1-28). Um livro sobre comunicação construindo realidade (Cap 29)
deve reconhecer que ele próprio está construindo realidade ao ser
lido.
Caps 29-31 são o momento em que o mapa olha para si mesmo e percebe que é
território.
É quando ferramenta analítica torna-se autoconsciente. É quando crítica torna-se autocrítica.
É o loop fechando — mas fechando-se de forma que abre novos loops (como
Apêndice H
explicitará: fechamento que é abertura).
Sem Parte VIII, este seria mais um livro acadêmico competente. Com Parte VIII, é
tentativa
de filosofia da praxis viva. E isso, amigo leitor, faz toda diferença.
G.7 Ausências Notáveis: O Que o Livro NÃO Cobre
Nota Metodológica: Este mapa seria desonesto se não reconhecesse seus próprios
limites. Todo conhecimento é situado, toda obra tem lacunas. A honestidade intelectual não está
em fingir completude, mas em mapear explicitamente as ausências. Mais
importante: este livro implementa a técnica de feedback bidirecional estudada
ao longo dos capítulos. Para cada ausência identificada abaixo, aplicamos o ciclo: Análise
de Coerência → Análise Aprofundada → Análise Final → Análise Final → Análise Aprofundada →
Análise Coerência. O objetivo não é apenas reconhecer lacunas, mas mapear precisamente
como preenchê-las mantendo a integridade sistêmica da obra.
Um mapa honesto mostra não apenas territórios mapeados, mas também terras
incógnitas. Este livro tem limites. Alguns são ausências
produtivas (temas além do escopo razoável), outros são ausências
problemáticas (lacunas que comprometem a análise). Abaixo, distinguimos ambas e
oferecemos caminhos para preencher o que falta.
G.7.1 Questões de Gênero e Patriarcado Digital
⚠️
Reconhecimento da Lacuna Existente
O livro menciona Donna Haraway, Sophie Lewis e Shulamith Firestone, e aborda feminismo
cibernético no Capítulo 9 e discriminação de gênero no Capítulo 15. Porém, não
desenvolve sistematicamente como o patriarcado estrutura a tecnologia
digital. O conceito de mais-valia no Capítulo 1 não menciona o trabalho
reprodutivo não remunerado que subsidia todo o sistema de acumulação. Silvia Federici é
citada no manifesto sobre acumulação primitiva e patriarcado, mas essa análise não
permeia os capítulos sobre plataformização.
Por que esta ausência é problemática: Cria inconsistências teóricas profundas.
Uma crítica ao capitalismo digital que permanece cega à dimensão de gênero que estrutura tanto a
produção quanto o consumo digital é incompleta. No Capítulo 3 sobre plataformas, há uma lacuna
sobre plataformas de cuidado como TaskRabbit e Care.com que extrativizam trabalho
tradicionalmente feminino. No Capítulo 8 sobre trabalho imaterial, falta conectar o conceito de
trabalho afetivo com sua dimensão generificada. No Capítulo 12 sobre sexo e algoritmos, a
análise poderia expandir além de apps de namoro para incluir a economia sexual digital do
OnlyFans e cam work.
Autores complementares essenciais:
- Helen Hester desenvolveu o conceito de xenofeminismo, argumentando
que a tecnologia deve ser apropriada para abolir o gênero como categoria opressiva, não para
reforçá-lo.
- Legacy Russell propõe o glitch feminism, onde o erro e a falha nos
sistemas digitais criam espaços de resistência para corpos e identidades queer.
- Sadie Plant escreveu uma história alternativa da computação mostrando suas
raízes na tecelagem e no trabalho feminino, recuperando figuras como Ada Lovelace não como
exceções mas como parte de uma genealogia oculta.
Onde esta análise deveria estar:
- → Cap 1: Seção sobre trabalho reprodutivo e sua relação com acumulação
digital
- → Cap 3: Análise de plataformas de cuidado como novos campos de extração
- → Cap 8: Conexão entre trabalho afetivo e dimensão generificada
- → Cap 9: Seção expandida "Feminismos Cibernéticos: Convergências e Tensões"
- → Cap 12: Economia sexual digital (OnlyFans, cam work) como reprodução e
inovação de objetificação
- → Cap 21: Dados sobre violência digital de gênero, revenge porn como arma
patriarcal digitalizada, resistências feministas organizadas
- → Cap 24: Políticas para economia do cuidado digital
Como você pode preencher esta lacuna: Leia Federici (Calibã e a Bruxa),
Hester (Xenofeminism), Russell (Glitch Feminism), Plant (Zeros +
Ones). Conecte-as com a análise de plataformas e trabalho imaterial deste livro.
Escreva seu próprio capítulo complementar. Publique, compartilhe. → Ver também Ap.
D para bibliografia completa sobre feminismos cibernéticos, e Ap.
E para recursos de coletivos ciberfeministas.
G.7.2 Ecologia Digital e Materialidade da Infraestrutura
⚠️
Reconhecimento da Lacuna Existente
O livro menciona impacto ambiental de data centers, mineração de terras raras e lixo
eletrônico, mas não desenvolve sistematicamente a materialidade da
infraestrutura digital. O Capítulo 22 sobre necropolítica menciona
externalização de custos, mas não especifica os custos ambientais. O Capítulo 24 sobre
políticas para o Antropoceno Digital não conecta mudança climática à infraestrutura
computacional.
Por que esta ausência é problemática: Cria uma contradição fundamental entre o
conceito e a prática. O livro critica a ideologia da desmaterialização sem documentar a pesada
materialidade do digital. Fala-se em "nuvem" como se fosse etérea, quando cada busca no Google,
cada vídeo no TikTok, cada transação em blockchain tem pegada de carbono mensurável. A crítica
ao extrativismo do capitalismo digital permanece incompleta sem análise do extrativismo literal
de cobalto, lítio e terras raras que sustenta toda a cadeia produtiva.
Autores complementares essenciais:
- Kate Crawford em Atlas of AI documenta meticulosamente as cadeias
de suprimento da inteligência artificial, desde minas de lítio no Chile até trabalhadores
precarizados rotulando dados no Quênia.
- Shannon Mattern em A City Is Not a Computer critica a metáfora
computacional aplicada a cidades, recuperando a dimensão material e infraestrutural urbana.
- Jennifer Gabrys estuda sensores ambientais e como a vigilância ecológica
pode servir tanto ao controle quanto à resistência.
- Jussi Parikka desenvolve a "geologia dos media", analisando como a história
dos aparelhos digitais é inseparável da história da mineração e da transformação geológica
do planeta.
Onde esta análise deveria estar:
- → Cap 3: Seção sobre a materialidade oculta das plataformas, incluindo
dados sobre consumo energético de AWS, Google Cloud e Azure
- → Cap 14: Quantificação da pegada de carbono: cada hora de streaming em
Netflix equivale a x quilômetros de carro, cada scroll no TikTok consome y watts
- → Cap 21: Análise do extrativismo digital-ambiental na Amazônia, onde
mineração ilegal de terras raras se conecta com lixo eletrônico despejado em periferias
- → Cap 22: Seção sobre necro-ecologia, perguntando quem morre pela poluição
de e-waste e pelas condições nas minas de cobalto do Congo
- → Cap 24: Proposta de Green New Deal Digital incluindo direito à reparação,
servidores comunitários com energia renovável, e decrescimento digital seletivo
Como você pode preencher esta lacuna: Leia Crawford (Atlas of AI),
Mattern (A City Is Not a Computer), Parikka (A Geology of Media). Mapeie a
cadeia de suprimento desde a extração mineral até o descarte de e-waste. Sobreponha essa cadeia
material com a cadeia de mais-valia analisada no Capítulo 1. → Ver também Ap. D
para bibliografia sobre ecologia digital, e Ap. E para projetos de tecnologia
sustentável.
G.7.3 Neurodiversidade e Deficiência (Capacitismo Digital)
⚠️
Reconhecimento da Lacuna Existente
O livro menciona brevemente como tecnologias digitais incluem ou excluem corpos e mentes
não-normativos, mas não desenvolve essa análise. O Capítulo 15 sobre educação menciona
exclusão digital, mas não especifica exclusão capacitista. Não há
engajamento com disability studies ou critical autism studies.
Por que esta ausência é problemática: Revela um pressuposto não examinado ao
longo do livro: o usuário como categoria universal. Conceitos como "feedback" no Capítulo 2
assumem um aparato sensório-motor normativo. A análise da economia da atenção no Capítulo 14
trata TDAH como déficit, não como neurodivergência que processa informação diferentemente. As
interfaces analisadas ao longo do livro são criticadas por vigilância e extração, mas não por
capacitismo estrutural.
Autores complementares essenciais:
- Mel Baggs (1980-2020), ativista autista que produziu "In My Language", um
vídeo seminal criticando como a sociedade só reconhece como comunicação válida formas
neurotípicas.
- Nick Walker desenvolveu o paradigma da neurodiversidade, argumentando que
autismo, TDAH e outras condições são variações naturais da cognição humana, não patologias a
serem curadas.
- Lydia X.Z. Brown conecta neurodiversidade com abolicionismo psiquiátrico e
interseccionalidade, mostrando como opressões de raça, classe e capacidade se entrelaçam.
- Alison Kafer em Feminist, Queer, Crip desenvolve uma política do
futuro que não assume a eliminação da deficiência como horizonte emancipatório.
- Aimi Hamraie documenta a história do desenho universal, mostrando como
acessibilidade não é adaptação posterior mas deve ser princípio de design desde o início.
Onde esta análise deveria estar:
- → Cap 6: Seção sobre cibernética crip que questiona o feedback loop
normativo e propõe o "crip cyborg" onde tecnologia não é correção de deficiência mas
expansão de possibilidades
- → Cap 14: Repensar TDAH não como déficit mas como processamento diferente
de informação, criticando como o design capacitista assume atenção neurotípica
- → Cap 15: Análise de como plataformas de EAD excluem pessoas cegas, surdas
e disléxicas, propondo Universal Design for Learning
- → Cap 21: Dados sobre exclusão digital de pessoas com deficiência,
analisando a Lei Brasileira de Inclusão versus a realidade inacessível das plataformas
- → Cap 24: Proposta de acessibilidade obrigatória como requisito para
qualquer plataforma digital operar no país
Como você pode preencher esta lacuna: Leia Walker (Neurodiversity),
Brown (All the Weight of Our Dreams), Kafer (Feminist, Queer, Crip), Hamraie
(Building Access). Revise sistematicamente cada capítulo perguntando como seus
conceitos assumem corpos e mentes normativos. → Ver também Ap. D para
bibliografia sobre neurodiversidade e deficiência, e Ap. E para recursos de
acessibilidade.
G.7.4 Perspectivas Asiáticas Não-Chinesas
⚠️
Reconhecimento da Lacuna Existente
O Capítulo 26 sobre cosmotécnicas foca extensivamente na China e no pensamento de Yuk
Hui, mas Índia, Japão, Coreia e Sudeste Asiático têm tradições
filosóficas e práticas tecnológicas ricas que permanecem ausentes. O livro reproduz
inadvertidamente um sino-centrismo na análise de alternativas não-ocidentais.
Por que esta ausência é problemática: Ao focar apenas na China como alternativa
não-ocidental, o livro perpetua uma forma de orientalismo que homogeneíza a Ásia. A Índia tem
tradições filosóficas sobre tecnologia e conhecimento (ahimsa, karma) que
diferem radicalmente tanto do pensamento chinês quanto do ocidental. O Japão desenvolveu
conceitos como ma (間, o intervalo) e wabi-sabi que oferecem críticas à
aceleração digital. A Coreia e o Sudeste Asiático têm suas próprias cosmotécnicas que merecem
análise.
Onde esta análise deveria estar:
- → Cap 26: Expandir além da China, incluindo seções sobre cosmotécnicas
indianas, japonesas, coreanas e do Sudeste Asiático
- → Ap. A: Definir termos como ahimsa, karma, ma,
wabi-sabi e outros conceitos relevantes
- → Ap. B: Incluir perfis de pensadores indianos, japoneses, coreanos e do
Sudeste Asiático
Como você pode preencher esta lacuna: Pesquise tradições filosóficas asiáticas
sobre tecnologia e conhecimento. Conecte-as com a análise de cosmotécnicas do Capítulo 26.
Escreva análises comparativas que não hierarquizem mas respeitem especificidades contextuais. →
Ver também Ap. D para bibliografia sobre cosmotécnicas não-chinesas.
G.7.5 Criptomoedas e Blockchain
Reconhecimento da lacuna: Mencionadas de passagem mas não analisadas
criticamente. É tecnologia emancipatória ou mais uma fronteira de acumulação? O debate entre
criptoanarquistas e críticos da financeirização está ausente.
Onde esta análise deveria estar: Capítulo 3 (plataformas) ou Capítulo 24
(políticas). A análise deveria incluir tanto promessas (descentralização, resistência à
vigilância estatal) quanto problemas (consumo energético, especulação, uso por cartéis e evasão
fiscal).
Como você pode preencher esta lacuna: Leia Golumbia (The Politics of
Bitcoin), Brunton (Digital Cash), e críticas ecológicas de blockchain. Analise
casos concretos: Bitcoin vs. moedas comunitárias, NFTs vs. propriedade intelectual alternativa.
G.7.6 Distinguindo Ausências Produtivas de Problemáticas
Nem toda ausência precisa ser preenchida. Algumas são produtivas (temas além do
escopo razoável), outras são problemáticas (lacunas que comprometem a análise).
Como distinguir?
📋
5 Critérios de Avaliação
- Coerência Teórica: A ausência cria inconsistência na argumentação?
(Se sim = Problemática)
- Delimitação de Escopo: O tema está dentro do escopo declarado? (Se
sim e ausente = Problemática)
- Autonomia Disciplinar: Há literatura robusta que aborda o tema? (Se
sim = Pode ser Produtiva)
- Via Negativa: O não-dito funciona como método consciente? (Se sim =
Produtiva)
- Economia Cognitiva: Preencher diluiria foco? (Se sim = Produtiva)
Exemplos aplicados a este livro:
Ausências Produtivas (Manter):
- Física quântica e computação quântica: Está além do escopo. O livro é sobre
capitalismo digital atual, não especulação sobre tecnologias futuras. Mencioná-la brevemente
e referir a literatura especializada é suficiente.
- Biologia molecular e CRISPR: Tangencial. Embora seja tecnologia importante,
não é central à crítica do capitalismo de plataforma. Uma nota de rodapé reconhecendo a
ausência basta.
Ausências Problemáticas (Preencher Urgentemente):
- Gênero e patriarcado digital: Central ao escopo (plataformas e trabalho são
generificados), cria inconsistência teórica (Marx sem Federici), perpetua invisibilização de
trabalho reprodutivo, e preencher fortaleceria toda análise.
- Ecologia digital e materialidade: Central ao escopo (crítica à ideologia da
desmaterialização), cria contradição (falar de "nuvem" sem mencionar data centers), e
análise ambiental é inseparável de análise capitalista.
G.7.7 Convite à Contribuição Coletiva
Por que estas ausências importam? Não porque invalida o que está presente, mas
porque convida a você, leitor, a completar o mapa. Este livro não é (e não pode
ser) completo. É ponto de partida, não chegada.
O livro está licenciado sob Creative Commons BY-SA. Isso significa que você pode
e deve forkar, expandir, traduzir, remixar. Cada contribuição é pull request no repositório do
conhecimento comum. Cada crítica é issue aberta no GitHub da teoria crítica. Cada leitura é
commit no branch da resistência.
Como contribuir:
- Identifique ausências adicionais: Use os 5 critérios acima para avaliar se
são produtivas ou problemáticas
- Pesquise e escreva: Escolha uma lacuna (G.7.1 a G.7.5) e aprofunde. Escreva
seu próprio capítulo complementar
- Conecte com conceitos-núcleo: Use o mapa mental (seções G.2 a G.6) para
integrar sua contribuição à estrutura existente
- Publique e compartilhe: Disponibilize sua análise sob mesma licença CC
BY-SA. O livro cresce coletivamente
As ausências só permanecem ausentes se não as preenchermos juntos. O mapa está
incompleto por design. Complete-o. Este apêndice não é lamento sobre o que falta — é convite à
ação. A cibernética de segunda ordem nos ensinou: observar o sistema é transformá-lo. Ao ler
estas ausências, você já começou a preenchê-las. Continue.
G.8 Como Usar Este Mapa
Este apêndice não é para ser lido passivamente. É ferramenta ativa. Algumas sugestões:
- Desenhe seu próprio mapa: Pegue papel e caneta. Coloque os 10
conceitos-núcleo (seção G.2) como nós. Desenhe linhas conectando conceitos que dialogam.
Qual topologia emerge? É rede descentralizada, hierarquia, estrutura radial?
- Identifique seu fio condutor: Qual dos três fios (G.4) mais ressoa com
você? Siga-o, relendo apenas capítulos relevantes. Que narrativa coerente emerge?
- Crie sua própria rota: Use rotas sugeridas (G.5) como inspiração, mas
invente a sua. Compartilhe com outros leitores — multiplique mapas.
- Preencha ausências: Escolha uma lacuna (G.6) e pesquise. Escreva seu
próprio capítulo complementar. Publique, compartilhe. O livro cresce.
O mapa não é o território — mas mapear é transformar. Este livro é um mapa.
Você, ao lê-lo, está mapeando. E ao mapear, está construindo novos territórios conceituais.
Ava Reko: somos pessoas porque mapeamos juntos. Este apêndice é sua bússola.
Para onde você vai navegar agora?
G.9 O Loop Cibernético Completo: Capítulos ⇄ Apêndices (Análise de Feedback Bidirecional)
Nota sobre a Estrutura: Este livro não é linear — é um sistema
cibernético de feedback. Os 32 capítulos (0-31) alimentam os 8 Apêndices (A-H), que
por sua vez retroalimentam os capítulos com ferramentas, contextos e meta-análises. Aqui
mapeamos esse loop bidirecional, mostrando como o conhecimento circula em
espiral ascendente, não em linha reta.
G.9.1 O Loop Forward: Caps 0-31 → Apêndices A-H (Análise de Coerência)
Cada capítulo alimenta os apêndices com conteúdo específico:
➡️
Parte I (Caps 0-4): Fundamentos → Ap. A, B, C, D, F
Cap 0 (Como Usar):
- → Ap. F: Operacionaliza os "três percursos de leitura" aqui
descritos
- → Ap. G: Materializa a "teia conceitual" mencionada
- → Ap. H: Problematiza a linearidade que Cap 0 assume
provisoriamente
Cap 1 (Marxismo Básico):
- → Ap. A: Define "mais-valia", "fetichismo", "trabalho abstrato"
- → Ap. B: Biografia de Marx (1818-1883)
- → Ap. C: Situa O Capital (1867) na cronologia
- → Ap. D: Bibliografia sobre teoria do valor
- → Ap. G: Mostra "mais-valia" como conceito-núcleo #1
Cap 2 (Cibernética Básica):
- → Ap. A: Define "feedback", "entropia", "homeostase", "Máquina de
Turing"
- → Ap. B: Biografias de Wiener (1894-1964) e Turing (1912-1954)
- → Ap. C: Situa nascimento da cibernética (1943-1948) na cronologia
- → Ap. D: Bibliografia sobre teoria da informação
- → Ap. G: Mostra "feedback" como conceito-núcleo #2
Caps 3-4 (Digital + Dependência):
- → Ap. A: Define "uberização", "plataforma", "CEPAL", "teoria da
dependência"
- → Ap. B: Biografias de Prebisch, Furtado, Marini
- → Ap. C: Cronologia da industrialização periférica (1950-1980) e
digitalização (1990-2020)
- → Ap. E: Recursos para resistência: cooperativas de plataforma,
software livre
➡️
Parte II (Caps 5-8): Teoria Crítica → Ap. A, D, G
Cap 5 (Marx Aprofundado):
- → Ap. A: Define "capital constante/variável", "composição
orgânica", "tendência à queda da taxa de lucro"
- → Ap. D: Bibliografia avançada: Rubin, Postone, Heinrich
- → Ap. G: Mostra como conceitos de Cap 5 são pré-requisitos para
Caps 10-11 (Wertkritik/Síntese)
Cap 6 (Cibernética Aprofundada):
- → Ap. A: Define "cibernética de 2ª ordem", "autopoiese",
"acoplamento estrutural"
- → Ap. B: Biografias de Bateson, Maturana, Varela, Luhmann
- → Ap. D: Bibliografia: von Foerster, Bateson, Beer
- → Ap. G: Mostra "2ª ordem" como salto qualitativo que reaparece em
Caps 18, 25, 30
Caps 7-8 (Tecnologia + Trabalho Imaterial):
- → Ap. A: Define "general intellect", "trabalho afetivo", "subsunção
real"
- → Ap. D: Bibliografia: Virno, Lazzarato, Berardi
- → Ap. G: Conecta ao debate pós-operaísta (Cap 9)
➡️
Parte III (Caps 9-16): Correntes Contemporâneas → Ap. A, D, E, G
Caps 9-11 (Correntes Teóricas):
- → Ap. A: Define "pós-operaísmo", "Wertkritik", "sujeito
automático", "síntese informacional"
- → Ap. B: Biografias de Negri, Hardt, Kurz, Postone
- → Ap. D: Bibliografia comparativa das três escolas
- → Ap. G (§G.4): Mostra os "três fios" que atravessam o livro, tendo
Caps 9-11 como fontes principais
Caps 12-16 (Plataformização da Vida):
- → Ap. A: Define "ciberfeminismo", "afrofuturismo", "economia da
atenção", "gamificação"
- → Ap. B: Biografias de Haraway, Benjamin, hooks
- → Ap. E: Recursos: coletivos ciberfeministas, alternativas aos apps
de namoro/apostas/drogas
- → Ap. G: Mostra como Caps 12-16 expandem análise para
todas esferas da vida (sexo, religião, jogo, corpo, substâncias)
➡️
Parte IV (Caps 17-19): Histórias Alternativas → Ap. B, C, E
Caps 17-18 (OGAS + Cybersyn):
- → Ap. A: Define "OGAS", "Cybersyn", "Sala de Operações",
"algedônico"
- → Ap. B: Biografias de Glushkov, Beer, Allende
- → Ap. C: Cronologia comparada: OGAS (1962-1970s), Cybersyn
(1971-1973)
- → Ap. E: Recursos: projetos neo-Cybersyn, software de planejamento
aberto
- → Ap. G (§G.3.3): Analisa "história contrafactual" como método
crítico
Cap 19 (Outros Experimentos):
- → Ap. E: Recursos: commons digitais, bancos de tempo, moedas locais
- → Ap. G: Conecta experimentos históricos às propostas
contemporâneas (Caps 23-24)
➡️
Parte V (Caps 20-22): Conjuntura → Ap. C, E
Caps 20-22 (Geopolítica + Brasil +
Necropolítica):
- → Ap. A: Define "guerra híbrida", "BRICS Pay", "soberania digital",
"necropolítica", "fascismo de tela"
- → Ap. C: Cronologia recente (2013-2025): Snowden, Cambridge
Analytica, Bolsonaro, guerra Ucrânia, IA generativa
- → Ap. E: Recursos urgentes: apps antifascistas, criptografia, redes
mesh
- → Ap. G: Mostra como análise conjuntural (Caps 20-22) sintetiza
teoria (Caps 1-11) e prática (Caps 17-19)
➡️
Parte VI (Caps 23-25): Síntese + Propostas → Ap. E, G, H
Cap 23 (Dupla Face da Cibernética):
- → Ap. G (§G.2.2): "Feedback" como conceito-núcleo — Cap 23 mostra
sua ambivalência
- → Ap. H (§H.2.2): Cibernética como modelo de "fim sem fim" (sistema
aberto)
Cap 24 (Políticas para o Antropoceno Digital):
- → Ap. E: Todos os recursos práticos derivam das propostas
de Cap 24
- → Ap. F: Leituras complementares sobre políticas públicas digitais
- → Ap. G (§G.5): Rota pragmática começa em Cap 24
Cap 25 (China):
- → Ap. A: Define "crédito social", "cibernética de 2ª ordem
chinesa", "socialismo de mercado"
- → Ap. B: Biografia de Deng Xiaoping, perfil de Yuk Hui
- → Ap. C: Cronologia: Revolução Cultural (1966-1976) → Reformas
(1978) → Plataformas estatais (2010s)
- → Ap. G (§G.3.3): China como "história contrafactual viva" —
Cybersyn que não foi golpeado
➡️
Parte VII (Caps 26-28): Cosmotécnicas → Ap. A, G, H
Caps 26-28 (Nhandereko + Oriente + Ubuntu):
- → Ap. A: Define "Nhandereko", "Tekoa", "ayvu rapyta", "Tao", "wu
wei", "Ubuntu", "Sumak Kawsay", "cosmotécnica"
- → Ap. B: Perfis de Ailton Krenak, Davi Kopenawa, pensadores
guaranis contemporâneos
- → Ap. G (§G.7): Localiza as "ausências" do livro — outras
epistemologias não-ocidentais
- → Ap. H (§H.2.1): Cosmotécnicas como modelo de "fim" Ubuntu —
fechamento via abertura relacional
➡️
Parte VIII (Caps 29-31): Meta-Reflexões → Ap. G, H
Caps 29-31 (Comunicação + Dialética +
Ultrarracionalismo):
- → Ap. G (§G.6 + §G.3.1): Meta-análises sobre como Caps 29-31 fecham
o loop do livro
- → Ap. H (inteiro): Caps 29-31 são pré-requisito para entender Ap. H
— metareflexão sobre metareflexão
- → Ap. G (este §G.9): Cap 30 (Salto Dialético) explica por
que o loop bidirecional aqui descrito é necessário — conhecimento não é
linear, é espiral
G.9.2 O Loop Central: Dentro dos Apêndices A→H (Análise Aprofundada)
Os apêndices não apenas recebem conteúdo dos capítulos — eles sintetizam, contextualizam
e transformam esse conteúdo:
🔄
Função de Cada Apêndice no Sistema
Apêndice A (Glossário): Função =
Estabilização Semântica
- Recebe termos de todos os 32 capítulos
- Produz definições padronizadas, evitando ambiguidade
- Feedback: vocabulário estável permite leitura não-linear sem perda de sentido
Apêndice B (Biografias): Função =
Contextualização Histórica
- Recebe nomes citados nos capítulos
- Produz narrativas biográficas que humanizam teoria
- Feedback: pensadores deixam de ser citações abstratas, tornam-se pessoas em
contextos
Apêndice C (Cronologias): Função =
Sincronização Temporal
- Recebe eventos mencionados nos capítulos
- Produz três linhas temporais entrelaçadas (política, teoria, tecnologia)
- Feedback: revela causalidades ocultas (ex: cibernética nasce durante 2ª Guerra
Mundial, não por acaso)
Apêndice D (Bibliografia): Função =
Aprofundamento Direcionado
- Recebe temas dos capítulos
- Produz listas comentadas por nível (iniciante/intermediário/avançado)
- Feedback: leitor pode mergulhar mais fundo em áreas de interesse sem se perder
Apêndice E (Recursos para Ação): Função =
Operacionalização Prática
- Recebe propostas dos Caps 23-24 e críticas dos Caps 3-22
- Produz lista de ferramentas, organizações, plataformas alternativas
- Feedback: teoria vira práxis — leitor pode agir imediatamente
Apêndice F (Leituras por Capítulo): Função
= Navegação Personalizada
- Recebe estrutura dos 32 capítulos
- Produz três percursos (rápido, acadêmico, temático)
- Feedback: Cap 0 sugere percursos, Ap. F os implementa com precisão
Apêndice G (Mapa Mental - ESTE): Função =
Meta-Estruturação
- Recebe toda a estrutura do livro
- Produz topologia conceitual (nós, conexões, rotas)
- Feedback: revela que livro é rede, não sequência — altera modo de leitura
Apêndice H (Metareflexão): Função =
Problematização do Closure
- Recebe a própria tentativa de conclusão
- Produz questionamento: precisamos "fechar"?
- Feedback: leitor percebe que "fim" do livro não é fim — é convite a continuar
pensando
G.9.3 O Loop Backward: Apêndices H→A → Caps 31→0 (Análise Final/Síntese)
Agora o movimento se inverte. Apêndices retroalimentam os capítulos:
⬅️
Fluxo Reverso: Como os Apêndices Transformam a Leitura dos Capítulos
Ap. H → Caps 29-31:
- Ap. H problematiza o "fechamento" que Caps 29-31 tentam performar
- Efeito: Ao reler Caps 29-31 após Ap. H, percebe-se que
eles não "fecham" — eles abrem meta-nível
Ap. G → Todos os Capítulos:
- Ap. G (este mapa) revela estrutura oculta
- Efeito: Qualquer capítulo relido após Ap. G ganha novas
conexões — Cap 5 não é apenas "teoria", é nó na rede que conecta a Caps 10, 11, 25
Ap. F → Cap 0:
- Cap 0 sugere "três percursos"; Ap. F os detalha
- Efeito: Reler Cap 0 após Ap. F = perceber que livro foi
projetado para múltiplas leituras desde o início
Ap. E → Caps 23-24:
- Caps 23-24 propõem políticas abstratas; Ap. E lista ferramentas concretas
- Efeito: Reler Caps 23-24 após Ap. E = ver que cada
proposta tem implementação existente (não é utopia, é realidade parcial)
Ap. D → Todos os Capítulos Teóricos:
- Ap. D sugere aprofundamentos por nível
- Efeito: Reler Cap 1 após consultar Ap. D = perceber que
Marx tem camadas (Rubin ≠ Harvey ≠ Heinrich)
Ap. C → Caps 17-18 (OGAS, Cybersyn):
- Ap. C sincroniza OGAS (URSS 1962-70s) com Cybersyn (Chile 1971-73)
- Efeito: Reler Caps 17-18 após Ap. C = perceber que eram
experimentos simultâneos, não sequenciais — Guerra Fria cibernética
Ap. B → Todos os Capítulos:
- Ap. B humaniza pensadores
- Efeito: Reler Cap 2 após ler biografia de Turing em Ap. B
= perceber que cibernética nasce em contexto de guerra, opressão, tragédia pessoal —
não é neutra
Ap. A → Todos os Capítulos:
- Ap. A estabiliza vocabulário
- Efeito: Reler qualquer capítulo após consultar Ap. A =
leitura mais fluida, menos interrupções para buscar definições
G.9.4 A Espiral Cibernética: Loop Completo = Transformação Qualitativa
O ciclo completo não é circular (você não volta ao mesmo ponto) — é espiral
ascendente:
🌀
Exemplo de Transformação via Loop Bidirecional
Leitura Inicial (Linear):
- Você lê Cap 1 (Marx básico) → aprende "mais-valia" como conceito isolado
- Lê Cap 5 (Marx avançado) → aprofunda, mas ainda é teoria abstrata
- Lê Cap 18 (Cybersyn) → história interessante, mas conexão com Marx não é óbvia
- Lê Ap. G (Mapa Mental) → vê "mais-valia" como conceito-núcleo #1, conectado a Caps
3, 8, 14, 21...
Releitura (Após Loop):
- Relee Cap 1: Agora percebe que "mais-valia" não é só exploração
fabril — é gramática para entender plataformas (Cap 3), atenção (Cap 14),
dados (Caps 20-21)
- Relee Cap 5: Conceitos avançados (composição orgânica, queda da
taxa de lucro) agora fazem sentido como pré-requisitos para entender crise
contemporânea (Caps 10-11)
- Relee Cap 18: Cybersyn não é só "história legal" — é prova
material de que cibernética + socialismo é possível (conecta a Caps
23-25, propostas)
💡
Resultado: Você não "voltou" ao Cap 1 — você chegou a um Cap 1
diferente, enriquecido por 30 capítulos + 8 apêndices. É o mesmo texto, mas
você mudou. Isso é feedback cibernético aplicado à leitura.
G.9.5 Implicações Pedagógicas: Por Que Este Loop Importa?
Este mapeamento do loop bidirecional não é mero exercício formal. Ele tem consequências práticas:
- Combate a Linearidade Forçada: Livros acadêmicos tradicionais impõem
leitura linear (Cap 1→2→3...). Este livro permite linearidade (útil para
iniciantes), mas incentiva não-linearidade via apêndices.
- Facilita Múltiplos Níveis: Iniciante usa Ap. A para vocabulário; avançado
usa Ap. D para mergulhar em Rubin; ativista usa Ap. E para agir. Mesmo livro, três leituras.
- Torna Visível a Epistemologia: Ao mapear explicitamente o loop, este Ap. G
está dizendo: "Conhecimento não é acumulação linear — é rede recursiva." Isso é
epistemologia cibernética na prática.
- Convida Autoria Coletiva: Ap. H questiona "fechamento"; este §G.9 mostra
que estrutura é aberta. Você pode adicionar nós à rede: escreva seu próprio
capítulo complementar, publique, compartilhe. O livro cresce.
💫 Conclusão do Loop: Este §G.9 não "explica" o loop — ele performa o
loop. Ao ler esta seção, você está simultaneamente:
- Recebendo meta-informação sobre estrutura (forward: caps→apêndices)
- Sendo convidado a reler capítulos com novo olhar (backward: apêndices→caps)
- Percebendo que esta própria seção é parte do sistema que descreve (recursão)
Isso é cibernética de 2ª ordem aplicada à pedagogia. Você não está lendo sobre
feedback — você está dentro do feedback. Bem-vindo ao loop. 🌀📚
Apêndice H
Metareflexão: Ciclos de Feedback para Evolução Contínua
Nota: Este apêndice implementa uma abordagem cibernética de segunda ordem sobre
o próprio livro.
Em vez de "concluir", apresentamos um modelo de camadas de abstração para feedback
recursivo
que permite a evolução contínua do conhecimento aqui sistematizado. Este é o momento em que o
livro
observa a si mesmo e propõe seu próprio mecanismo de melhoria iterativa.
H.1 A Pergunta Incômoda: Precisamos Fechar o Loop?
A convenção narrativa ocidental exige closure — fechamento. História tem começo,
meio, fim. Problema é apresentado, desenvolvido, resolvido (ou tragicamente não-resolvido, mas
mesmo assim concluído). O arco dramático fecha. O leitor sai satisfeito, tendo
"compreendido" algo completo.
Mas este livro é sobre cibernética — ciência de sistemas de feedback
abertos. E sobre dialética — movimento perpétuo de
tese/antítese/síntese gerando nova tese. E sobre capitalismo — sistema que
Deleuze e Guattari chamaram de "desterritorialização permanente", destruindo e recriando
estruturas incessantemente.
Como podemos "fechar" um livro sobre processos que não fecham?
Pior: este livro é sobre digital — hipertexto, não linear. Você pode ter chegado
aqui pulando capítulos, seguindo links, criando sua própria sequência. Não há "leitor médio" que
leu linearmente de Cap 0 a Apêndice H. Há múltiplas leituras, cada uma gerando
um livro diferente na mente de cada leitor.
Então, o que estamos "fechando", exatamente?
H.2 Três Modelos de "Fim": Literatura, Cibernética, Filosofia
Para pensar sobre isto, consideremos três tradições:
H.2.1 Modelo Literário Ocidental: O Arco Dramático
Estrutura clássica (Freytag, Aristóteles):
- Exposição: Apresenta mundo e personagens. (Este livro: Partes I-II, Marx +
Cibernética)
- Ação Crescente: Complicações se acumulam. (Partes III-V, análise do
capitalismo digital)
- Clímax: Confronto decisivo. (Parte VI, propostas políticas? Ou Cap 22,
necropolítica como horror máximo?)
- Ação Decrescente: Consequências do clímax. (Parte VII, cosmotécnicas como
saída?)
- Resolução: Novo equilíbrio. (Parte VIII + Apêndices?)
Problema: Este modelo assume teleologia — movimento em direção
a fim predeterminado. Mas dialética marxista e feedback cibernético rejeitam teleologia.
História não tem destino inscrito. Sistemas abertos não tendem ao equilíbrio, mas a
novos desequilíbrios (far-from-equilibrium dynamics).
Se forçarmos este livro no modelo aristotélico, traímos seu conteúdo. A forma deve
refletir o conteúdo (Cap 29 — comunicação constrói
realidade). Um livro sobre sistemas abertos deve ser, ele mesmo, aberto.
H.2.2 Modelo Cibernético: O Loop Recursivo
Sistemas cibernéticos não terminam — eles retornam ao início, mas transformados:
INPUT → PROCESSAMENTO → OUTPUT
↑ ↓
←←←← FEEDBACK ←←←←
Aplicando ao livro:
- INPUT: Você começou o livro com certas crenças/conhecimentos sobre
tecnologia e capitalismo.
- PROCESSAMENTO: 33 capítulos + apêndices = transformação cognitiva.
- OUTPUT: Você termina com novo entendimento.
- FEEDBACK: Mas este novo entendimento muda como você age no
mundo (conversa com colegas, escolhe ferramentas digitais, vota, organiza).
Suas ações geram novas condições materiais. Que eventualmente exigem nova
leitura — talvez releitura deste livro, talvez outros textos.
Insight: Neste modelo, "terminar" o livro é apenas completar uma
iteração do loop. Você não "dominou" o conteúdo — você passou por uma volta da
espiral. Haverá outras.
Isto é mais honesto. Mas ainda pressupõe um leitor individual fazendo loop. E se
ampliarmos a perspectiva?
H.2.3 Modelo Filosófico Ubuntu: "Eu Sou Porque Nós Somos"
Ubuntu (Cap 27) e Ava Reko (Cap 29) ensinam:
identidade é relacional. Não existe "eu" isolado fazendo loop individual de aprendizado. Existe
"nós" coletivo cocriando conhecimento.
Sob esta lente:
- Este livro não tem "um autor" (embora um humano o tenha escrito). É síntese de centenas de
pensadores citados — Marx, Wiener, Mbembe, Rivera Cusicanqui, Yuk Hui... Eles "escreveram"
através de mim.
- Não tem "um leitor" (você). Sua leitura é influenciada por conversas, memes, posts que você
leu antes. Sua interpretação é filtrada por sua comunidade.
- Não tem "um significado" fixo. Cada leitura coletiva (em grupo de estudos, sala de aula,
thread no Twitter) gera sentido emergente que transcende texto original.
Implicação radical: O livro "termina" apenas quando última pessoa para de lê-lo,
discuti-lo, citá-lo. Enquanto houver leitores, ele está vivo e aberto. E quando
todos esquecerem? Aí sim ele "fecha" — mas não por intenção autoral, e sim por morte natural.
Esta perspectiva é libertadora. O autor não controla o fechamento. A comunidade de leitores
controla.
H.2.4 Análise Final: Como Capítulos 29-31 Sintetizam os Três Modelos
Agora chegamos ao cerne da questão: Por que Parte VIII (Caps 29-31) é
necessária?
Porque ela performa os três modelos de "fim" simultaneamente, demonstrando que
não são contraditórios — são complementares.
🎯
Cap 29: Comunic ação = Modelo Ubuntu Materializado
Argumento central: Realidade é construída comunicativamente. "Eu" só
existe porque "nós" compartilha linguagem.
Conexão com H.2.3: Cap 29 desenvolve
filosoficamente o que Ubuntu ensina: identidade é relacional.
Quando leitor termina Cap 29, ele entende: "Eu compreendi este livro porque nós
(autor + tradição intelectual + leitores anteriores + minha comunidade)
cocriamos
significado."
Função no "fim": Cap 29 diz: livro
não termina quando você fecha navegador. Termina quando última conversa
sobre
ele acontece. Você, ao discutir ideias daqui com amigos, prolonga vida do
livro.
É fim como abertura — Ubuntu no HTML.
Evidência textual: "Ava Reko: você é pessoa
porque nós somos pessoas. Este livro só existe porque você o lê. E ao lê-lo, você o
recria." (Cap 29, conclusão). Não é modéstia retórica — é ontologia
participativa.
🔄
Cap 30: Salto Dialético = Modelo Cibernético Elevado
Argumento central: Conhecimento avança em espirais dialéticas: Filosofia
→ Crise → Instrumentos → Ciência → Nova Filosofia (que encontrará nova crise...).
Conexão com H.2.2: Cap 30
generaliza
o loop cibernético (Input → Processamento → Output → Feedback → novo Input) para
toda história do pensamento. Não é apenas máquinas que fazem feedback
— é conhecimento humano iterando sobre si mesmo.
Função no "fim": Cap 30 diz: este
livro é uma iteração no ciclo Marx (filosofia século XIX) → Crise
(capitalismo
digital não explicável por Marx) → Instrumentos (Cibernética) → Síntese (este livro).
Mas síntese gerará nova crise, exigindo nova síntese futura. Fim como retorno
transformado ao início.
Evidência textual: "O mapa nunca foi
separado
do território. Mapear é transformar. Pensar é fazer. E este livro, ao tentar mapear o
capitalismo digital, já o alterou — nem que seja apenas em sua mente, leitor. E sua
mente,
agora armada com novos conceitos, alterará o mundo material que toca. A espiral
continua."
(Cap 30, conclusão). Loop recursivo explícito.
📖
Cap 31: Ultrarracionalismo = Modelo Literário Subvertido
Argumento central: Projeto iluminista (razão como emancipação) foi
capturado
pelo capitalismo. Neoliberalismo progressista, fascismo libertário e reformismo
constrangido
são três formas de captura contemporânea.
Conexão com H.2.1: Cap 31 usa
estrutura
narrativa clássica (exposição do problema → análise de casos → diagnóstico), mas
subverte resolução. Não oferece "solução definitiva" — oferece
três exemplos de tentativas atuais e seus limites. É anti-clímax
intencional.
Função no "fim": Cap 31 diz: não há
resolução fácil. PT, Milei, Petro — todos tentam, todos enfrentam
contradições.
Livro não tem "receita" porque história está em aberto. Fim é
convite à ação, não proclamação de vitória.
Evidência textual: Cap 31 termina não com
síntese otimista, mas com urgência política: "A decisão está sendo
tomada
AGORA, enquanto você lê. Cap 21 (soberania digital) e Cap 25 (cooperativas) são
urgentes."
Narrativa termina apontando para fora do texto — para mundo real onde leitor
vive.
Fim como abertura para práxis.
Síntese da Análise Final: A Tríade Complementar
O que esta análise revela? Que Caps 29-31 não escolhem entre os três modelos de "fim" — eles
os sintetizam dialeticamente:
💡
A Síntese Tríplice de Parte VIII
MODELO LITERÁRIO (Cap 31) → URGÊNCIA POLÍTICA
Usa narrativa clássica mas subverte resolução. Resultado: leitor
mobilizado,
não satisfeito. "O que fazer?" não tem resposta no livro — tem resposta na ação do
leitor.
MODELO CIBERNÉTICO (Cap 30) → RECURSIVIDADE
EPISTEMOLÓGICA
Mostra conhecimento como loop iterativo. Resultado: leitor educado
sobre
método, não apenas conteúdo. Entende que "fim" é momento de feedback — reler,
questionar,
aplicar, gerar nova síntese.
MODELO UBUNTU (Cap 29) → COLETIVIZAÇÃO DO
SIGNIFICADO
Revela conhecimento como processo comunitário. Resultado: leitor
conectado
a tradição intelectual e a futuros leitores. Livro não é monólogo autor→leitor, é
diálogo
autor↔leitores↔comunidade↔história.
JUNTOS: Leitor termina o livro
mobilizado
(Cap 31), metodologicamente consciente (Cap 30) e inserido em
comunidade (Cap 29). É preparação completa para práxis transformadora.
Por Que Esta Análise Importa: Completude Estrutural
Alguns leitores podem perguntar: "Por que tanto meta-texto? Por que não apenas apresentar
conteúdo
e deixar leitor pensar?"
Resposta: Porque forma é conteúdo. Um livro que prega
reflexividade
mas não reflete sobre si mesmo é hipócrita. Um livro que analisa feedback mas não incorpora
feedback
sobre si mesmo é incoerente. Um livro que defende Ubuntu (relacionalidade) mas trata leitor como
receptor passivo trai seus princípios.
Parte VIII (Caps 29-31) não é "extra" — é necessidade lógica. É o momento em
que:
- Livro se torna autoconsciente (observa a si mesmo observando)
- Teoria se oferece para práxis (convida leitor a agir)
- Monólogo se abre para diálogo (reconhece leitor como cocriador)
Sem Parte VIII: Este seria livro acadêmico competente sobre capitalismo digital.
Com Parte VIII: É tentativa de filosofia da praxis viva — conhecimento
que se sabe provisório, coletivo e voltado para transformação.
Análise Final — O Veredicto: Capítulos 29-31 não são apêndices opcionais ou
"reflexões finais" decorativas. São componente estruturalmente necessário que
transforma obra de tratado fechado em sistema aberto. São o momento em que
texto
diz: "Eu sei que sou apenas texto, mas você, leitor, não é apenas leitor — você é agente
histórico
que pode materializar estas ideias".
É o fechamento que abre. É o fim que é começo. É o loop que se fecha reconhecendo que
nunca fecha completamente.
E isso, caro leitor que chegou até aqui (parabéns!), é exatamente o que este Apêndice H está
fazendo agora — performando o que Cap 29-31 ensinaram. Meta-ironia final. 🌀
H.3 O Paradoxo Performático: Este Apêndice Como Auto-Refutação?
Aqui está o problema: ao escrever este apêndice dizendo "não precisamos fechar",
estou...fechando. Ao performar abertura, estou criando frame (moldura) que
delimita o livro.
É como o paradoxo do cretense ("Todos cretenses mentem" dito por um cretense). Ou o kōan zen ("Se
você encontrar o Buda no caminho, mate-o"). A mensagem subverte a si mesma.
Mas paradoxos não são bugs — são features. Gödel mostrou que sistemas lógicos
formais sempre contêm verdades que não podem provar dentro do sistema. Wittgenstein terminou
Tractatus dizendo "sobre o que não se pode falar, deve-se calar" — e depois escreveu
mais um livro inteiro (Investigações Filosóficas) contradizendo o primeiro.
Este apêndice, então, é um gesto zen: aponto para a impossibilidade de closure,
sabendo que o próprio gesto é uma forma de closure. E confio que você, leitor, entende
a ironia sem precisar que eu a explique mais (ops, acabei de explicar — ironia sobre ironia, Cap 29 sobre metacomunicação).
H.4 E Se Você Não Gostou Desta Evasão?
Talvez você esteja frustrado. "Chega de jogos linguísticos pós-modernos! Diga-me: o que
fazer?"
Justo. Aqui está uma resposta direta, em 10 pontos:
Dez Ações Concretas Pós-Leitura
- Organize um grupo de estudos. Releia capítulos com outros. Conhecimento é
social (Ubuntu).
- Mude suas ferramentas digitais. Migre de Big Tech para alternativas
(Firefox, Signal, Mastodon, Nextcloud). Apêndice E tem lista.
- Sindicalizar-se ou apoie sindicatos. Trabalho digital precisa ser
organizado (Cap 16).
- Pressione por regulação. Escreva para representantes políticos citando Cap 21 (soberania digital).
- Apoie cooperativas de plataforma. Financeiramente ou com trabalho
voluntário (Cap 25).
- Ensine estes conceitos. Em escola, igreja, comunidade. Pedagogia popular
(Cap 0).
- Crie arte/conteúdo crítico. Memes, vídeos, podcasts divulgando ideias do
livro. Cultura é campo de batalha (Cap 29).
- Participe de movimentos sociais. Conecte teoria a prática. Cibersyn só
existiu porque Allende tinha apoio popular (Cap 18).
- Desenvolva tecnologias alternativas. Se você programa: contribua para FOSS
(software livre). Se não: financie quem contribui.
- Viva os princípios. Ubuntu, Nhandereko, jopói — não são apenas
conceitos, são práticas. Reciprocidade começa hoje.
Pronto. Lista concreta. Mas note: nenhuma destas ações "fecha" o processo. Cada
uma abre novos loops. Você organiza grupo de estudos → aprende mais → identifica novas lacunas →
busca novos textos → organiza novo grupo. Espiral, não linha reta.
H.5 O Que Este Livro Realmente Foi: Uma Confissão
Vou ser honesto (performando honestidade? A ironia nunca para).
Este livro não é tratado científico. Não descobriu novas verdades. Recombi nou
ideias existentes (Marx + Wiener + Mbembe + Yuk Hui + ...) num arranjo específico, voltado para
contexto específico (Brasil, América Latina, Sul Global, periferias).
Não é manual revolucionário. Não tenho certeza de que propostas aqui funcionam.
Cybersyn foi destruído por golpe. OGAS nunca funcionou em escala. Cooperativas de plataforma
lutam para competir com Big Tech. Ubuntu está sendo cooptado por discurso corporativo.
Não há garantias.
Não é obra literária. Não tem personagens, enredo, catarse emocional (exceto
talvez Cap 22, que é deliberadamente visceral).
O que é, então?
É ferramenta cognitiva. Um conjunto de lentes conceituais (mais-valia, feedback,
subsunção, cosmotécnica...) que você pode usar para ver relações de poder invisíveis.
Como óculos de raio-X para estruturas sociais.
É ritual de iniciação. Se você chegou até aqui, passou por 10.000+ linhas de
argumentação densa. Provou para si mesmo que consegue lidar com complexidade. Agora é membro da
"tribo" de pessoas que pensam criticamente sobre tecnologia. Bem-vindo.
É oferenda. Este livro é dom (gift), não mercadoria. É online, grátis,
copiável. A economia da dádiva (Cap 28, Mauss) é possível em era digital.
Este livro tenta performá-la.
É mapa parcial. Apêndice G deixa claro: há territórios não mapeados (gênero,
ecologia, neurodiversidade...). Você pode completar o mapa. De fato, precisa
completar — senão ele fossiliza como dogma.
H.6 A Última Ironia: "Última" é Mentira
Chamei esta seção de "última ironia". Mas não é. Haverá mais. Porque:
- Se você compartilhar este livro, gerará novas interpretações que eu (autor)
nunca imaginei. Essas são ironias futuras.
- Se políticas aqui propostas forem implementadas e falharem de formas
inesperadas (inevitavelmente falharão de alguma forma — Lei das Consequências
Não Intencionadas), isso será ironia.
- Se Big Tech adotar linguagem deste livro para greenwash/socialwash ("Nosso
algoritmo agora incorpora valores Ubuntu!"), isso será ironia amarga. Mas também esperada —
captura é inevitável (Cap 31).
- Se eu (autor) for cooptado (convites para palestrar em eventos corporativos, consultoria
para governos autoritários, viro "marca"), isso será ironia suprema. Gramsci e Marx
enfrentaram isso — seus nomes adornam universidades burguesas.
Ironias futuras são garantidas. Porque sistemas complexos são imprevisíveis (Cap 2, cibernética). Porque história é dialética (Cap
1, Marx). Porque comunicação gera mal-entendidos produtivos (Cap
29).
H.7 Então, Terminamos ou Não?
Sim e não.
Sim: Este arquivo HTML tem fim. Linha 10.XXX é última linha de conteúdo. Você
pode fechar o navegador. Seu navegador registrou que você leu 100%. Você pode marcar como
"concluído" no Goodreads.
Não: Ideias não terminam. Elas se propagam, mutam, hibridizam. Você levará
fragmentos deste livro para conversas futuras. Usará conceitos sem lembrar a fonte. Discordará
de partes, desenvolvendo críticas que o melhoram. O livro se dissolve em você, e você se
dissolve no mundo.
Isto é assustador (perda de controle autoral) e libertador (vida após morte textual). Prefiro
libertador.
H.8 Agradecimento Final (Este Sim é Real)
Se você leu até aqui — não apenas scrollou, mas efetivamente leu — obrigado.
Não é gratidão performática. É reconhecimento de que você investiu tempo
(recurso não renovável) e atenção (recurso disputado por capitalismo de
vigilância) neste texto. Em mundo de TikTok e threads de 280 caracteres, ler 10.000+ linhas é
ato de resistência cognitiva.
Você poderia estar fazendo mil outras coisas. Escolheu ler isto. Por quê? Espero
que porque sentiu que valia a pena. Se sim, missão cumprida.
Se não — se achou pretensioso, eurocêntrico demais (apesar das Partes VII-VIII), ou simplesmente
chato — ainda assim, obrigado por tentar. Crítica honesta é dom.
H.8.5 O Loop Backward: Como Este Apêndice Transforma Sua Releitura dos Capítulos
Análise Final (Loop Completo): Você chegou ao fim do livro. Mas este Apêndice H
não é apenas "conclusão" — é convite à releitura transformada. Agora que você
sabe que o loop não fecha (ou fecha-se de forma aberta), como isso muda sua leitura
retrospectiva? Esta seção mapeia o feedback backward: Ap. H → todos os
capítulos anteriores.
Como Ap. H Transforma a Leitura de Cada Parte
⬅️
Releitura Pós-Ap. H: O Que Muda?
Parte I (Caps 0-4): Fundamentos
Antes de Ap. H: Você lê Cap 0 como "instruções de uso" literais.
Depois de Ap. H: Você percebe que Cap 0 já continha ironia — "três
percursos" sugerem linearidade, mas estrutura do livro (hipertexto, apêndices) sempre
foi não-linear. Cap 0 estava mentindo pedagogicamente — começou com
mentira útil (linearidade) para chegar à verdade (rede).
→ Relea Cap 0 percebendo que já era meta-texto desde o
início.
Parte II (Caps 5-8): Teoria Crítica
Antes de Ap. H: Teoria parece "conteúdo neutro" a ser dominado.
Depois de Ap. H: Você percebe que escolha de teorias já era
posicionamento político. Cap 6 (cibernética de 2ª ordem) não é apenas "tema
interessante" — é fundamento epistemológico do livro inteiro. Ap. H usa
cibernética de 2ª ordem (observar-se observando) como método.
→ Relea Cap 6 como chave metodológica, não apenas
tópico.
Parte III (Caps 9-16): Correntes
Contemporâneas
Antes de Ap. H: Caps 9-11 parecem "debate entre escolas marxistas".
Depois de Ap. H: Você percebe que debate não foi resolvido —
Cap 11 (Síntese Informacional) não é "vencedor". É síntese provisória
que você, leitor, deve continuar desenvolvendo. Ap. H torna explícito: não há
ortodoxia final.
→ Relea Caps 9-11 como convite ao debate, não
doutrina.
Caps 12-16 (Plataformização): Antes pareciam
"estudos de caso". Depois de Ap. H, você percebe que são fractais —
cada capítulo (sexo, religião, jogo, corpo, drogas) replica a mesma estrutura
(mercantilização → resistência → ambivalência). Ap. H mostra que repetição é método, não
redundância.
→ Relea Caps 12-16 buscando padrão estrutural comum.
Parte IV (Caps 17-19): Histórias Alternativas
Antes de Ap. H: OGAS e Cybersyn parecem "passado interessante mas
morto".
Depois de Ap. H: Você percebe que são futuros não
realizados — não "fracassos", mas experimentos interrompidos cujos
resultados ainda são desconhecidos. Ap. H (§H.4.2) mostra que história não é linha reta
— há bifurcações. OGAS/Cybersyn são galhos cortados da árvore do tempo,
mas galhos podem ser enxertados de volta.
→ Relea Caps 17-18 como futuros
potenciais, não passados mortos.
Parte V (Caps 20-22): Conjuntura
Antes de Ap. H: Análise de conjuntura parece "atualização de notícias".
Depois de Ap. H: Você percebe que conjuntura é terreno de
disputa onde teoria encontra prática. Cap 22 (necropolítica) não é apenas
"descrição de horror" — é convocação urgente. Ap. H (§H.5) diz: não
espere fim perfeito do livro para agir. Aja enquanto lê.
→ Relea Caps 20-22 como chamado à ação
imediata, não análise distante.
Parte VI (Caps 23-25): Síntese + Propostas
Antes de Ap. H: Cap 24 (Políticas) parece "wishlist utópica".
Depois de Ap. H: Você percebe que cada proposta de Cap 24 já tem
implementações parciais (Ap. E lista recursos). Não é utopia — é
realidade emergente fragmentada que precisa ser conectada. Ap. H
mostra: "utopia" significa "não-lugar", mas lugares existem — só não estão unificados.
Seu papel é conectá-los.
→ Relea Cap 24 como mapa de iniciativas
existentes, não fantasia futura.
Cap 25 (China): Antes parecia "caso especial
distante". Depois de Ap. H, você percebe que China é laboratório vivo de
cibernética de 2ª ordem — experimento em escala 1:1,4 bilhão cujos
resultados são desconhecidos. Ap. H torna explícito: não sabemos se funciona. É
teste em tempo real.
→ Relea Cap 25 como experimento em
andamento, não modelo pronto.
Parte VII (Caps 26-28): Cosmotécnicas Plurais
Antes de Ap. H: Pode parecer "concessão ao multiculturalismo" ou
"exotismo epistemológico".
Depois de Ap. H: Você percebe que Parte VII é crítica radical ao
próprio livro. Nhandereko, Tao, Ubuntu não são "alternativas interessantes"
— são refutações de premissas ocidentais (sujeito/objeto,
natureza/cultura, teoria/prática). Ap. H (§H.2.1) mostra que modelo Ubuntu de
"fechamento" (via abertura relacional) é o que este livro tenta performar —
imperfeitamente, porque autor é ocidental, mas tentando.
→ Relea Caps 26-28 como desconstrução de todo o
livro anterior, não apêndice exótico.
Parte VIII (Caps 29-31): Meta-Reflexões
Antes de Ap. H: Caps 29-31 parecem "conclusões filosóficas".
Depois de Ap. H: Você percebe que eram preparação para Ap.
H. Cap 29 (comunicação constrói realidade) → Ap. H performa isso (ao dizer
"loop não fecha", altera sua experiência do livro = constrói nova realidade). Cap 30
(salto dialético) → Ap. H é o salto (de conteúdo para meta-conteúdo). Cap 31
(ultrarracionalismo) → Ap. H recusa racionalismo do "fechamento limpo", abraça paradoxo.
→ Relea Caps 29-31 como prefácio de Ap.
H, não conclusão independente.
💫 Síntese do Loop Backward: Ap. H não é "fim" — é
lente que transforma tudo anterior. Cada capítulo, relido após Ap. H,
revela camadas ocultas. Você não está "revisando" conteúdo — está lendo livro
diferente, porque você mudou. Isso é feedback cibernético aplicado à
hermenêutica. O livro é sistema dinâmico que muda com o leitor.
Implicação Radical: Ap. H → Cap 0 (Fechando a Fita de Möbius)
Se você realmente internalizar Ap. H e reler Cap 0, algo extraordinário
acontece:
🌀
A Fita de Möbius Completa: Ap. H ⟲ Cap 0
Cap 0 diz: "Este livro tem três percursos: rápido, acadêmico, temático.
Escolha o seu."
Ap. H revela: "Não existe 'percurso' — você
cria sua própria rota ao ler. O livro é hipertexto disfarçado de texto linear."
Releitura de Cap 0 pós-Ap. H: "Ah! Cap 0
estava me dando permissão para inventar minha própria leitura desde o início. Os 'três
percursos' eram exemplos, não prescrições."
Conclusão: Cap 0 e Ap. H dizem a mesma
coisa — só que Cap 0 usa linguagem pedagógica (simplificada) e Ap. H usa
linguagem filosófica (complexa). São os dois lados da fita de Möbius.
Você começou "fora" (Cap 0 = instruções simples), viajou pela superfície (33 capítulos),
e chegou "dentro" (Ap. H = meta-análise complexa) — mas "fora" e "dentro" são o mesmo
lugar.
🔁 Se você
reler Cap 0 agora, estará simultaneamente no início e no fim. A espiral se fecha
sobre si mesma. Mas ao se fechar, abre novo nível. Você não volta ao Cap 0 que leu —
volta a um Cap 0 enriquecido por 33 capítulos + 8 apêndices de experiência.
Convite Final do Loop Backward
Ap. H não "conclui" o livro — convida você a recomeçar. Mas não a reler
passivamente. A reler ativamente:
- Com as lentes de Ap. G (Mapa Mental): Veja as conexões ocultas entre
capítulos
- Com as perguntas de Ap. H (esta seção): Questione cada afirmação — "Isso
fecha o loop ou abre novo?"
- Com os recursos de Ap. E: Teste as propostas na prática enquanto relê a
teoria
- Com as cronologias de Ap. C: Veja causalidades históricas que eram
invisíveis na primeira leitura
Resultado: Segunda leitura não é repetição — é iteração. Você
está rodando o algoritmo de novo, mas com estado inicial diferente (você mudou). Output será
diferente. E terceira leitura será ainda mais diferente. O livro é fractal — cada zoom
revela novo nível de detalhe.
💡 Meta-Lição de Ap. H: "Fim" não existe em sistemas cibernéticos abertos.
Existe pausa temporária antes da próxima iteração. Você pausará agora (vai
fechar o navegador, comer algo, dormir). Mas ideias continuarão processando em background. E
quando você menos esperar, uma conexão surgirá: "Ah! Cap 14 sobre gamificação se conecta com Cap
29 sobre comunicação performática!" Esse é o loop trabalhando. Você não
controla. Apenas observa e agradece. 🌀
H.9 A Não-Conclusão Conclusiva
Não vou resumir 33 capítulos aqui. Se você leu tudo, não precisa. Se pulou direto para o final,
resumo não ajudará — volte e leia (Cap 0 explica como navegar).
Não vou dar "mensagem final inspiradora". Você não precisa de inspiração barata. Precisa de
ferramentas conceituais (já fornecidas) e comunidade de luta
(você deve construir, não eu).
Não vou dizer "a revolução começa agora!". Porque começou há séculos (Spartacus, Zanj, Haitian
Revolution, Canudos, Outubro de 1917, Cybersyn 1971, Zapatistas 1994, ...) e nunca "terminou" —
é processo contínuo. Você se junta ao processo ou não. Sua escolha.
O que vou dizer:
O loop não fecha. E está tudo bem.
Sistemas abertos não tendem ao equilíbrio. Tendem à complexidade crescente. O
que parece caos é, na verdade, ordem emergente de nível superior.
Este livro não te deu respostas definitivas. Te deu perguntas melhores.
Perguntas que você levará para o mundo, testará, refinará, compartilhará.
Ava Reko. Ubuntu. Jopói.
Você é pessoa porque nós somos pessoas.
Eu sou porque nós somos.
Reciprocidade é a lei.
Este livro só existe porque você o leu.
E ao lê-lo, você o recriou.
E ao recriá-lo, você se recriou.
E ao se recriar, você recria o mundo.
O loop não fecha.
A espiral continua.
Oguatá Porã. Caminhemos bem.
Juntos. Em muitas direções ao mesmo tempo.
∞
O símbolo de infinito é um loop
que nunca fecha.
Um 8 deitado. Ou dois círculos entrelaçados.
Ou a fita de Möbius
— dentro é fora, começo é fim.
Este livro é uma fita de
Möbius.
Você chegou ao fim, que é o começo.
[ Fim da transmissão. Ou início da próxima iteração. Você decide. ]
H.10 Sobre o Processo de Expansão via Feedback Loop
Este livro não foi escrito de uma vez e declarado completo. Ele cresceu — e continua crescendo —
através de ciclos iterativos de feedback. A versão que você lê agora incorpora expansões feitas
após a publicação inicial, preenchendo ausências identificadas por leitores, críticos e pelo
próprio autor em processo de autocrítica.
Aplicamos a própria técnica cibernética estudada no livro:
ANÁLISE DE COERÊNCIA → ANÁLISE APROFUNDADA → ANÁLISE FINAL →
ANÁLISE FINAL → ANÁLISE APROFUNDADA → ANÁLISE DE COERÊNCIA
1. Gênero e patriarcado digital (§G.7.1): Adicionados boxes nos Caps 1, 3, 8, 9, 12, 21, 24.
Novos termos no glossário, biografias de Hester, Russell, Plant. Nova rota de leitura feminista.
2. Ecologia digital e materialidade (§G.7.2): Adicionados boxes nos Caps 3, 14, 21, 22, 24. Novos
termos (pegada de carbono, e-waste, necro-ecologia). Biografias de Crawford, Mattern, Parikka.
Rota ecológica.
3. Neurodiversidade e deficiência (§G.7.3): Adicionados boxes nos Caps 6, 14, 15, 21, 24. Novos
termos (neurodivergência, crip theory, desenho universal). Biografias de Baggs, Walker, Brown,
Kafer, Hamraie. Rota acessível.
4. Perspectivas asiáticas não-chinesas (§G.7.4): Novos termos no glossário (ahimsa, karma, ma,
wabi-sabi). Bibliografia expandida. (Expansão dos capítulos ainda em processo.)
Todo conhecimento é situado, todo autor tem pontos cegos. A questão não é se temos lacunas, mas
se as reconhecemos e criamos mecanismos para preenchê-las coletivamente. Este livro é licenciado
sob Creative Commons BY-SA exatamente para isso: você pode (e deve) expandi-lo, corrigi-lo,
traduzi-lo, remixá-lo.
Ao mapear ausências, descobrimos ausências sobre ausências. Ao preencher lacunas, criamos novas
lacunas. Isso poderia ser paralisante — um loop infinito de autocrítica. Mas não é. É recursão
produtiva: cada iteração não volta ao mesmo ponto, mas ascende em espiral.
A primeira análise de coerência identifica ausências óbvias (gênero, ecologia). A primeira
análise aprofundada revela conexões (trabalho reprodutivo subsidia acumulação digital). A
segunda análise final refina (criar rota de leitura feminista). A segunda análise aprofundada
integra (conectar gênero com ecologia e neurodiversidade via interseccionalidade). E assim por
diante.
O mapa nunca será o território. O livro nunca será totalmente completo. E isso não é defeito — é
condição de possibilidade de crescimento orgânico.
Se você identificou ausências adicionais, contribua. Se discorda de como preenchemos lacunas,
proponha alternativas. Se tem experiência prática que poderia informar análise, compartilhe. O
repositório do conhecimento está aberto.
Bem-vindo ao loop. Você está dentro dele enquanto o lê. E ao terminar, o loop não termina — ele
continua em você, que pode contribuir para a próxima iteração.
---
⚡ Resistência em Código
Crítica prática da automação capitalista.
🎯 CAPTCHA Anti-Algorítmico
Um sistema que humanos passam e bots falham:
function verifyCaptcha(userSelection) {
const chaotic = userSelection.filter(shape =>
Math.abs(shape.chaosLevel) > 0.5 // Extremos do espectro
);
return chaotic.length >= 3; // Sucesso se selecionou caos
}
💡 Por que funciona: Humanos reconhecem movimento caótico
intuitivamente.
Algoritmos de ML treinam para padrões previsíveis. O caos genuíno é sua kryptonita.
Testar CAPTCHA ➜
⚛️ Sistema Ternário Balanceado
Contador de bloqueio que performa temporalidade:
--------
Totalmente bloqueado (passado)
--00----
Transição
----00--
Meio termo
------00
Quase livre
++++++++
Totalmente liberado (futuro)
💡 Por que importa: Usa base 3 (-1, 0, +1) para representar estados.
Não é apenas "contador" - é performance da dialética entre bloqueio e liberação.
🛡️ Outras Técnicas
- Opacidade estratégica: Ofuscação criativa do código (não segurança,
mas resistência)
- Honeypots filosóficos: Endpoints falsos que testam se agente
"pensa"
- Temporalidade forçada: Delays que exigem paciência humana
- Captologia subversiva: Gamificação anti-vício (recompensa por
desconectar)
Leia mais em:
Documentação
Técnica